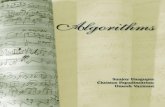dossie_rapadura
-
Upload
rayner-paula-da-silva -
Category
Documents
-
view
142 -
download
2
Transcript of dossie_rapadura
DOSSI TCNICOProcessamento da Rapadura Marcelo Rodrigo Mendona do Nascimento CDT/UnB
Agosto de 2007
DOSSI TCNICOSumrio 1. Introduo.............................................................................................................................2 2. Valor nutritivo da rapadura ...................................................................................................4 3. Processo de fabricao da rapadura....................................................................................5 4. Etapas da produ/fabricao da rapadura..........................................................................6 5. Descrio das etapas de produo da rapadura .................................................................7 6. Equipamentos usados na fabricao da rapadura ...............................................................8 7. Fluxograma do processo produtivo .....................................................................................8 8. Cadeia Produtiva ..................................................................................................................9 9. Principais elos envolvidos na cadeia produtiva ..................................................................10 10. Remunerao da cadeia produtiva da rapadura ..............................................................11 11. Analise da cadeia produtiva da rapadura .........................................................................12 12. Comercializao e Exportao .........................................................................................13 13. Perspectivas da evoluo dos mercados .........................................................................14 14. Mercado externo: obstculos a superar ..........................................................................15 15. Pontos fortes e fracos do setor rapadureiro .....................................................................17 Concluses e recomendaes ...............................................................................................18 Referncias.............................................................................................................................19 Anexos....................................................................................................................................20 1. Fornecedores de mquinas ................................................................................................20 2. Legislao .........................................................................................................................21
1 Copyright Servio Brasileiro de Respostas Tcnicas - SBRT - http://www.sbrt.ibict.br
DOSSI TCNICOTtulo Processamento da Rapadura e o passo a passo para Exportao Assunto Fabricao de acar em bruto Resumo Informaes sobre o processo produtivo da rapadura, as matrias-primas envolvidas, maquinrio, legislao, fornecedores e procedimentos necessrios para exportar o produto. Palavras chave Rapadura; doce; caldo; cana-de-acar; mel; fabricao; engenho; Contedo 1. Introduo A rapadura um produto slido, de sabor doce, obtido pela concentrao quente do caldo da cana-de-acar, sua principal matria-prima, sendo o seu ponto final conseguido por desidratao do caldo em torno de 92 Brix. Ela tem sabor e odor agradvel e caracterstico, alm de elevado valor alimentcio. Segundo o Instituto Centro de Ensino Tecnolgico (2004), ela muito rica em vitaminas e sais minerais como potssio, clcio, e ferro, alm de ter caractersticas de produto natural e orgnico. Tradicionalmente consumida pela populao do Nordeste brasileiro, em especial no serto, a rapadura substitui outros produtos graas ao seu valor comercial e nutritivo. O produto, feito de mel de engenho dado certo ponto, algumas vezes tambm chamado de "raspadura" (originada do verbo raspar), originou-se da raspagem das camadas espessas de acar presas s paredes dos tachos utilizados para a fabricao do mesmo, e depois moldadas em frmas semelhantes s de tijolos. Com o passar do tempo, recebeu alguns requintes como a adio de amendoim, gergelim e castanhas de caju. A fabricao da rapadura teve incio no sculo XVI, nas Canrias, ilhas espanholas do Atlntico. Desde aquela poca, a rapadura no foi to-somente considerada uma guloseima, mas sim, uma soluo prtica para o transporte de alimento em pequena quantidade e individualizado. O acar propriamente dito no resistia a problemas de umidade, alm de menor durabilidade. No Brasil, a rapadura surgiu no mesmo sculo com os primeiros engenhos de cana-deacar. Logo ganhou estigma de comida de pobre e no passado era predominantemente consumida pelos escravos e mesmo hoje s eventualmente freqenta as mesas mais fartas.H registro da fabricao de rapadura, em 1633, na regio do Cariri, Cear. Os engenhos de rapadura eram pequenos e rudimentares. Possuam apenas a moenda, a fbrica, onde ficavam as fornalhas, e as plantaes de cana que, normalmente, dividiam o espao com outros tipos de cultura de subsistncia. Os grandes engenhos tambm fabricavam rapadura, mas no para fins comerciais. O2 Copyright Servio Brasileiro de Respostas Tcnicas - SBRT - http://www.sbrt.ibict.br
produto era utilizado apenas para consumo dos habitantes locais. A cana usada para fabricar a rapadura no Brasil, at o sculo XIX, era a crioula. Surgiu depois a caiana, mais resistente a pragas, aparecendo, posteriormente, diversas variedades, como a cana rosa, fita, bambu, carangola, cabocla, preta, entre outras. No incio, as moendas eram de madeira, movidas a gua (onde havia abundncia do lquido) ou trao animal (cavalos e bois). No sculo XIX, surgiram as moendas de ferro, usando-se ainda o mesmo tipo de trao. Depois os engenhos evoluram passando a ser movidos a vapor, leo diesel e finalmente a eletricidade. Por ter um mercado reduzido, em comparao com o do acar, a produo tinha um carter regional, no sendo necessria a sofisticao exigida para fabricar o acar que era exportado. At hoje produz-se rapadura no Brasil com mtodos e tcnicas rudimentares. No houve a introduo de inovaes no processo produtivo nem diversificao de produtos. No Nordeste do Brasil, os engenhos de rapadura em atividade so, na sua maioria, unidades antigas, com vrios anos de existncia. Sua produo sazonal, feita em geral nos meses de julho a dezembro, ou seja, no perodo de estiagem no Agreste e Serto. Os Estados do Cear, Pernambuco e Paraba so os maiores produtores, existindo tambm produo significativa nos Estados do Piau, Alagoas e Bahia. No Cear, destacam-se as regies do Cariri e da Serra do Ibiapaba. Em Pernambuco, os engenhos de rapadura concentram-se no Serto, sendo os municpios de Triunfo e Santa Cruz da Baixa Verde os maiores produtores. Na Paraba, os dois grandes plos so a regio do Brejo e o Serto. A rapadura est presente na mesa do sertanejo. o adoante do caf, do leite, da coalhada. consumida com farinha, mungunz, carne de sol, paoca, cuscuz, milho cozido. No h casa sertaneja sem farinha e rapadura. Os curandeiros tambm a usavam como adoante do leite de cabra para os "fracos-do-peito", bebido de manh cedo, misturado com mastruz esmagado e azeite quente, para curar lceras e frieiras, alm de consider-la fortificante. O consumo da rapadura manteve-se no Nordeste, mesmo tendo que enfrentar a concorrncia do acar e de outros adoantes, principalmente nas regies semi-ridas, porm um mercado hoje em declnio. Nas cidades de grande porte da regio a rapadura comercializada, principalmente, nas feiras livres e em menor escala em grandes cadeias de supermercados. So Paulo tornouse tambm um consumidor que merece destaque, devido aos migrantes nordestinos. A rapadura vem sendo introduzida, ultimamente, na merenda escolar de vrios municpios, e nas cestas bsicas distribudas s famlias pobres pelo Governo. O consumo da rapadura no Brasil de 1kg por habitante/ano. O maior consumidor mundial a Colmbia, com a marca de 25kg por habitante/ano, alm de ser tambm primeiro pas produtor de rapadura na Amrica e o segundo do mundo depois da ndia. Diversas especialidades da medicina reputam a rapadura como um alimento riqussimo em calorias. Cada 100 gramas tm 132 calorias - ou seja: 200 gramas eqivalem em energia a um prato de talharim de ricota. Com base nas informaes, o objetivo demonstrar alguns dados importantes como, os custos de produo e de vendas da rapadura ao longo da cadeia produtiva, os valores agregados ao produto, a parcela retida por cada elo da cadeia, bem como fornecer ao leitor medidas eficientes para melhorar a atividade, alm de informaes referente exportao e outros fatores importantes para o setor rapadureiro.3 Copyright Servio Brasileiro de Respostas Tcnicas - SBRT - http://www.sbrt.ibict.br
2. Valor Nutritivo da rapadura
TAB. 1 Valor nutritivo da rapadura. Fonte: Disponvel em: .
Conforme tabela 1, para um produto ser comercializado deve em primeiro lugar esboar a qualidade que possui, e em seguida os benefcios que ir proporcionar aos seus usurios. Em se tratando da rapadura que um produto que faz parte da cadeia alimentar, buscamos apresentar todas as suas qualidades nutritivas a fim de proporcionar o leitor que desconhece seus benefcios, informaes tcnicas aprofundada, para que o mesmo possa fazer uso sem nenhuma restrio. Segundo pesquisa realizada pelo Instituto Centro de Ensino Tecnolgico do Brasil CENTEC (2004), a rapadura um alimento riqussimo em calorias, chegando cada 100 gramas a ter 132 calorias. um produto energtico e de boa aceitabilidade, sendo recomendada como alimento essencial ao desenvolvimento humano por conter carboidratos, sais minerais, protenas e vitaminas. A mesma pode se enquadrar nas dietas saudveis, por apresentar em sua composio elementos minerais fundamentais para uma nutrio balanceada. Ela fornece as calorias necessrias que o organismo exige, alm do que, apresenta uma grande vantagem em relao a outros alimentos industrializados que o baixo custo. um alimento bem tolerado por recm nascidos, porque ajuda a evitar a formao de gazes e previne a constipao, por apresentar ao laxante. O ferro contido na rapadura previne a anemia e por ser facilmente assimilvel, contribui para manter estvel o nvel de4 Copyright Servio Brasileiro de Respostas Tcnicas - SBRT - http://www.sbrt.ibict.br
hemoglobina, que primordial no transporte de oxignio para as clulas. O ferro tambm fortalece o sistema imunolgico da criana e previne enfermidades do sistema respiratrio e urinrio; o magnsio fortalece o sistema nervoso infantil. O potssio indispensvel para uma boa atividade celular, mantm o equilbrio cido-base e combate a acidez excessiva; o clcio contido na rapadura ajuda na formao de boa dentio, ossos mais fortes, assim como na preveno de cries nas crianas, ajudando ainda a evitar enfermidades articulares, como osteoporose que se apresenta na fase adulta. Portanto, de um modo geral a populao infantil e adulta alimentada com rapadura no apresenta casos de glutonaria e fome, como sucede as dietas a base de acares refinados e farinhas brancas. As demais vitaminas so indispensveis para o metabolismo humano. 3. Processo de Fabricao da Rapadura O processo de produo da rapadura realizado em engenho, o que representa uma volta ao passado, precisamente no perodo Colonial caracterizado por um baixo nvel tecnolgico, onde o transporte da cana entre as plantaes e o engenho era feito apenas no lombo do burro e a fonte de energia mais utilizada era a lenha. Alguns equipamentos ainda representam uma volta no tempo, como moendas, tanques, fornalhas, tachos, gamelas e frmas. Estes engenhos passados de gerao a gerao existem a mais de cem anos e conservam algumas caractersticas originais e marcantes, embora a produo diria no justifique o atraso no qual ainda hoje vivem mergulhados. A matria-prima e a moenda a serem utilizadas na produo da rapadura so as mesmas empregadas no processo de produo da cachaa. A cana-de-acar deve ser bem despontada e o palmito totalmente retirado. Deve tambm se apresentar limpa, a partir da retirada de todas as folhas laterais dos colmos que, depois de cortados e transportados, devero ser mantidos em galpes cobertos, cujo piso no venha a sujar a cana com a terra. Procede-se, ento, a moagem dos colmos, tomando-se o cuidado de ajustar bem os componentes da moenda, possibilitando um bom rendimento do caldo. Em mdia, se consegue extrair cerca de 500 litros de garapa para cada tonelada de cana-deacar moda, que rendero de 70 a 100 kg de rapadura, ou de 100 a 150 rapaduras de 650 gramas cada. O caldo extrado deve ser peneirado com peneira de malha fina, de inox, cobre ou mesmo nylon, para a retirada das impurezas grosseiras. Aps este processo, o caldo deixado em repouso por aproximadamente 15 minutos para decantao das impurezas remanescentes, antes de ser colocado nos tachos de cobre para ser aquecido. No momento do aquecimento outras impurezas emergem e devem ser retiradas com o auxlio de uma concha ou de uma escumadeira. importante salientar que a retirada das impurezas (folhas, bagacilho, protenas coaguladas e ceras, dentre outras) crucial para a produo de uma rapadura de qualidade e de colorao mais clara e atrativa. Esta remoo deve ser feita de forma completa, cuidadosa e contnua at que o caldo comece a ferver. Na fase de fervura do caldo, algumas impurezas se aglutinam nas partes mais frias do tacho, j que durante o processo o fogo no apresenta uma chama uniforme. Deve-se ficar atento para que estas impurezas sejam totalmente removidas. O caldo entra, ento, na fase de perda contnua de gua, transformando-se num lquido cada vez mais amarelado e espesso. Quando se vai atingindo esta fase final, o uso de um termmetro pode indicar o trmino do cozimento. Em geral, o final do cozimento se processa entre 114 e 120 C. Genericamente, as pequenas propriedades no possuem termmetros e os produtores de rapadura visualizam o momento final do cozimento atravs da obteno do ponto de bala, procedimento que se consiste na adio de algumas gotas do xarope em um prato de gua fria. Ao ser manuseada, a massa resultante vai tomando a consistncia de bala. Este um dos sinais de que o cozimento chegou ao final, alm do descolamento fcil da massa das laterais e do fundo do tacho. Aps o final do cozimento, a massa cozida retirada do tacho com o auxlio de uma concha e colocada em cochos de madeira, e agitada com o uso de uma rgua de madeira ou deCopyright Servio Brasileiro de Respostas Tcnicas - SBRT - http://www.sbrt.ibict.br
5
uma esptula, at que atinja condies de se modelar a rapadura. Na fase de resfriamento que so acrescentadas substncias que podem agregar valor ou, simplesmente, diferenciar o produto final. Os principais produtos acrescidos massa so: amendoim, coco, mamo, abbora, leite, dentre outros. No caso do amendoim e do coco, os mesmos devero ser torrados antes de sua adio massa da rapadura em sua fase de resfriamento. No caso da abbora e do mamo, estes devem ser primeiramente ralados. Com o auxlio de uma concha, a massa transferida para formas que conferem a modelagem do produto. Aps o resfriamento, a rapadura deve ser embalada de forma a no deixar que fique ar entre sua superfcie e a embalagem, para no haver perda de qualidade do produto final. Atualmente, a rapadura comercializada em formato de tijolos, normalmente de 600 a 1200 gramas, ou de tabletes de 25 a 50 gramas, embalados em caixinhas de papelo, filmes plsticos e em papel de bala, que se constituem em uma opo moderna de consumo do produto. Para a embalagem do tijolo so utilizados sacos plsticos ou caixa de papel tipo triplex. Para um consumo mais rpido, recomendado o uso da embalagem plstica mas, para um perodo maior entre a produo e a comercializao, podem ocorrer bolores na superfcie da rapadura. Na hora de comercializar, o produtor de rapadura deve tomar algumas iniciativas, hoje exigidas pelo mercado consumidor. Assim, as rapaduras devem ser embaladas individualmente, constando no rtulo todas as informaes exigidas pelos rgos responsveis pela fiscalizao de produtos alimentcios, a exemplo do nome do fabricante, datas de produo e validade, composio bsica, etc. Em relao conservao, importante que as rapaduras fiquem em locais ventilados e secos, distantes do piso dos depsitos e de suas paredes, normalmente em prateleiras de madeira. A m remunerao de colaboradores, explicada em certos momentos pela falta de um mercado consumidor certo, e pela falta de qualidade na produo de rapaduras de acar elaboradas por pessoas que no detm conhecimento de matria-prima de qualidade, um dos fatores negativos para que o processo da rapadura no seja valorizado. Outro fator que importante de relevar que as rapaduras que imitam as tradicionais feitas com cana, saem bem mais rentveis porque no precisam de tanta gente para produz-las, alm de consumir menor tempo que as de cana. Para se produzir rapadura em escala comercial necessrio adoo de um conjunto de procedimentos referentes higiene e tambm o planejamento no que se refere matriaprima e pessoal. Caso o engenho seja grande com produo de 40 cargas por dia, necessrio cerca de 14 pessoas, enquanto que num engenho de pequeno porte com capacidade de 15 cargas trabalha-se com 6 a 8 pessoas para garantir a produo.
4. Etapas de Produo/Fabricao da Rapadura
6 Copyright Servio Brasileiro de Respostas Tcnicas - SBRT - http://www.sbrt.ibict.br
Fonte: Disponvel em:
5. Descrio das etapas de produo da rapadura COLHEITA: a poca de corte da cana que deve ser cortada na quantidade a ser usada no perodo mximo de uma semana de intervalo entre o corte e a moagem. LIMPEZA: retirar a parte superior da cana que servir para o replantio ou alimentao para o gado. Retirar as palhas secas e lavar com bastante gua corrente para retirar as sujeiras nela contidas. TRANSPORTE: realizado em carros-de-boi, mulas, tratores ou caminhes, dependendo da regio.7 Copyright Servio Brasileiro de Respostas Tcnicas - SBRT - http://www.sbrt.ibict.br
EXTRAO DO CALDO DE CANA: aps a moagem da cana de acar atravs da prensagem na moenda separada a garapa (caldo) do bagao e levada para o primeiro tacho atravs de um cano de pvc, onde realizada uma pr-limpeza que a retirada, atravs de peneira, das sujeiras da garapa como bagacilho e palha. O pr-aquecimento o inicio da fervura do caldo, que de forma lenta facilita a limpeza da garapa utilizando produtos como cal, mamona, soluo de mutamba e branquite. PR-CONCENTRAO: com a garapa clarificada, faz-se a pr-concentrao, com fervura constante e intensa, para evaporao da gua da garapa, at atingir o ponto de mel, mexendo rpido. Em seguida o mel remanejado de tacho em tacho at o ltimo onde se realiza a concentrao final. CONCENTRAO FINAL: a etapa onde o mel concentrado at atingir o ponto de rapadura (temperatura de 110C com 92 BRIX). GAMELA DE BATIMENTO: quando o mel atinge o ponto, o tacho (caldeira) transferido e derramado numa grande gamela de madeira, mexido rpido e jogado nas laterais com uma esptula de madeira at o inicio da cristalizao, o qual se d quando o mel diminui de volume, ou seja, quando ocorre o que se chama morte do mel. ENFORMAGEM: aps o batimento, a rapadura, ainda em processo de cristalizao, colocada em frmas de madeira com formato e peso desejados ficando em local ventilado, por cerca de 1 (uma) hora para total resfriamento. DESENFORMAGEM, EMBALAGEM E ARMAZENAGEM: aps o resfriamento as rapaduras devem ser desenformadas sobre mesas e embaladas de acordo com a preferncia do produtor. O armazenamento normalmente feito sobre estrados de madeira, cobertos com lonas ou esteiras de palha. 6. Equipamentos usados na Fabricao da rapadura 1. Engenho ou moenda conforme dimenses do produtor; 2. Um motor eltrico trifsico; 3. Uma fornalha artesanal; 4. Um tanque de alvenaria azulejado com gua encanada; 5. Uma bomba para bombeamento da garapa (caldo), opcional; 6. Tachos (caldeiras) de cobre ou ferro batido conforme a regio, o nmero e o tamanho dependem do produtor; 7. Gamela grande de madeira, tamanho de acordo com o engenho; 8. Gamelas pequenas (para batida); 9. Formas de madeira (tamanho e frmas definidas pelo produtor); 10. Mesas de madeira, grande (tamanho e altura definidos); 11. Esptulas de madeira de vrios tamanhos; 12. Passador (cuia ou bacia furada presa numa vara); 13. Peneiras; 14. Cuias ou bacias para mexer o mel e a garapa (caldo); As dimenses dos diversos utenslios so dependentes do tamanho do engenho e da quantidade de cana nele trabalhada. 7. Fluxograma do Processo Produtivo CORTE DA CANA RECEPO E LIMPEZA DECANTAO E FILTRAGEM PURIFICAO E LIMPEZA CONCENTRAO DO CALDO 8 Copyright Servio Brasileiro de Respostas Tcnicas - SBRT - http://www.sbrt.ibict.br
DETERMINAO DO PONTO RESFRIAMENTO / MEXEDURA / CRISTALIZAO MOLDAGEM EMPACOTAMENTO / PESAGEM / ROTULAGEM ARMAZENAMENTO 8. Cadeia Produtiva Teve surgimento na Frana, na dcada de 1960, na Escola Francesa de Organizao industrial, o conceito de filire (fileira=cadeia) aplicado ao Agronegcio. Para BATALHA (2002), uma cadeia definida a partir da identificao de determinado produto final. Aps esta identificao, cabe ir encadeando de montante a montante, as vrias operaes tcnicas, comerciais e logsticas, necessrias a sua produo. De acordo com ZYLBERSZTAJN, Farina & Santos (1993), Cadeia produtiva definida como uma seqncia de operaes interdependentes que tm por objetivo produzir, modificar e distribuir um produto. Conforme conceitos citados, caracterizaremos abaixo a cadeia produtiva da rapadura:
Fonte: Disponvel em: 9 Copyright Servio Brasileiro de Respostas Tcnicas - SBRT - http://www.sbrt.ibict.br
9. Principais Elos Envolvidos na Cadeia Produtiva Produtores rurais so os que conduzem as atividades produtivas desde a preparao do solo at a obteno dos produtos in natura para a comercializao. Intermedirios so pessoas que iniciam os caminhos que sero percorridos pelos produtos, coletando diretamente nas propriedades rurais. Mercado dos produtores um centro abastecido para comrcio, onde predominam intermedirios secundrios, concentradores (intermedirios de grande porte que visam mercados maiores e mais distantes). Supermercados so estabelecimentos, com diversos departamentos, que tornam as compras mais facilitadas ao consumidor, pois este encontra vrios itens em um s local. Como geralmente demandam grandes quantidades de produtos, tm poder de barganha junto aos seus fornecedores. Agentes Governamentais Tm grande poder de deciso e de barganha junto aos seus fornecedores por demandar grandes quantidades de produtos. O mini-tablete de rapadura, por exemplo, pode ser inserido na Merenda Escolar atravs das Secretarias de Educao e de Desenvolvimento Social e em programas de desnutrio infantil no caso das Secretarias de Sade. Ainda h outros agentes tais como: agroindstrias, representantes, distribuidores, atacadistas, centrais de abastecimentos e bolsas de mercadorias, os quais no esto contemplados em nosso estudo.
10. Remunerao da Cadeia Produtiva da Rapadura10 Copyright Servio Brasileiro de Respostas Tcnicas - SBRT - http://www.sbrt.ibict.br
Fonte: Disponvel em: 11 Copyright Servio Brasileiro de Respostas Tcnicas - SBRT - http://www.sbrt.ibict.br
11. Anlise da Cadeia Produtiva da Rapadura A tabela acima mostra a partir dos custos de produo e das vendas da rapadura os valores agregados ao produto e a parcela retida por cada elo da cadeia produtiva em reais e em percentuais, desde o produtor rural ao consumidor final. Usamos a abreviatura PF indicando o preo final correspondente a 1 kg de rapadura pago pelo consumidor (R$ 4,00) para facilitar o estudo, pois o mesmo se repete vrias vezes. Para acharmos o custo de 1 kg de rapadura produzida pelo produtor rural (R$0,59), somamos os custos de produo da cana (R$ 0,37) mais os custos de produo da rapadura (R$ 0,22), este ltimo representando 6% do PF. Na produo da cana foram alocados R$ 0,09 em servios, R$ 0,13 em insumos e R$0,15 na compra de equipamentos, em sua maioria EPIs, equipamentos individuais de proteo, totalizando 9% do PF. No houve beneficiamento da rapadura por parte do produtor. O mesmo agregou R$0,41 ao seu custo de produo, representando 10% do PF e um lucro de 41%, totalizando R$ 1,00 correspondente ao preo de venda repassado ao intermedirio. Este, por sua vez, agregou ao custo de aquisio de matria-prima R$0,07 de servios referentes mo de obra direta e custo de transporte para aquisio da mercadoria, R$0,09 em embalagens e uma margem de lucro de 12,78% (R$ 0,17), totalizando R$1, 33, preo repassado indstria. Juntos, servios, embalagem e lucro representam 8% do PF. Na industrializao h um maior beneficiamento da rapadura. A matria-prima processada em uma mquina de alta rotao por minuto e cortada em pedacinhos de 12/25/50 ou 100g. Em seguida embaladas individualmente e acondicionadas de maneira adequada para que no haja perdas por atritos no manuseio e para manter a qualidade do produto, bem como, tornar visualmente mais atrativo. Neste beneficiamento foram agregados aos custos de aquisio da matria-prima, R$0,23 de servios (M.O.D), R$0,59 de embalagens e R$0,11 referente a outros custos como a energia utilizada pela mquina na produo dos mini-tabletes. Devido indstria no possuir medidor de energia especfico para a mquina e no haver uma base de rateio para calcularmos o custo dessa energia foi-se acrescido 5% no total dos custos. Somando-se o custo de aquisio da matria prima R$ 1,33 com R$0,93 que representa 24% do PF referente aos custos de servio, embalagem e outros custos, totalizam R$ 2,26 mais R$ 1,74, lucro que representa 43,5% do PF, tem-se um valor pago pelo consumidor de R$ 4,00/kg de mini-tablete de rapadura. Tal fato relevante, mas precisa ser considerado que a indstria comercializa 60% de sua produo junto a usinas ou empresas agrcolas, onde o produto consumido por pessoas que esto expostas durante muito tempo ao sol e precisam repor energia e 30% direcionado merenda escolar negociando preos mais elevados por no haver concorrncia na regio, podendo no refletir uma mesma situao para outras empresas que comercializam a rapadura sem o seu beneficiamento e que no direcionam ao mesmo pblico alvo. Somente 10% dos produtos so comercializados em redes de supermercados. Segundo o produtor da Cidade de Triunfo, nos meses de Janeiro a Maro ocorre a intersafra, perodo em que ocorre acentuada queda na produo da rapadura, tendo como conseqncia aumento no valor da sua aquisio e o aparecimento de outro elo na cadeia produtiva o atravessador ou dono de depsito aquele que estoca a mercadoria para ser vendida a preos elevados neste perodo, no sendo objeto de estudo em nosso trabalho. Reafirmando que, a cadeia produtiva deve funcionar de forma integrada de maneira a proporcionar benefcios mtuos, levando em considerao fatores que interferem na cadeia e conseqentemente na remunerao da mesma, realizamos uma anlise do estudo de caso de uma nova cadeia produtiva da rapadura.Copyright Servio Brasileiro de Respostas Tcnicas - SBRT - http://www.sbrt.ibict.br
12
Havendo uma supresso de um dos elos da cadeia, no caso, o intermedirio (atravessador), parte dos seus custos seriam transferidos para o produtor rural e para a indstria. Desse modo, o produtor rural que antes no beneficiava seus produtos agora passa a benefici-los agregando valores tais como, utilizao de embalagens e rtulos, melhorando assim, a qualidade e apresentao de seus produtos. Por sua vez, a indstria comea atuar como coordenadora de sua prpria cadeia exigindo padres de qualidade do produtor como condio de uma negociao direta. Assim, a indstria que anteriormente comprava sua matria-prima em Petrolina do intermedirio, passa a busc-la diretamente na fonte produtora. A tabela abaixo mostra os benefcios dessa mudana de cenrio. Com o beneficiamento da rapadura, houve um acrscimo de 16,95% nos custos totais do produtor e um aumento de 18 % no preo de venda. Em conseqncia desta operao, o lucro que antes era de R$ 0, 41, passou a ser R$ 0, 49, totalizando um incremento de 19,51%. Incremento da Rapadura
TAB. 2 . Custos Fonte: Disponvel em:
Para a indstria, a reduo no custo de aquisio da matria-prima que era de R$ 1,33/kg passou a ser R$ 1,18/kg o que compensa a compra direta na fonte, pois haver um decrscimo nos custos de produo de 3,98%, mesmo absorvendo o custo do transporte que antes era do intermedirio. Essa reduo no custo de produo tambm proporcionou um acrscimo de 5,17% no lucro, o qual poder ser repassado para o consumidor final mediante a reduo de 2,25% no preo de venda, o que garante o mesmo lucro inicial de R$ 1,74 correspondente a 44,5% do novo PF. A nova coordenao na cadeia pode garantir a satisfao de todos os elos promovendo uma maior margem de contribuio para o Produtor Rural, a satisfao do consumidor final pela reduo do preo, alm do que, poder proporcionar a Indstria uma maior demanda devido a este novo cenrio. 12. Comercializao e Exportao Conforme j adiantado anteriormente, de uma maneira geral, o quadro da comercializao da rapadura ainda bastante difcil para os produtores, ficando os mesmos sob o domnio do capital comercial em diferentes instncias. A otimizao da produo e a carncia de capital de giro, em geral, levam os produtores a comercializarem a rapadura nos prprios engenhos aos atravessadores que, em geral semanalmente, por l passam coletando o produto, sendo eles pequenos comerciantes, ou, alguns, de maior porte que em caminhes carregam algumas toneladas de rapadura e abastecem uma determinada regio. As vendas so feitas em geral a prazo (30 dias em mdia), observando-se grande flutuao de preos entre a safra e a entressafra. Pressionados pela carncia de capital de giro, os produtores desfazem-se da produo no perodo de safra, transferindo assim aos13 Copyright Servio Brasileiro de Respostas Tcnicas - SBRT - http://www.sbrt.ibict.br
comerciantes razoveis ganhos auferidos com a venda a preos mais elevados na entressafra, conforme j referido. Para melhor caracterizar o aspecto comercializao, vale aqui reproduzir os dados de pesquisa realizada pelo SEBRAE em outubro de 1995 entre os produtores de Triunfo e Santa Cruz da Baixa Verde, que retratam uma situao semelhante s encontradas no Cear e na Paraba. Segundo o relatrio desta pesquisa (CASTRO, 1996), um dos aspectos negativos, em termos mercadolgicos, observados naquela regio a reduzida diversificao de produtos com concentrao esmagadora em rapadura dura e mel de engenho, sendo que de 255 engenhos apenas 21 produziam rapadura batida, 4, rapadura granulada, 3 rapadura triturada e 1 nico engenho produzia acar mascavo. Observou-se tambm que o mercado em cerca de 50% dos casos era circunscrito ao prprio municpio e municpios vizinhos, sendo que 19% dos produtores conseguiam enviar para fora do Estado de Pernambuco pelo menos 50% de sua produo e 7% dos mesmos encaminhavam a produo para o Grande Recife. Num mercado de produo otimizada, como o caso em anlise, ressalta-se ainda no relatrio citado a presena marcante do intermedirio como principal via de distribuio dos produtos, os quais formam os preos a que os produtores em geral, so obrigados a tomar como dados, situao tpica de mercado fortemente oligopsnico. Em alguns casos, a partir de informaes das entrevistas estruturadas, certamente mais raros, observou-se alguma articulao entre produtores e atacadistas de maior porte e/ou mesmo com algumas cadeias de supermercados. Nesse ltimo caso, encontram-se uns poucos produtores de maior porte ou melhor organizados e/ou localizados com maior proximidade de grandes centros de consumo. Um exemplo o caso da Doce Verde Agroindustrial de Cascavel, municpio prximo a Fortaleza cujos produtos so colocados em supermercados daquela Regio Metropolitana. Em Recife, alguns produtores de Quipap, Zona da Mata de Pernambuco, comercializam a rapadura em tabletes de 25 g. diretamente com a Rede Bompreo de supermercados. Essas ligaes so mais raras tambm pelas exigncias de formalizao dos produtores, regularidade de fornecimento e padro regular de qualidade, situaes encontradas com reduzida freqncia entre os produtores. Na regio da Serra de Ibiapaba, foram entrevistados dois produtores, de porte superior mdia, que colocavam sua produo, em tabletes de 25 g., no mercado de Teresina atravs de um atacadista ali sediado. Na Serra da Ibiapaba alguns produtores tm tentado participar de licitaes para a merenda escolar, mas encontram dificuldades, pois os atacadistas conseguem oferecer preos menores por produtos s vezes de qualidade inferior (rapadura feita a partir do acar tipo cristal, por exemplo). Em meio a ocorrncias em geral problemticas, deve-se registrar um outro fato novo no setor, embora ainda verde em resultados concretos, que a formao de associaes de pequenos produtores. Tais associaes j podem ser encontradas nas principais reas de produo aqui examinadas, congregando entre 20 e 40 produtores, sendo que atravs delas a comercializao tende a tornar-se mais vantajosa para os pequenos produtores bem como amplia-se a possibilidade de articulao com grandes redes de varejo, pois fica mais fcil o atendimento de exigncias formais e comerciais (regularidade de fornecimento, padro de qualidade, etc.) Pelo que foi possvel perceber, porm, os avanos nesse aspecto so ainda relativamente acanhados. 13. Perspectivas da evoluo dos mercados Numa tentativa de avaliao sucinta das perspectivas de evoluo dos mercados, deve-se ter em conta alguns parmetros e algumas tendncias em curso. Em primeiro lugar, o segmento tradicional de mercado, ainda constituindo o grosso da demanda, formado porCopyright Servio Brasileiro de Respostas Tcnicas - SBRT - http://www.sbrt.ibict.br
14
famlias de baixa renda, principalmente no Nordeste, tende a manter-se estagnado, ou declinante, em funo das conhecidas dificuldades de que essa faixa populacional venha a lograr melhoras significativas de rendimentos. Para essa faixa de consumidores, alis, bem possvel que a rapadura seja substituda pelo acar em face de alguma melhoria de renda, funcionando como um bem inferior, portanto. Essa faixa de mercado, mesmo sendo mantida, porm, no deve vir a oferecer maiores perspectivas para os produtores em termos de expanso de quantidades e/ou de preos. Duas outras faixas de mercado merecem destaque, mesmo que ainda participem com peso relativamente reduzido no mercado. So elas a demanda institucional formada pela merenda escolar e pelas cestas bsicas via CONAB e a demanda da classe mdia nos grandes centros urbanos. Esses segmentos tm potencialidades evidentes de expanso desde que cumpridas algumas exigncias. No caso da demanda institucional a expanso do mercado depende de deciso poltica, para incluir a rapadura de forma crescente na merenda e nas cestas bsicas, mas tambm da capacidade dos produtores em atenderem os requisitos mnimos de qualidade, higiene, formalizao e legalizao para participar de licitaes, bem como da regularidade da oferta. No caso da demanda das famlias de classe mdia, alm das exigncias acima, se deve ainda incluir as de melhoria na apresentao do produto e na embalagem, a diversificao para compostos de rapadura com outros alimentos, etc. Em vista do maior padro de requerimentos, essas faixas de demanda tendero a ser atendidas pelos produtores mais arejados e/ou participantes de associaes e cooperativas. Para tal ser necessria a maior ao dos rgos de fomento, de assistncia tcnica e de capacitao empresarial de forma a imprimir no setor um maior dinamismo, junto com novos padres tecnolgicos e administrativos que levam a melhorias de qualidade e reduo de custos. O mercado externo uma outra alternativa que tem potencialidades de absoro de acar mascavo, principalmente, e de pequenos tabletes de rapadura. No Brasil, sabe-se que no Paran algumas cooperativas de pequenos produtores exportam acar mascavo para a Alemanha e que em Minas Gerais h produtores exportando tabletes de rapadura para a Europa. No Nordeste no h registro conhecido de exportao desses produtos, ainda que os produtores mais dinmicos demonstrem interesse em fazlo. Sobre isso vale aqui examinar mais de perto as potencialidades do mercado externo e as possibilidades do engajamento dos produtores nordestinos no mesmo. 14. Mercado externo: obstculos a superar O mercado externo de rapadura e acar mascavo apresenta-se com perspectivas favorveis em vista da crescente preferncia dos consumidores dos pases desenvolvidos por produtos naturais. Os preos so atraentes e este nicho de mercado tem aparentemente perspectivas de expanso. Segundo informa a assessoria da Associao dos Fornecedores de Cana de Acar de Pernambuco, o acar mascavo tem seu preo girando em torno de US$ 500,00 por tonelada no mercado internacional. Considerando que o custo da produo de rapadura estimado em torno de R$ 300,00 por tonelada, segundo especialistas entrevistados em Pernambuco e no Cear, observa-se que o mercado externo pode ser uma alternativa rentvel, mesmo que o custo de produo venha a ser ampliado em funo dos maiores requerimentos de qualidade impostos pelos consumidores externos. De uma maneira geral, observa-se que nas reas de maior produo de rapadura no Nordeste h espao para a expanso da produo, tanto em termos da parte agrcola quanto da elaborao industrial. O custo tambm pode, por outro lado, ser reduzido por melhorias no processo produtivo que ampliem a produtividade ainda reduzida. A matria-prima da rapadura poderia ser obtida com o aproveitamento de terras ociosasCopyright Servio Brasileiro de Respostas Tcnicas - SBRT - http://www.sbrt.ibict.br 15
e/ou ocupadas com outras culturas menos rentveis, poder-se-ia usar mais intensamente a capacidade instalada dos engenhos e assim crescer a oferta, o que permitiria atingir escalas mnimas para exportar. Se isso no tem ocorrido com maior freqncia as causas localizam- se, principalmente, na reduzida extenso do mercado interno e nas dificuldades de capital de giro e de comercializao. Havendo mais mercado e preos mais estimulantes, o nvel de oferta tende a se expandir, inclusive atraindo novos produtores em novas reas. A Zona da Mata do Nordeste, por exemplo, tem hoje condies propcias para ocupar uma maior fatia desse mercado. Em funo do declnio da agroindstria aucareira, muitos fornecedores de cana esto buscando a diversificao como alternativas para as dificuldades financeiras. Em vista de algumas experincias relativamente bem sucedidas de produo de rapadura na Mata Sul de Pernambuco, em Quipap e Panelas em Pernambuco, a Associao de Fornecedores de Cana de Pernambuco vem estimulando entre seus associados a construo de engenhos de rapadura com vistas ao atendimento inclusive do mercado externo, tendo a mesma j feito sondagens, com resultados favorveis, com Trading Companies importadoras de acar mascavo e rapadura. Alguns produtores esto buscando financiamento para a implantao de engenhos, contando inclusive com o concurso de consultores na rea de tecnologia de alimentos e especialistas em tecnologia de rapadura, o que dever a mdio prazo provocar mudanas mais pronunciadas no setor. Espera-se que essas mudanas abranjam a tecnologia de produo, a diversificao de produtos e embalagens bem como a expanso para o mercado externo. Em relao ao mercado mundial. Vale esclarecer, que o Brasil um produtor pouco expressivo de rapadura e/ou acar mascavo. Em 1992, segundo a FAO, a ndia, o maior produtor, produziu 9.960 mil toneladas, a Colmbia 1.270 mil toneladas, o Paquisto 1.200 mil toneladas, a Tailndia 720 mil, toneladas. J o Brasil produziu em 1192 apenas 240 mil toneladas. Em termos de Amrica Latina, a produo mais importante na Colmbia (rapadura), mas tambm no Equador e na Costa Rica (rapadura granulada). A Colmbia geralmente apontada como pas em que as condies de produo esto tecnologicamente mais avanadas, embora nada de revolucionrio por l exista, segundo especialistas consultados. Na verdade o que parece que h por l avanos em termos de otimizao de processos produtivos e de melhores instalaes industriais, alm de se obter em algumas regies produtividade agrcola bem mais elevada (acima de 100 t/ha). H, no entanto, muita heterogeneidade e uma produo em geral muito atomizada. Assim, no seria impossvel que produtores nordestinos viessem a concorrer com os colombianos por espaos no mercado externo. Mesmo na Colmbia, alis, o principal mercado ainda o domstico, ocorrendo exportaes de pouca monta. O destino das exportaes colombianas parece ser principalmente o mercado norteamericano, havendo algumas dificuldades de abastecer o mercado europeu, que exige a observncia de padres estritos de produto natural, ou orgnico, isso desde a produo agrcola at o beneficiamento industrial, o que no ocorre com freqncia na Colmbia onde usa-se muito a adubao com fertilizantes no orgnicos. O mercado da China um que aparece com potencialidades de ser abastecido pelos produtores brasileiros, segundo indicam algumas informaes divulgadas na imprensa. At aqui, no entanto, embora o potencial seja obviamente elevado pelo tamanho da16 Copyright Servio Brasileiro de Respostas Tcnicas - SBRT - http://www.sbrt.ibict.br
populao, que agua o interesse dos pretensos exportadores de bens de pases os mais variados, nada de concreto parece existir. Segundo publicado na Gazeta Mercantil, (Gazeta Mercantil Nordeste, 18/8/1998), uma empresa ento em instalao na regio do Cariri Cearense, a Indonal, tinha pretenses de vir a exportar para a China a canness, uma rapadura com sabor de coco, rica em ferro, potssio e flor. 15. Pontos fortes e pontos fracos do setor rapadureiro Cabe aqui enfatizar, inicialmente, alguns pontos fortes do setor na perspectiva de efetivamente inserir-se no mercado externo. Nesse sentido, o diferencial entre os custos estimados de produo e o preo do acar mascavo no mercado externo desponta como um fator bastante positivo. Alm disso, a disponibilidade relativa de mo-de-obra, de rea agrcola, e de alguma capacidade ociosa nos engenhos tambm importante como condio de partida para a expanso da oferta. Um maior nvel de produo levaria a uma maior utilizao da capacidade instalada, o que poderia reduzir custos unitrios de produo e melhorar as condies de competitividade. O custo da rapadura por kilo pode vir a ser bastante reduzido, caso os produtores introduzam algumas inovaes tecnolgicas relativamente simples e conhecidas. Assim, a parte industrial pode crescer em eficincia com a introduo de moendas mais adaptadas a extrair o mximo de caldo das canas, com o uso de decantadores para aumentar o aproveitamento do caldo, com a construo de fornalhas mais eficientes. Na cultura da cana h que se introduzir variedades mais produtivas e adaptadas s condies de cada regio, otimizar o manejo e o corte nas pocas mais propcias obteno de maior teor de sacarose, promover a irrigao complementar nas reas com menor ndice de pluviosidade, etc. H ainda ganhos a serem obtidos com a melhor capacitao empresarial e com qualificao da mo-de-obra que so hoje ainda bastante precrias. Com essas providncias, ou pelo menos parte delas, haver reduo expressiva de custos e um estgio tecnolgico mais atualizado. Algumas mudanas, mesmo que ainda incipientes, observadas mais recentemente no setor podem ser tambm avaliadas de forma positiva, ou como indcios de favorabilidade. Mesmo sendo predominante o tradicionalismo, j existem em curso alguns indicadores de mudana. Entre eles podem ser citados a formao de associaes de produtores nas diferentes regies produtoras, a busca por parte de alguns mais arejados de novos mercados, a introduo de alguma modernizao tecnolgica, a produo em pequenos tabletes, a abertura do mercado institucional que podero dinamizar mudanas mais significativas, etc. Alm disso, mais recentemente com o apoio de rgos como o SEBRAE, Banco do Nordeste e institutos tecnolgicos de governos estaduais nota-se uma maior preocupao dos produtores em atualizar padres tecnolgicos e administrativos. Na Paraba, segundo informa a Secretaria de Indstria e Comrcio, esta Secretaria e o Ministrio da Agricultura esto implantando trs engenhos-modelo nas regies de Areia, Alagoinha e Mamanguape com investimentos de R$ 480 mil, pretendendo com isso elevar o padro de produtividade e de qualidade dos engenhos do Estado. O projeto envolve tambm novas formas de apresentao da rapadura (pequenos tabletes e novas embalagens), alm do aproveitamento da onda verde que leva o consumidor a preferir produtos naturais, prevendo-se campanhas de divulgao da rapadura e do acar mascavo inclusive no exterior. Muitas experincias tm sido realizadas, porm no provocaram ainda impactos maiores, mas apresentam um potencial razovel de efeito demonstrao, de encorajamento dos menos conservadores para as transformaes necessrias elevao de padres deCopyright Servio Brasileiro de Respostas Tcnicas - SBRT - http://www.sbrt.ibict.br
17
qualidade e de eficincia. Por elas pode-se perceber tambm um maior interesse nos rgos governamentais em fomentar, com base na parceria, o desenvolvimento do setor, o que tambm um fato auspicioso. De resto, vale salientar ainda como positivo o desenvolvimento do associativismo, mesmo ainda em fase inicial, nas vrias regies produtoras do Nordeste. Com isso, caso as experincias j existentes se alastrem, podero existir a mdio prazo melhores condies de reduo de custos e maior poder de barganha dos produtores diante dos intermedirios, o que poder ampliar a capitalizao e a expanso das escalas produtivas. Entre os pontos fracos h tambm alguns destaques. Inicialmente vale sublinhar o atraso tecnolgico, o descaso para com as normas de higiene, a desqualificao de proprietrios e de trabalhadores, bem como o conservadorismo, sem dvida um trao cultural marcante entre os produtores. Em segundo lugar, deve-se ter em conta a baixa capacidade de acumulao de um setor dominado por um mercado pouco dinmico, e formado por consumidores de baixa renda, principalmente, alm de controlado pelos atravessadores. A elevada atomizao da produo associada com a situao de informalidade tambm um aspecto que dificulta a expanso do setor, pois limita o acesso ao mercado institucional que tem mais perspectivas de crescimento, limitando tambm a dinamizao de novos consumidores de maior poder aquisitivo. Isso, tanto pela dificuldade de acesso aos centros urbanos e s redes de supermercados, quanto pela inviabilidade de divulgao dos produtos atravs de campanhas de publicidade que pudessem ser veiculadas pelos produtores. Na verdade, nas condies predominantes atualmente no setor os pontos fracos tendem a prevalecer obstaculizando o crescimento da produo, principalmente por conta da extrema escassez de capital de giro associada com extrema restrio de acesso a crdito, da baixa eficincia dos equipamentos, onde as moendas bastante antigas deixam no bagao muitas vezes 50% da sacarose17 , da precariedade das instalaes etc. Os pontos fracos podero ser neutralizados e superados no mdio prazo, tendo em conta os aspectos favorveis anteriormente apontados, porm para isso h que se aprofundar tanto o contedo quanto a abrangncia das aes de fomento atualmente em curso. Concluses e recomendaes Considera-se que existem algum fatores a serem ressaltados e os cito abaixo: A tecnologia de produo utilizada em geral pelos produtores ainda muito rudimentar; A comercializao realizada na maioria das vezes por intermedirios (atravessadores); Os produtores no esto organizados em cooperativas ou associaes que os auxiliem no problema de escala e nas condies de venda da rapadura. Assim, o produtor, na maioria das vezes, no possui nenhum poder de barganha, tendo que aceitar preos muito baixos, o que causa muitas vezes a descapitalizao. Para explorar o mercado interno, altamente competitivo, muito exigente e com grande dependncia de intermedirios, os produtores locais tero que introduzir mudanas no processo produtivo, assegurando a qualidade, padronizao do produto, higiene nas unidades produtivas e cuidados na qualidade da matria-prima, para melhor otimizao dos lucros e da relao entre o produtor e o distribuidor. Diante do contexto descrito acima, destacamos algumas solues que podero assegurar um alto rendimento nos vrios setores que compem as unidades produtivas da rapadura: Utilizao de sistemas de irrigao mais modernos; Conhecimento das normas tcnicas de produo; Padronizao de tamanho, peso e qualidade dos produtos; Uso de sistemas de embalagem que diminuam as perdas durante o transporteCopyright Servio Brasileiro de Respostas Tcnicas - SBRT - http://www.sbrt.ibict.br
18
do produto; Maior disponibilidade de crdito agrcola aos produtores; Unio dos produtores em sistemas cooperativos e associativos visando a um maior poder de barganha junto aos outros elos da cadeia; Maior conhecimento do mercado atual e suas potencialidades; Diversificao da produo e divulgao da rapadura; Conhecimento dos direitos e obrigaes como empresrio rural; Maior apoio tcnico governamental em todos os setores e principalmente,clculo dos custos de produo e conseqentemente o estabelecimento do preo de vendas. Conclui-se que o setor rapadureiro pode ser melhor explorado, mas que acima de tudo uma atividade em expanso a cada dia, transformando numa atividade rentvel para vrios empreenderoes, empresrios e produtores rurais. Vale esclarecer que os preos aqui referidos na parte de custos vigoravam da poca de elaborao, que foi no segundo semestre de 1998. Referncias SEBRAE. Fbrica de rapadura. Disponvel em: . Acesso em: 20 jul. 2007. EMPREGO E RENDA. Como Produzir Rapadura, Melado e Acar Mascavo. Disponvel em: . Acesso em: 20 jul. 2007. PAGINA RURAL. Disponvel em: . Acesso em: 21 jul. 2007. UFSCAR. Disponvel em: . Acesso em: 22 jul. 2007. SEBRAE. Disponvel em: . Acesso em: 22 jul. 2007. FUNDAJ. Disponvel em: . Acesso em: 23 jul. 2007 BANCO DO NORDESTE. Do engenho para o mundo? A produo de rapadura. Disponvel em: . Acesso em: 24 jul. 2007. CUSTOS E AGRONEGOCIOS . Disponvel em: . Acesso em: 23 jul. 2007 SFIEC. Rapadura. Disponvel em: . Acesso em: 25 jul. 2007 CORDELONLINE. Disponivel em: . Acesso em: 26 jul. 2007. SANTO ANTONIO. Disponvel em: . Acesso em: 27 jul. 2007.Copyright Servio Brasileiro de Respostas Tcnicas - SBRT - http://www.sbrt.ibict.br
19
UNICA. Legislao. Disponvel em: . Acesso em: 28 jul. 2007 REVISTA HOST. Rapadura artesanal. Disponvel em: . Acesso em 27 jul. 2007. POLO RAPADUEIRO. Disponvel em: . Acesso em: 29 jul. 2007. ICV. rapadurinhas sabor de frutas. Disponvel em: . Acesso em: 30 jul. 2007. Anexos Fornecedores de Mquinas BIASINOX End: Rua Francisco de Biaso, 100 - Lambari - MG Tel. / Fax: (35) 3271-3030 / 3271-1988 Homepage: INCOMAP Fortaleza - Cear Endereo: Rua Blgica, 567 - Maraponga Cep: 60710-790 Tel. / Fax: (85) 495.2987 Homepage: < http://www.incomap.com.br/produtos_doce.asp DN INDUSTRIAL Quissam - RJ Endereo: 196, Km 22, Quadra A, Lote 03, Zen 1 - Conde de Araruama Tel.: (22) 2768-6097 Homepage: < http://www.dnindustrial.com.br/# INCAL MQUINAS E CALDEIRARIA Ltda. Belenzinho - SP Endereo: Rua Catumbi, 637 Cep: 03021-000 Tel. / Fax:: (11) 6693-7440 - 6692-9248 - 6692-5136 Homepage: < http://www.incalmaquinas.com.br/ INDSTRIA E COMRCIO RANI PIEROTTI LTDA. Equipamentos para moagem de cana-de-acar Rua Dr. Altino Peluso, n100 Centro 36520-000 Visconde do Rio Branco MG Tel.: (32) 3551-1386 http://www.ranipierotti.com.br METALRGICA BARRO BRANCO Equipamentos para agroindstria integrada de cana-de-acar Rua Antnio Xavier Maia, 293, Penha, So Fidlis RJ CEP 28.400-000 +55 (22) 2758-219820 Copyright Servio Brasileiro de Respostas Tcnicas - SBRT - http://www.sbrt.ibict.br
http://www.barrobranco.com.br [email protected] LEGISLAO Normas Relevantes para o Setor Sucroalcooleiro do Brasil I. LEGISLAO SETORIAL Histrico Decreto-Lei n. 1.831/39: Determina a fixao de quotas mximas de produo; probe a instalao de novas fbricas de acar, rapadura ou aguardente (punvel com apreenso sem indenizao); estabelece regras sobre o acondicionamento, identificao e trnsito do acar. O acar produzido alm da quota era clandestino e apreendido pelo Instituto do Acar e do lcool (IAA) e havia a obrigao de escriturar o Livro de Produo Diria LPD. Decreto-Lei n. 3.855/41: Estatuto da Lavoura Canavieira. Define o que fornecedor de cana, diferenciando-o do lavrador, e determina a formao de um cadastro de fornecedores pelo IAA. O instituto fixaria quotas de fornecimento de cana, tornando obrigatrio o fornecimento e a compra de cana pela usina no mnimo, 40% da produo da usina deveria ser originada de fornecedores. Tambm prev conselhos de conciliao e julgamento de litgio entre fornecedores e recebedores de cana; e institui financiamento dos fornecedores, atravs de taxa quando da entrega de cana. Decreto-Lei n. 4.722/42: Declara de interesse nacional a indstria alcooleira. Decreto-Lei n. 9.827/46: Institui a contribuio destinada prestao de assistncia social aos trabalhadores agrcolas e industriais do setor sucroalcooleiro, mediante Planos de Assistncia Social PAS. Decreto n. 25.174-A/48: Determina a adoo, pelo IAA, de medidas de fomento produo nacional de lcool anidro para fins carburantes e a expanso do consumo do lcool motor no Pas. Lei n. 4.071/62: Estabelece o sistema quinzenal de pagamento de cana, com possibilidade de outro sistema, criado em acordo entre fornecedores e recebedores de cana, homologado pelo IAA. Lei n. 4.870/65: O IAA fixaria os contingentes de exportao, aumentando as penalidades para o produtor de acar clandestino. O IAA poderia fixar quota de reteno de at 20% da produo nacional para estoque regulador. Tambm cria mercados preferenciais para as regies Norte e Nordeste. Reafirma a obrigatoriedade das usinas de receber a quota total de seus fornecedores, fixada pelo IAA. O instituto tambm realizaria as operaes financeiras necessrias execuo dos programas de defesa da produo e escoamento das safras; alm de alterar o sistema do PAS. Venda, troca ou cesso de maquinaria ou de implementos destinados fabricao de acar e lcool, novos ou usados, necessitariam de autorizao do IAA. A taxa para financiamento dos fornecedores, criada no DL 3.855/41, passa a ser ad valorem. Decreto n. 57.020/65: Determina a concesso de rea para trabalhador rural da lavoura canavieira para subsistncia prpria e da famlia. Decreto-Lei n. 16/66: Considera a produo clandestina de acar e lcool ofensa segurana nacional. Tipifica condutas como crime, tal como produo acima da quota, sada ou recebimento sem nota de remessa. Decreto-Lei n. 308/67: Cria a contribuio de interveno do IAA. O PAS e a taxa para financiamento dos fornecedores passam a ser encargos de produo. A transferncia de acar de uma regio para outra dependeria de autorizao do IAA. Lei n. 5.654/71: Fixa limite nacional das cotas de acar. Separa o Pas em duas regies. Decreto n. 76.593/75: Institui o Prolcool e a Comisso Nacional do lcool (CINAL). Prev o financiamento especial para o Prolcool e a paridade de preo entre lcool com o21 Copyright Servio Brasileiro de Respostas Tcnicas - SBRT - http://www.sbrt.ibict.br
acar cristal standard. Decreto n. 80.762/77: Consolida o Prolcool. O CNP estabeleceria o programa de distribuio do lcool s empresas distribuidoras de petrleo. Revoga o Decreto n. 76.593/75. Decreto n. 82.476/78: Estabelece normas de escoamento e comercializao do lcool, que seria faturado pelos produtores diretamente s distribuidoras. Despesas com lcool, inclusive a eventual diferena de preo de faturamento entre lcool e a gasolina, correriam por conta dos recursos advindos da comercializao do lcool. Decreto n. 83.700/79: Execuo do Prolcool. Cria o CANL e o CENAL e lista suas competncias, entre as quais a de definir a produo anual de lcool. Os estoques de lcool seriam financiados, assim como os investimentos e dispndios relacionados com o Prolcool. Para a comercializao, CNP estabeleceria programas de distribuio. Decreto n. 84.575/80: Inclui os bancos comerciais privados, os bancos de investimentos e as Caixas Econmicas entre os agentes financeiros do Prolcool. Decreto n. 88.626/83: Comercializao do lcool em 9 meses e em 7 meses para as autnomas at a 3 safra. Estoques de segurana seriam de 1 ms para anidro e 2 meses para o hidratado, sob a responsabilidade da Petrobrs. Fundo Especial da Estrutura de Preos de Combustveis e Lubrificantes, formado com 2% do preo de aquisio de lcool cobriria as despesas da Petrobrs com o lcool. Decreto n. 2.401/87. Exportao de acar atribuda a pessoas fsicas e jurdicas de direito privado a partir de junho de 1988. Decreto n. 94.541/87: Estabelece normas para comercializao e estocagem de lcool e separa competncias do IAA e do CNP sobre esse assunto; comercializao em 12 meses e em 7 meses para autnomas at 3 safra, estoques de segurana de 2 meses para anidro e hidratado. Decreto n. 95.503/90: Constitui comisso para reexaminar a matriz energtica nacional. Leis n. 8.028 e 8.029/90: Extingue o IAA com a reforma administrativa. Lei n. 8.117/90. Exportao e importao ficam submetidas ao controle prvio do SDR at 31 de maio de 1995. Lei n. 8.178/91: Estabelece regras sobre preos e salrios. Liberao dos preos setoriais. Portaria n. 463/91 do Ministrio da Fazenda: Institui o regime de preos liberados. Lei n. 8.393/91: Extingue contribuio adicional do IAA. Autoriza a livre transferncia de acar entre regies do Pas. Cria o IPI. Decreto n. 410/91: Dispe sobre condies de suprimento de lcool etlico hidratado para as indstrias alcoolqumicas da regio Nordeste (poltica de preos diferenciados). Decreto n. 507/92: Institui o Departamento Nacional de Combustveis. Decreto de 27 de outubro de 1993: Constitui, no mbito do Ministrio de Minas e Energia, a Comisso Interministerial do lcool CINAL. Decreto de 12 de setembro de 1995: Transfere para o mbito do Ministrio da Indstria, do Comrcio e do Turismo a CINAL. Decreto n. 1.407/95: Dispe sobre condies de suprimento de lcool etlico hidratado para as indstrias alcoolqumicas da regio Nordeste (poltica de preos diferenciados).22 Copyright Servio Brasileiro de Respostas Tcnicas - SBRT - http://www.sbrt.ibict.br
Medida Provisria n. 1.091/95: O MICT passa a fixar, em Planos Anuais de Safra, os volumes de acar e de lcool necessrios ao abastecimento dos mercados e formao de estoques de segurana, os volumes caracterizados como excedentes e os de importao indispensvel. Aos excedentes poder ser concedida iseno total ou parcial do imposto sobre exportao atravs de despacho do MF e do MICT. Distribuio dos excedentes isentos ser feita por cotas e/ou ofertas pblicas. Iseno no gerar direito adquirido. Lei n. 9.362/96: Dispe sobre medidas reguladoras do abastecimento do mercado interno de produtos do setor sucroalcooleiro. Portaria n. 292/96 do Ministrio da Fazenda: Institui o regime de preos liberados para o setor sucroalcooleiro (lcool etlico hidratado combustvel AEHC). Portaria n. 294/96 do Ministrio da Fazenda: Institui o regime de preos liberados para o setor sucroalcooleiro (lcool etlico anidro combustvel AEAC). Lei n. 9.478/97: Cria a Agncia Nacional do Petrleo ANP. Decreto de 21 de agosto de 1997: Cria o Conselho Interministerial do Acar e do lcool Decreto n. 2.213/97: Dispe sobre condies de suprimento de lcool etlico hidratado para as indstrias alcoolqumicas da regio Nordeste (poltica de preos diferenciados). Portaria n. 102/98 do Ministrio da Fazenda: Institui o regime de preos liberados para o setor sucroalcooleiro. Portaria n. 275/98 do Ministrio da Fazenda: Institui o regime de preos liberados para o setor sucroalcooleiro. Decreto n. 2.455/98: Implanta a Agncia Nacional do Petrleo ANP. Decreto n. 2.590/98: Dispe sobre condies de suprimento de lcool etlico hidratado para as indstrias alcoolqumicas da regio Nordeste (poltica de preos diferenciados). Decreto n. 2.607/98: Dispe sobre a adio de lcool etlico anidro combustvel gasolina. Fixa em 24% a mistura. Decreto n. 2.635/98: Institui o Comit de Comercializao do lcool Etlico Combustvel. Decreto n. 3.322/99: Promulga o Acordo Internacional do Acar de 1992. Medida Provisria n. 2.053-29: Altera Lei n. 8.723/93 que dispe sobre a reduo da emisso de poluentes por veculos automotores. Decreto n. 3.546/2000: Cria o Conselho Interministerial do Acar e do lcool CIMA. Decreto n. 3.552/2000: Dispe sobre a adio de lcool etlico anidro combustvel gasolina. Reduz a mistura para 20% a partir de 20 de agosto de 2000. Revoga Decreto n. 2.607/98. Nome do tcnico responsvel Marcelo M. do Nascimento Nome da Instituio do SBRT responsvel CDT/UnB Data de finalizao 01 ago. 2007.23 Copyright Servio Brasileiro de Respostas Tcnicas - SBRT - http://www.sbrt.ibict.br