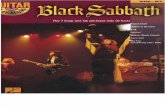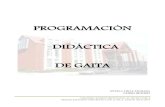A Gaita de Foles Em Miranda Do Douro e Lisboa - Carla Passinhas
-
Upload
carlapassinhas -
Category
Documents
-
view
167 -
download
2
description
Transcript of A Gaita de Foles Em Miranda Do Douro e Lisboa - Carla Passinhas

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS MUSICAIS
A GAITA-DE-FOLES EM MIRANDA DO DOURO E NA
ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA (1999-2004):
Uma perspectiva etnomusicológica
Carla Maria Passinhas Santos
Dissertação apresentada à
Universidade Nova de Lisboa
para obtenção do grau de
Mestre em Ciências Musicais (Etnomusicologia)
Orientação científica: Professora Doutora Salwa El-Shawan Castelo-Branco
Dezembro de 2005

2
ÍNDICE
Agradecimentos ……………………………………………………….................... 5
Prefácio...................................................................................................................... 7
I. INTRODUÇÃO..................................................................................................... 9
1. Objectivos...........…….……………………...................................................9
2. Enquadramento teórico …………………………………………............... 10
3. Modelo de pesquisa …………………………………….............................12
4. Metodologia …………………………………………………….................13
II. FOLCLORISMO E FOLCLORIZAÇÃO..........................................................16
1. Perspectiva histórica....................................................................................16
2. Primeiras representações dos Pauliteiros de Miranda................................ 20
3. O papel de António Maria Mourinho (1917-1996).................................... 22
III. A (RE)FOLCLORIZAÇÃO DAS PRÁTICAS PERFORMATIVAS DA
GAITA-DE-FOLES: O PAPEL DA GALIZA E DOS AGENTES EM
MIRANDA DO DOURO E LISBOA..............................................................28
1. A folclorização em Espanha e o seu impacte sobre a prática
performativa da gaita-de-foles em Miranda do Douro e Lisboa............... 28
2. Agentes (re)folclorizadores em Miranda o Douro e Lisboa...................... 35
Mário Correia ........................................................................................ 36
O departamento Cultural da Câmara Municipal de Miranda do Douro..41
Associação Cultural Galandum Galundaina .......................................... 42
Associação Juvenil Mirai Qu‟ Alforjas ................................................. 45
Paulo Marinho e a Associação Portuguesa para o Estudo e
Divulgação da Gaita de Foles [A.P.E.D.G.F.]................................... 46
3. Conclusão.................................................................................................. 49

3
IV. DOIS CONTEXTOS DE DESEMPENHO
1. Música Celta ...............................................................................................51
2. O Festival Intercéltico de Sendim ............................................................. 53
3. Encontro Nacional de Gaiteiros ................................................................ 60
V. TRÊS OCASIÕES PERFORMATIVAS .........................................................65
1. O grupo Galandum Galundaina nas Festas de Santa Bárbara em Sendim
(6 de Agosto de 2003) ...............................................................................66
2. O grupo Som das Arribas na Biblioteca Municipal da Moita
(19 de Novembro de 2004) ...................................................................... 70
3. O grupo Gaitafolia na Associação Ponto de Encontro
em Cacilhas (22 de Abril de 2005)............................................................76
4. Conclusão ...................................................................................................80
VI. REPERTÓRIO ................................................................................................82
1. Géneros instrumentais ................................................................................83
2. Géneros coreográficos ................................................................................84
3. Géneros vocais ...........................................................................................86
4. Conclusão ...................................................................................................87
VII. NOVAS VIAS: Mudanças no ensino da gaita-de-foles...................................89
1. Miranda do Douro........................................................................................89
2. Lisboa...........................................................................................................92
Paulo Marinho...................................................................................... 92
A Escola da Associação Portuguesa Para o Estudo e Divulgação
da Gaita-de-foles.................................................................................93
3. Conclusão.....................................................................................................96
VIII. CONSIDERAÇÕES FINAIS .........................................................................97

4
BIBLIOGRAFIA CITADA
DISCOGRAFIA CITADA
ENTREVISTAS CITADAS
ANEXOS:
1. Programação do Festival Intercéltico de Sendim entre 2000 e
2005
2. Grupos participantes no Encontro Nacional de Gaiteiros entre
2001 e 2004
3. Transcrições musicais
Conteúdo do DVD
Filme 1 - Dérvish no IV Festival Intercéltico de Sendim (02/08/2003)
Filme 2 - Encontro de tamborileiros no III Festival Intercéltico de Sendim
(03/08/2002)
Filme 3 - Missa Intercéltica (Sendim, 3/8/2003)
Filme 4 - Espaços sociais não programados: Café Passareiro (Sendim, 03/08/2002
e 02/08/2003)
Filme 5 - III Encontro Nacional de Gaiteiros: recepção (Santa Maria da Feira,
09/08/2003)
Filme 6 - IV Encontro Nacional de Gaiteiros: espectáculo de palco (Fundão,
18/09/2004)
Filme 7 - III Encontro Nacional de Gaiteiros: desfile (Santa Maria da Feira,
09/08/2003)
Filme 8 - IV Encontro Nacional de Gaiteiros: espaços sociais não programados
(Fundão, 19/9/2004)
Filme 9 - Actuação de Ângelo Arribas na Moita (18/11/2004)
Filme 10 - Actuação de Gaitafolia em Almada (22/04/2005)
Filme 11 - Actuação de Galandum Galundaina em Sendim (10/08/2003)

5
AGRADECIMENTOS
Agradeço à Professora Doutora Salwa Castelo-Branco a orientação, a
disponibilidade, a paciência e compreensão, sem as quais não seria possível a
realização deste trabalho.
A todos os meus colaboradores de Miranda do Douro e na Área Metropolitana de
Lisboa, agradeço por me terem acolhido e partilhado comigo as suas vivências,
experiência decisiva para a elaboração deste estudo.
Sinceros agradecimentos a José Gomes que, indirectamente, foi responsável pela
escolha da temática da gaita-de-foles e pela minha integração na Associação para o
Estudo e Divulgação da Gaita-de-foles (A.P.E.D.G.F.), ao Vítor Félix e Mário
Estanislau pela disponibilidade, simpatia, partilha de ideias e experiências
fundamentais ao desenvolvimento do estudo, a todos os membros da A.P.E.D.G.F.
que incansavelmente se mostraram dispostos a partilhar as suas vivências, em
especial ao Miguel Mimoso, Jorge Santos, Francisco Pimenta, Henrique Oliveira,
Miguel Costa, Gonçalo do Carmo, André Ventura. Estou ainda particularmente
agradecida a Paulo Marinho, por ter partilhado a sua experiência profissional e as
suas ideias.
Agradecimentos muito especiais ao Dr. Mário Correia, pelas informações e acesso
ao seu espólio pessoal e ao Centro de Música Tradicional Sons da Terra, à D. Maria
Fernanda, ao Dr. Manuel Martins, presidente da Câmara Municipal de Miranda do
Douro, ao Dr. António Carção, vereador do pelouro da cultura, pela disponibilidade
e acesso ao espólio pessoal do Padre António Maria Mourinho, ao Dr. Mourinho,
director do Museu das Terras de Miranda, ao maestro da banda e ao presidente da
direcção, Justeniano Augusto Ribeiro e José Augusto Raposo, respectivamente.
Agradeço ainda à D. Nazaré e D. Teresa, membros do grupo de cantares L‟alma, a
Belmiro Carção, ensaiador do grupo de pauliteiros de Sendim, e Telmo Ramos,

6
presidente da Associação Juvenil Mirai Q‟Alforjas. Um especial agradecimento
também a todos os gaiteiros, a notar: Ângelo Arribas, Desidério Afonso, Henrique
Fernandes, Célio Pires, Paulo Preto, Paulo Meirinhos, Abílio Topa, António Alves,
Manuel Martins, Ernesto Martins Lhano, Adérito Augusto Vicente, Álvaro Xavier,
Zéfiro Galvão, Domingos João, Paulo Gonçalves e Alexandre Vicente Pires.
A minha consideração ao Tiago e Ana que me acolheram em sua casa, numa das
minhas estadias em Sendim e a todos os meus colegas de mestrado.
Finalmente, e sem nunca descurar, ao Elso e à Joana, devo a força e
acompanhamento em todo o processo exploratório ao terreno, a paciência pelas
férias perdidas, os atrasos nas refeições e as dormidas no carro quando o trabalho se
prolongava. E sobretudo à Margarida, minha filha mais nova, pela força com que
lutou pela vida, sem a qual não teria sido possível a concretização deste trabalho.

7
PREFÁCIO
Esta dissertação de mestrado constitui um estudo etnomusicológico sobre a
(re)folclorização das práticas musicais associadas à gaita-de-foles, em Miranda do
Douro e na Área Metropolitana de Lisboa1, no período que se estende entre 1999 e
2004. Com o presente estudo pretendo analisar os factores que contribuíram para
este processo, focando sobretudo o papel dos agentes envolvidos e as suas
motivações.
A inexistência de estudos etnomusicológicos sobre a (re)folclorização das práticas
musicais em torno gaita-de-foles foi uma das motivações que me levou à escolha
do presente objecto de estudo. Por outro lado, o meu fascínio pelas práticas
performativas associadas ao instrumento foi também decisivo.
O primeiro capítulo apresenta o objecto de estudo e a perspectiva teórico-
metodológica utilizada na organização, análise e tratamento dos dados.
O segundo capítulo inicia-se com uma perspectiva histórica sobre o folclorismo e a
folclorização em Portugal e, em seguida, procuro situar o início da
institucionalização das práticas performativas tidas por tradicionais em Miranda do
Douro, através de uma reflexão acerca das primeiras representações dos Pauliteiros
de Miranda e do papel do Padre António Mourinho.
O terceiro capítulo aborda a (re)folclorização das práticas performativas da gaita-
de-foles em Miranda do Douro e Lisboa, partindo de uma análise acerca da
folclorização em Espanha e o seu posterior impacte em Portugal. São identificados
os principais agentes envolvidos neste processo, bem como a sua acção em ambos
1 A Área Metropolitana de Lisboa engloba dezoito municípios: Alcochete, Almada, Amadora, Barreiro,
Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odivelas, Oeiras, Palmela, Sesimbra, Setúbal, Seixal, Sintra
e Vila Franca de Xira. Todavia, esta investigação incidiu sobre os concelhos de Lisboa, Almada e Moita,
pelo que me irei referir em concreto a estas localidades.

8
os contextos, no período entre 1999 e 2004, altura em que começaram a actuar de
forma proeminente e sistemática.
No quarto capítulo são analisados dois eventos que desempenharam um papel
central na implementação do processo ainda em curso: o Festival Intercéltico de
Sendim e o Encontro Nacional de Gaiteiros.
O quinto capítulo aborda a performance em torno da gaita-de-foles, a partir da
análise de três “ocasiões performativas”: Ângelo Arribas no auditório da Biblioteca
Municipal da Moita, Galandum Galundaina nas Festas de Santa Bárbara, em
Sendim e Gaitafolia na Associação Ponto de Encontro, em Cacilhas.
No sexto capítulo, tecem-se algumas considerações sobre os géneros e categorias
musicais centrais no repertório da gaita-de-foles, no contexto de Miranda do Douro
e na área Metropolitana de Lisboa.
O sétimo capítulo aborda a institucionalização do ensino da gaita-de-foles e as
mudanças que resultaram da acção dos principais agentes, no repertório, no estilo
performativo e na morfologia do instrumento.
O último capítulo apresenta algumas considerações gerais sobre o desenrolar de
todo o processo em estudo.

9
I. INTRODUÇÃO
1. Objectivos
Este estudo propõe analisar o início do processo de (re)folclorização das práticas
musicais associadas à gaita-de-foles que decorre simultaneamente, e de modo
interligado, em Miranda do Douro e na área metropolitana de Lisboa, no período
que se estende entre 1999 e 2004. Pretende, igualmente, analisar e reflectir os
factores que estão na sua origem, as motivações dos agentes envolvidos, bem
como, os mecanismos económicos, culturais, sociais e políticos accionados por
eles. Visa também, analisar a adopção da gaita-de-foles como símbolo identitário
no concelho de Miranda do Douro.
Serão abordados processos como: a acção dos agentes, a performance, a
aprendizagem, a configuração do repertório e as mudanças na morfologia do
instrumento. As balizas cronológicas justificam-se pelo papel central
desempenhado por duas instituições locais: a Associação para o Estudo e
Divulgação da Gaita-de-foles (A.P.E.D.G.F.), fundada em 1999 em Lisboa, e o
Centro de Música Tradicional Sons da Terra, sedeado em Sendim desde 2000,
oficializado em 2002.
A dissertação abordará as seguintes questões específicas:
1- Quais os factores que estimularam a (re)folclorização das práticas
coreográficas e musicais ligadas à gaita-de-foles em Miranda do Douro e
na área metropolitana de Lisboa?
2- Quem são os agentes envolvidos e quais as suas motivações?
3- Qual a influência da Galiza no processo em estudo?
4- Qual o impacte da cultura celta e da “música celta”?
5- Como é constituído o repertório e em que contextos e ocasiões é
desempenhado?

10
6- Quem são os performadores e construtores da gaita-de-foles?
7- Quais são as funções musicais e sociais do instrumento?
8- Quais as mudanças no estilo performativo, na morfologia do instrumento
e qual o seu impacte?
9- Como se processa o ensino da gaita-de-foles?
2. Enquadramento teórico
A folclorização apresenta-se como o processo central em estudo. Para o efeito, e
em primazia, adoptarei a definição de folclorismo e folclorização proposta pelos
investigadores Salwa Castelo-Branco e Jorge Freitas Branco: “O folclorismo
engloba ideias, atitudes e valores que enaltecem a cultura popular e manifestações
nela inspiradas, por folclorização entende-se o processo de construção e de
institucionalização de práticas performativas tidas por tradicionais, construídas por
fragmentos retirados da cultura popular, em regra, rural” (Castelo-Branco e Branco
2003:1). Estes autores consideram a existência de dois períodos marcantes no
processo de folclorização em Portugal – o primeiro ocorreu durante o Estado Novo
e o segundo teve início com o estabelecimento do Regime Democrático – e
reconhecem determinadas características que marcam a folclorização em cada um
desses momentos. Os autores propõem o seguinte modelo para o processo de
folclorização durante o regime democrático, que pretendo testar no presente estudo:
a) “Ideologia ruralista que serve de matriz à identidade local, centrada na
preservação da tradição.
b) Regulação feita por entidades, tanto do estado, como privadas. Prevalência
dos mecanismos de auto-regulação: a participação em encontros e
festivais, aceitação pelas rádios locais, a inserção comercial (espectáculos
no circuito turístico, edição de fonogramas).
c) Indivíduos como ensaiadores, directores dos agrupamentos a quem
compete dirigir o repertório e promover os grupos no mercado cultural.

11
d) Património constituído por repertórios autenticados, tanto por recolhas
actuais, como pela revisitação a repertório gravado ou escrito.
Permanência do ideal de recolha junto das pessoas mais idosas. O
repertório constitui o património essencial na negociação da posição
artística de mercado do grupo.
e) Espaços adequados, constituídos por instalações próprias.
f) Representação. Alteração na criação e gestão do espaço simbólico.
Diversificam-se os tipos de grupos que integram a música tradicional nas
suas actuações. Surgem os Grupos Urbanos de Recriação [GUR]. Torna-se
difícil para o grupo ser o único a invocar o seu espaço, em referência a um
território. Negoceiam-se os espaços a representar. A componente
nacionalista, anteriormente assumida e representada, deixa de ter um papel
normalizador, dando lugar à criação das identidades locais, através da
cultura expressiva.
g) Indústrias do património, mercados culturais e turísticos. As
manifestações do que se designa por folclore ou música tradicional
transitam por circuitos de eventos diversos, nos âmbitos nacional,
migratório, diaspórico, internacional.
h) Uma prática urbana. A maioria dos grupos já se encontram em áreas
urbanas, os protagonistas não são “gente do campo”, porque se tornaram
operários ou empregados no sector terciário” (Castelo-Branco e Branco
2003: 15-17).
Decorrente da folclorização emerge a (re)folclorização, definida por Freitas
Branco, em 1995, como o processo de construção de memórias, baseado em
“elaborações cénicas sistemáticas de aspectos do passado, entretanto, desprovidos

12
de base de legitimação no vivo” (Branco 1995: 170), conceito que considero
igualmente central neste estudo.
3. Modelo de pesquisa
Partindo da perspectiva de Castelo-Branco e Branco (2003) e de Branco (1995), e
tendo em conta os dados que constam do meu estudo, proponho o seguinte modelo
analítico que pretendo testar.
Grupos/Património
Agentes
Ideologia Mercados culturais
e turísticos
Fig. 1 – Modelo de pesquisa da (re)folclorização das práticas performativas
em torno da gaita-de-foles entre 1999 e 2004
Os agentes, motivados pela ideologia ruralista, transmitem-na aos grupos,
regulando as suas práticas, materializam-na através de eventos, organizados pelos
mercados culturais e turísticos, que estimulam e procuram nos agentes, conforme a
receptividade do público-alvo, a matriz ideológica das práticas performativas tidas
por tradicionais, como meio de prática cultural com fins políticos e emblemáticos
da entidade nacional. Estes, por sua vez, como indivíduos mobilizadores e
promotores dos repertórios, aprofundam o conhecimento do repertório, através da
sua revisitação, e actuam sobre os grupos protagonistas, dinamizadores das práticas
associadas ao contexto rural, influenciando a sua abordagem ao património
(repertórios autenticados).

13
Os agentes encontram-se no centro do modelo, visto que a sua acção é fulcral para
o processo em análise. Estes são indivíduos (ensaiadores ou directores de
agrupamentos), ou entidades reguladoras do estado (INATEL, IPJ, IA,
IPAE/Ministério da Cultura), ou das autarquias (Câmaras Municipais e Juntas de
Freguesia; Região de Turismo do Nordeste Transmontano, Governo Civil de
Bragança), ou privadas (Associações; Sons da Terra - Edições Musicais;
A.P.E.D.G.F.), que exercem a sua influência aos níveis local e regional e
promovem os grupos no mercado cultural.
4. Metodologia
A estratégia de pesquisa centra-se no desenvolvimento de uma etnografia multi-
situada, conforme sugere Marcus (1999), na qual são exploradas as conexões,
paralelismos e contrastes do processo de (re)folclorização das práticas
performativas associadas à gaita-de-foles em Miranda do Douro e na área
metropolitana de Lisboa.
O primeiro contacto que tive com a prática, morfologia, estrutura e técnicas de
execução da gaita-de-foles foi em 2000, na Vila de Alhos Vedros (Concelho da
Moita, Distrito de Setúbal), num curso de iniciação ao estudo da gaita-de-foles,
ministrado por Paulo Marinho2 e Vítor Félix
3, membros fundadores da Associação
Para o Estudo e Divulgação da Gaita-de-foles (A.P.E.D.G.F.). Tendo sido este
curso indicado por um colega de trabalho, José Gomes, professor de História na
Escola Básica 2/3 Ciclos da Quinta da Lomba, também ele, membro fundador da
A.P.E.D.G.F..
A investigação no terreno decorreu entre Fevereiro de 2002 e Agosto de 2004 em
Miranda do Douro e Lisboa. Nestes dois anos sucederam-se várias estadias em
2 Paulo Marinho, intérprete e músico urbano, pertencente aos grupos Sétima Legião, Anaquiños da Terra e
Gaiteiros de Lisboa, professor de gaita-de-foles. 3
Vítor Félix, intérprete de música popular em diversos agrupamentos nos anos oitenta e noventa,
actualmente membro do grupo Gaitafolia e construtor de instrumentos musicais, dedicando-se, sobretudo, à
construção de Gaita-de-foles.

14
Miranda do Douro, intermitentemente, e em Lisboa, através de contactos semanais
com a A.P.E.D.G.F..
No trabalho de terreno foram realizadas entrevistas etnográficas, na sua maioria
semi-estruturadas, de modo a permitir compreender as perspectivas dos
intervenientes no processo em estudo. Além das entrevistas, as conversas informais
proporcionaram-me um conhecimento mais aprofundado das perspectivas dos
diversos actores.
A observação participante também foi uma técnica fulcral. Vivênciei experiências e
situações diferenciadas no âmbito da prática musical em torno da gaita-de-foles, a
partir da observação de aulas de gaita-de-foles em Miranda e Lisboa; ensaios do
grupo Gaitafolia; festivais, encontros de gaiteiros e outros eventos onde o
instrumento desempenhou um papel fundamental. A participação na organização do
IV Encontro Nacional de Gaiteiros permitiu-me analisar o evento segundo uma
perspectiva interpessoal, proporcionando-me laços de amizade e de proximidade
com os gaiteiros presentes. Frequentei aulas de iniciação à gaita-de-foles na escola
da A.P.E.D.G.F. orientadas por Gonçalo do Carmo, Miguel Costa e Francisco
Pimenta, ex-alunos de Paulo Marinho e membros da A.P.E.D.G.F. e, ainda,
algumas aulas no Centro Galego, com Paulo Marinho, tendo a aprendizagem da
gaita-de-foles possibilitado uma melhor compreensão das técnicas de execução do
instrumento, da terminologia utilizada e do repertório.
O registo fotográfico e audiovisual foi outra das técnicas utilizadas, tendo servido
para documentar e analisar eventos centrais nos contextos estudados. Para servir de
apoio à fundamentação teórica e reportagem de todo o processo inclui, também, um
DVD com excertos que ilustram alguns dos aspectos em estudo.
Durante toda a pesquisa, observei e documentei diversos eventos, designadamente:
o III, IV e V Festivais Intercélticos de Sendim (de 2 a 4 de Agosto de 2002, 1 a 3 de

15
Agosto de 2003, de 30 de Julho a 1 de Agosto de 2004); o I, II, III e IV Encontros
Nacionais de Gaiteiros (8 de Julho de 2001, 8 e 9 de Junho de 2002, 9 e 10 de
Agosto de 2003, 18 e 19 de Setembro de 2004); a Famidouro 2002, Feira de
Artesanato e Multiactividades em Miranda do Douro (de 17 a 18 de Agosto de
2002); Romaria da Nossa senhora da Luz – Constantim, Miranda do Douro (28 de
Abril de 2002); II Encontro de Tocadores em Nisa (dias 9, 10 e 11 de Maio de
2003); Festas de Santa Bárbara, em Sendim (entre 3 e 7 de Agosto de 2003);
actuação de Ângelo Arribas na Biblioteca Municipal da Moita (dia 19 de
Novembro de 2004); Actuações do Grupo Gaitafolia (Quinta da Atalaia – Festa do
Avante, dia 7 de Setembro de 2003, Cacilhas, dia 22 de Abril de 2005); a actuação
do grupo Galandum Galundaina (Quinta da Atalaia – Festa do Avante, dia 4 de
Setembro de 2005), entre outros.

16
II - FOLCLORISMO E FOLCLORIZAÇÃO
1. Perspectiva histórica
O interesse pela cultura popular em Portugal teve início na segunda metade do
século XIX. Partiu do empenho de grupos de intelectuais, através do enaltecimento
da cultura popular e manifestações nela inspiradas, que Castelo-Branco e Branco
designam por folclorismo (Castelo-Branco & Branco 2003). Com o concurso “A
Aldeia mais Portuguesa de Portugal”, organizado pelo SNI (Secretariado Nacional
de Informação) em 1938, inicia-se a institucionalização das práticas do folclore,
segundo um modelo instituído pelo certame que permanece até aos nossos dias. O
movimento folclórico, iniciado pelo Estado Novo, reforça-se e expande-se em
democracia com o grande incremento de grupos folclóricos por todo o país
(Castelo-Branco, Neves e Lima 2003).
O folclorismo desenvolveu-se ao longo da primeira metade do século XIX, como
símbolo de um patriotismo que animou o estado liberal, que tinha como objectivo a
construção de um “estado cívico” (Ramos 2003), governado por um conjunto de
cidadãos iguais entre si, dotados de uma “opinião pública” (idem 2003: 26). Esta
ideologia só seria possível através da criação de um certo estado de espírito
colectivo, traduzido pelo termo “patriotismo”, que invocava imagens heróicas
presentes na literatura grega e latina (idem). Por outro lado, era necessário que os
cidadãos sentissem por esse grande estado o afecto que os habitantes de uma aldeia
sentiam pela sua pequena terra. Para tal, era necessário incentivar o conhecimento
da sua história, costumes e paisagens, o que faria com que estes se sentissem um
mesmo grupo.
Na segunda metade do século XIX imperou o positivismo. A nova classe
intelectual emergente atribuía a indiferença cívica da maior parte da população ao
método seguido pelas gerações anteriores para definir uma cultura comum. A nova
geração queria-se “positiva”, isto é, “científica”, e a cultura comum deveria

17
assentar na apreensão da “nação” como um facto científico (Ramos 2003: 25).
Nesta corrente encontramos Teófilo Braga, o qual levou a cabo uma vasta
investigação acerca das manifestações culturais do povo português, que
sistematizou na obra O povo Português nos seus Costumes, Crenças e Tradições
(1885). Nas últimas décadas de oitocentos, intensificaram-se nos meios
aristocráticos e burgueses as manifestações culturais inspiradas no popular, que se
traduziram no organizar de divertimentos, tais como, bailes de máscaras e serões
musicais, tendo como fonte de inspiração o mundo rural, tornadas moda, tanto em
espectáculos teatrais, como na pintura, na arquitectura ou na criação musical
erudita (Castelo-Branco & Branco 2003: 4).
A partir dos anos 20, do século passado, multiplicam-se as iniciativas de
empresários, de políticos e de intelectuais, que se traduziram na criação de
marchas, desfiles, cortejos ou paradas nas cidades. Nestas manifestações incluem-
se eventos como, o Carnaval de Torres, que surge como uma performance urbana,
“inventada” na década de 20 por um conjunto de jovens burgueses, à luz dos
festejos carnavalescos Lisboetas (Raposo 2002:464) ou as marchas populares de
Lisboa, resultantes da iniciativa de José Leitão de Barros em 1932, promovidas
como tradição festiva local e marcadas pelo seu carácter genuíno e popular (Melo
2003: 307-8). Todos estes eventos revelam a transformação a que foi submetido o
folclorismo: abandonando o “elemento paródico, toma forma de uma prática
performativa onde está codificada uma gramática para a interpretação da nação”
(Castelo-Branco & Branco 2003: 6).
O regime político instaurado com a Constituição de 1933 criou organismos de
propaganda para alcançar os seus objectivos: o Secretariado de Propaganda
Nacional [SPN], instituído em Outubro de 1933, liderado por António Ferro,
funcionava como um centro político orientador dos vários sectores da sociedade e
tinha como fim “encenar as grandes certezas e a sua tradução política, impô-las no
espírito de todos e de uma forma total: na família, nas escolas, nas aldeias, nas

18
oficinas, nas ruas, no lazer, no quotidiano” (Rosas 1993: 292). A acção levada a
cabo pelo SPN era dirigida por um conjunto de instituições, como a Federação
Nacional para a Alegria no Trabalho [FNAT], as Casas do Povo, etc. Através do
SPN, o Estado Novo dá um impulso decisivo à sua política folclorista, promovendo
uma série de iniciativas na área da “etnografia e folclore”. Esta era uma política
eminentemente estetizante, que privilegiou aquilo a que se chama arte popular
(Alves 2003:191), contudo, as iniciativas do secretariado não constituíam formas de
incrementar o conhecimento das tradições populares, mas sim, tentativas de criação
de um quadro global e fixo, de uma cultura popular encenada. O objectivo era
seleccionar para exibir, transformando a cultura popular num cenário de agradável
contemplação e, por essa via, emblemático de Portugal (idem: 196).
Institucionalizava-se um modelo de grupos organizados que exibiam música, dança
e trajos associados a determinada localidade, região ou a todo o país. A delimitação
da área geográfica representada pelo repertório de cada grupo tornou-se uma
questão central para os organismos reguladores como a FNAT (Castelo-Branco &
Branco 2003: 97).
O concurso A Aldeia mais Portuguesa de Portugal pretendia celebrar a aldeia do
território continental que “maior resistência (tivesse) oferecido a decomposições e
influencias estranhas e apresentasse o mais elevado estado de conservação no mais
elevado grau de pureza (numa série de características) definidas por regulamento”,
(Félix 2003: 207), “no que respeita à habitação; mobiliário e alfaia doméstica; trajo;
artes e indústrias populares; formas de comércio; meios de transporte (terrestres,
marítimos e fluviais); poesia, contos, superstições, jogos, canto, música,
coreografia, teatro, festas e outras usanças; fisionomia topográfica e panorâmica”
(idem: 213). O concurso, inicialmente previsto como um evento bianual, apenas se
realizou uma vez. Como observa Félix, desta iniciativa ficaram a realização de
cancioneiros ao nível nacional e regional, o Museu de Arte Popular, a publicação
regular de roteiros turísticos, entre outros, materiais que apresentam um discurso
sistematizado de carácter etnográfico e folclórico, que se tornaram objecto de
consumo, sobretudo urbano.

19
A institucionalização do folclore contribuiu, deste modo, para a difusão do canto,
da dança, e da prática instrumental, e os praticantes de folclore adoptaram uma
nova forma de cantar e de dançar: sobre um estrado, integrados num grupo misto,
acompanhados por tocadores e dançarinos fardados, perante uma assistência
passiva, que assumia o papel de ouvinte (Castelo-Branco & Branco 2003: 20).
Ao contrário do que se poderia supor, a transição do autoritarismo para o regime
democrático não correspondeu a uma ruptura ao nível dos conteúdos no que
concerne à prática folclórica, antes pelo contrário, o movimento folclórico
reforçou-se e expandiu-se (idem). Em 1977 é criada a Federação de Folclore
Português [FFP], com o objectivo de desenvolver toda uma acção pedagógica
através de colóquios, seminários, palestras e, até mesmo, o contacto directo com os
agrupamentos folclóricos (Seromenho 2003: 246). A Federação tornou-se a
entidade responsável pela prática do folclore, criando uma nova normalização,
cabendo-lhe o papel fiscalizador (Sousa 1996). Depois da revolução de Abril de
1974, surgiu um novo movimento que visava especialmente as áreas rurais, através
da intervenção de estudantes universitários e jovens profissionais, sobretudo de
Lisboa, Coimbra e Porto, fortemente inspirado pelos ideais de Fernando Lopes-
Graça e Michel Giacometti, acentuando o valor histórico e estético da música
tradicional e zelando pela sua preservação (Lima, 2000).
Como observa Jorge Freitas Branco, desde a década de 80 que se verifica a
transição para uma refolclorização (Branco 1995: 169), com o ano de 1985 a
assinalar o início deste processo, marcado pela entrada de Portugal na Comunidade
Europeia e, consequentemente, com a concertação da política agrícola. O fim dos
ciclos de produção agrícola provoca a escassez de referência material e ideal para a
maioria da população, dando lugar a elaborações cénicas baseadas em construções
de memória. Isto reflectiu-se no repertório dos agrupamentos, que deixa de ser
baseado em recolhas de primeira-mão, para se transformar em recriações inspiradas
em materiais submetidos a releitura (idem).

20
A preservação, divulgação e transmissão da tradição para as gerações mais novas,
continuam a ser os principais objectivos que norteiam os grupos de música
tradicional no final do século XX e início do século XXI. Estes mobilizam milhares
de aderentes, perpetuam memórias, (re)criam repertórios, animam espaços
públicos, proporcionam sociabilidades, (re)constroem e negoceiam identidades e
incrementam as indústrias do património (Castelo-Branco, Neves & Lima 2003:
122).
2. Primeiras representações dos Pauliteiros de Miranda
A representação da dança dos paulitos e o interesse pela língua e culturas
mirandesas fora do seu contexto ocorreu durante as duas últimas décadas do século
XIX. Em 1886, a Revista de Educação e Ensino4, refere a “dança mirandesa dos
paulitos” associando-a à dança pyrrhica dos gregos. A partir de 1882, J. Leite de
Vasconcelos, que “apreciava as tradições e a lingoagem do povo” (1900: 3),
começa a publicar diversos textos sobre o mirandês, despertando o interesse de
outros intelectuais, como se pode observar nas palavras de Manuel António Ferreira
Deusdado, numa carta endereçada a Hysson:
«Meu Caro Ch.-A. Hysson:- Visto te occupares das nossas cousas
transmontanas, acho bom que não te esqueças das tradições mirandesas,
e principalmente da língua. O meu primo Bernardo Fernandes Monteiro,
por suggestão minha, começou a publicar em 1894 na Revista Educação
e Ensino, em versão mirandesa, a primeira epístola de São Paulo aos
Corínthios (...) Essa língua, como sabes, é fallada pela população
campesina do conselho de Miranda do Douro...»5
Em 1898, um grupo de mirandeses exibiu nas ruas de Lisboa a Dança dos Paulitos,
por ocasião das comemorações do IV Centenário da Descoberta do Caminho
Marítimo para a Índia (Deusdado 1898). Segundo Ferreira Deusdado, esta não foi a
primeira vez que estes se apresentaram fora do contexto mirandês: “... vieram
4 Citada por Ferreira Deusdado (1898: 314).
5 Carta datada de 29-12-1896, publicada no jornal O repórter, nºI: 509 de 1 de Janeiro de 1897.

21
mirandezes para exibir nas ruas de Lisboa a dança dos paulitos. Há annos um
grupo d‟esses mesmos ingenuos camponeses também vieram ao Porto dançar
n‟uma festa e alguns jornaes classificaram desdenhosamente esses homens de
selvagens....” (idem).
Com a criação do SPN (Secretariado de Propaganda Nacional), em 1933, o folclore
passa a ser um instrumento importante para a mobilização política. O SNI defendia
uma ideia de tradição onde o popular estaria divorciado do erudito e desenvolvia
toda uma actividade de encenação da cultura popular, orientada para um público de
elite. A acção do secretariado assentava numa forma de transformar a cultura
popular em matéria passível de ser exibida e apresentada em espectáculo (Alves
2003:196). Por outro lado, a imagem de Portugal no estrangeiro era essencial em
todo o sistema, daí a sua acção, fazer uso da cultura popular como forma de
afirmação da identidade nacional, processo que visava a exaltação da pátria entre os
nacionais e pretender construir uma boa imagem de Portugal no estrangeiro (idem:
192).
Foi neste quadro político que, em 1933, um grupo de Pauliteiros de Miranda actuou
em Lisboa sob o patrocínio do SPN6, num espectáculo dedicado essencialmente a
artistas, escritores e alunos das escolas superiores e secundárias. Este grupo não se
dirigia à capital, estava de passagem para actuar num certame internacional de
danças regionais no Albert Hall, em Londres, organizado pelo English Folk Dance
Society. Este convite partiu do diplomata e folclorista Rodney Gallop, que na sua
estadia em Portugal entre 1931 e 1933 efectuou digressões a várias regiões,
incluindo Trás-os-Montes, onde assistiu em 1932 a uma exibição da dança dos
paulitos em Miranda. A viagem foi financiada pela Casa de Portugal em Londres,
pelo Secretariado de Propaganda Nacional, pelo Conselho Superior de Turismo,
pelo Instituto do Vinho do Porto e pelo próprio Rodney Gallop que, mais tarde,
viria a relatar: “Quando eu os vi, em 1932, os dançarinos vestiam camisa branca,
calças pretas, e colete com fitas coloridas nas costas (…) os chapéus eram
6 No subtítulo da notícia lê-se: “Foram recebidos no Secretariado de Propaganda Nacional. O quarto
espectáculo gratuito organizado por aquele organismo”, in “Os pauliteiros Mirandeses”, Diário da Manhã de
6/12/1933.

22
enfeitados com flores artificiais. A geração anterior usava saias brancas, e eles
reviveram este costume quando vieram a Londres em Janeiro de 1934” (Gallop
1961: 170).
Relativamente ao trajo dos Pauliteiros, o Diário da Manhã, datado de 30 de
Dezembro de 1933, refere que os trajos que incluíam as saias foram mandados
fazer expressamente para que os Pauliteiros se apresentassem em Londres.
Acrescenta ainda, que a este trajo “serviu de modelo aquele que no Museu de
Bragança veste, na “Sala de Miranda do Douro”, um manequim que representa o
Pauliteiro, trajo este ao Museu oferecido por um mirandês ilustre e culto (…) o
Meretíssimo Desembargador da Relação do Porto, o Sr. Dr. A. Carlos Alves” (SA
1933). Estes dados permitem-nos supor que o trajo associado aos pauliteiros terá
sido introduzido em 1933, tornando-se num dos elementos identificadores dos
grupos de Pauliteiros de Miranda. A indumentária começa a ser tema relevante no
final dos anos vinte do século passado, enquadrando “gestualidades e posturas
corporais e evocando lugares e tempos passados” (Castelo-Branco & Branco
2003:20). O trajo dos pauliteiros de Miranda integra o processo de “objectivação da
cultura”, que também se manifesta na dança e na música, tal como o definiu
Richard Handler em 1988: “a cultura como coisa: um objecto ou uma entidade
natural feita de objectos e entidades (“traços”)”, semelhante à objectivação do trajo
“à vianense” (Vasconcelos 1997: 112). Em ambos os casos, a palavra objectivação
é “duplamente adequada, uma vez que nos encontramos perante uma fixação
ostensiva da cultura em objectos materiais” (idem).
3. O papel de António Maria Mourinho (1917-1996)
As práticas associadas ao folclore mirandês foram institucionalizadas através da
acção de António Mourinho, fundador e ensaiador do Grupo de Pauliteiros de Duas
Igrejas em 1945. Este idealizava a cultura como “objecto natural” ou “repositório
de tradições culturais arcaicas” (Castelo-Branco & Toscano 1988: 29).

23
Padre António Mourinho, nas suas descrições de Trás-os-Montes patenteava os
ideais preconizados pelo Estado Novo, de um país rural, tranquilo e feliz, para o
qual Miranda do Douro era tida como um exemplo: “Somos mirandeses (…)
pastores solitários e alegres do planalto árido e frio, cantando as loas ou rimances
medievais ou tocando flautas bíblicas ou gaitas de fole, atrás do rebanho…”
(Mourinho 1961: V-VI).
Em 1942, A. Mourinho é nomeado pároco da freguesia de Duas Igrejas e, nesse
mesmo ano, apresenta-se na Sociedade de Geografia de Lisboa como poeta,
declamando poemas em mirandês, numa festa dedicada ao Dia de Miranda do
Douro, promovida pela Casa de Trás-os-Montes em Lisboa (idem 1995: 7). A
acompanhá-lo encontravam-se “três casais de mirandeses com os seus trajos
tradicionais a cantar e a dançar as “Girabolas” e outros bailados repasseados,
acompanhando os Pauliteiros de Miranda, perante cerca de 3.000 pessoas e o Chefe
de Estado” (idem 1983: 7). Este grupo parece ter-se reunido apenas para participar
neste evento. Contudo, os ideais que viriam a nortear a acção de A. Mourinho já
estavam aqui reflectidos.
É como mediador entre o Estado Novo e a população de Miranda do Douro que
Mourinho desenvolve a sua actividade (Brissos 2003: 484), através da criação e
orientação, a partir de 1945, do “Grupo Folclórico Mirandês de Duas Igrejas,
(pauliteiros de Miranda) com suas “três secções, de danças masculinas, mistas com
coros e instrumentos, para recolha, conservação e divulgação do folclore tradicional
mirandês” (Mourinho 1995: 25). Este grupo era constituído por trinta e dois
elementos, vinte e dois do sexo masculino e dez do sexo feminino (idem 1983:19).
As perspectivas de Mourinho pareciam articular-se com os propósitos do governo e
com a acção reguladora do SPN, quando refere em 1948: “Faz muita falta um
serviço nacional de correcção destas coisas, porque ajudaria a vincar mais a
personalidade das regiões e prendê-las à sua terra, no amor e admiração das suas
coisas” (idem 1991: 22).

24
Valorizando o património local associado ao meio rural, Mourinho procura fontes
para a construção do folclore, através da recolha efectuada junto das pessoas mais
idosas da região. Parte destas recolhas foram coligidas no Cancioneiro Tradicional
e Danças Populares Mirandesas, no Cancioneiro Tradicional Mirandês de Serrano
Batista ou em outras publicações onde se apresentam desde lendas ao teatro
popular, romances e géneros associados à dança, como os lhaços. É com base
nestas recolhas que orienta o grupo, “sem perder a fidelidade e a tradição no Trajo,
na Dança e no Canto e nos instrumentos musicais...” (Mourinho 1983:8).
Apoiado pelos órgãos estatais e locais, Mourinho orienta festas, comemorações,
saídas do grupo fora do concelho e todas as manifestações objectiváveis da cultura
mirandesa, intervém na selecção e adaptação do repertório e na projecção da
localidade através do folclore. O grupo ficou conhecido a nível nacional como “Os
pauliteiros de Miranda”. E assim, sustentado pela imagem de uma nação pura e
ruralista, o folclore tomou um lugar de destaque, revelando-se não apenas a nível
nacional, como ao nível internacional, através de iniciativa inscrita no projecto
turístico promovido pelo Secretariado Nacional de Informação [SNI] (Sousa 2003:
570). Para as populações locais, o turismo era visto como um mercado para o
folclore, que poderia ser benéfico para as aldeias, como forma de obtenção de
melhoramentos públicos ou como possibilidade de escapar ao isolamento.
A acção de Mourinho iniciada durante o Estado Novo continua no Regime
Democrático. A partir do 25 de Abril de 1975, em Miranda do Douro, tal como no
resto do país, o que, até então, tinha sido “assunto de estado passa a matéria de
apropriação local: é ao nível autárquico que se geram os financiamentos
indispensáveis” (Castelo-Branco & Branco 2003: 15). Foi então, precisamente com
o apoio da autarquia, que em 1982 Mourinho fundou o Museu das Terras de
Miranda, exercendo o cargo de Director até 1995. A ideologia ruralista que
privilegia a preservação da tradição e da identidade locais está ainda hoje patente
na exposição permanente do Museu, que integra objectos recolhidos por A.

25
Mourinho junto da população rural, tais como: trajos, máscaras, gaitas de fole,
alfaias agrícolas e diversos instrumentos de lavoura.
O discurso regionalista, iniciado por eruditos locais no princípio do século XX, foi
fortemente desenvolvido por António Mourinho na segunda metade desse século,
contribuindo para a delimitação de uma área associada à língua e cultura
mirandesas. Em toda a obra literária de A. Mourinho existem descrições de
determinados aspectos que retratam a identidade mirandesa, não só através da
língua como, também, através do trajo, da dança, da música e do teatro. A
importância dada à língua mirandesa enquanto representação da identidade local
contribuiu para que Júlio Meirinhos, então deputado na Assembleia da República
pelo Partido Socialista, conseguisse o reconhecimento oficial da língua mirandesa.
Os agentes envolvidos no processo de (re)folclorização da gaita-de-foles em
Miranda do Douro são fortemente influenciados pelo trabalho de A. Mourinho,
bem como os grupos de música tradicional mirandesa, gaiteiros e artesãos, para os
quais a figura de A. Mourinho ainda está bem presente. A gaita-de-foles assume-se
como um dos principais instrumentos musicais nas primeiras representações dos
pauliteiros de Miranda: “Os dois instrumentos musicaes de que se servem para
dançar são o tamboril e a gaita-de-foles” (Deusdado 1898) e Mourinho adopta para
o grupo que dirige “instrumentos simples e primitivos: gaita de fole, caixa e
bombo, flauta pastoril, ferrinhos, conchas, castanholas, pandeiros e pandeiretas”
(Mourinho 1983: 19). Na actualidade, a gaita-de-foles surge como património
autenticado, alvo de um processo de objectivação (Handler 1988) por parte dos
agentes e dos grupos locais.
A actividade de António Mourinho em torno das práticas folclóricas teve,
igualmente, impacte a nível da morfologia do instrumento: a “gaita-de-foles
mirandesa” de “aspecto rude e quase primitivo, uma das mais completas, pela sua
perfeição sonora, pela modulação musical, pelo acervo da ponteira7 com o bordão e
7 Ponteira – Designação em Miranda do Douro para o tubo melódico da gaita-de-foles.

26
pela afinação” (Mourinho 1991: 165), foi apropriada, localmente, pelos artesãos,
nomeadamente, Ângelo Arribas, que no final dos anos 1980 começou a dedicar-se à
construção do instrumento e uma década depois era considerado um dos
construtores mais conceituados da região. Mourinho, numa tentativa de preservação
da tradição mirandesa, incentiva Arribas a manter as características do modelo da
gaita-de-foles transmontana (Oliveira 1966) e a afastar-se dos modelos galegos,
como refere Ângelo Arribas em entrevista:
“...a minha 1ª gaita-de-foles, isto já foi em 84, 85, (...) pus ali um Black and
Decker e saiu a primeira gaita-de-foles. Pus-lhe um fole galego e andava
com ela no carro. Um dia passo pelo P.e Mourinho em Miranda, que olhou
para mim e perguntou-me em Sendinês:
- O que tu trazes aí?
- É uma gaita-de-foles Sr. Doutor...
- Quem se la fêz?
- Fui eu
- Tira-me isso daí para fora!... Isso não é nosso!... Isso é galego... isso não
presta!
- Bás para casa... matas le um chibo, comes la carne, põe-lhe la pele... (...)
E, eu assim fiz, fui a Sendim, falei lá com o cortador, que me matasse um
cabrito e que me tirasse a pele. Pus-lhe a pele e continuei a trazer a gaita no
carro. Daí a uns dias viu-me, que me foi buscar para irmos actuar e…
perguntou-me pelo caminho:
- Então … fizes-te o que eu te mandei à gaita-de-foles?...
- Fiz Sr. Doutor.
- E ainda fazes mais?
- Faço…
- Sim senhor, fazes bem, se continuares não te falta emprego”. (Entrevista a
A. Arribas 5/8/2003)8.
8 A minha transcrição do sendinês pretende representar a fonética transmitida.

27
Mais tarde, no final dos anos 1990, a Associação Galandum Galundaina procurou
desenvolver um modelo uniforme “da gaita-de-foles mirandesa (...), com o timbre e
a afinação que lhe é característico” (SA 1998: 79) (temática a abordar no próximo
capítulo). E, neste âmbito da genuinidade, a procura do “timbre mirandês” levou
outros gaiteiros a dedicarem-se à concepção de palhetas. Henrique Fernandes, por
exemplo, neto e bisneto de gaiteiros, iniciou a aprendizagem do instrumento com
A. Arribas, em 2000, contudo, descontente com o timbre e afinação adquiriu outro
instrumento à Associação Galandum Galundaina, e desde 2002/3 constrói palhetas
para a “gaita mirandesa”, numa tentativa de encontrar a sonoridade dos gaiteiros
mirandeses mais antigos, registados em fonogramas.

28
III. A (RE)FOLCLORIZAÇÃO DAS PRÁTICAS PERFORMATIVAS DA
GAITA-DE-FOLES: O PAPEL DA GALIZA E DOS AGENTES EM
MIRANDA DO DOURO E LISBOA
No presente capítulo pretendo reflectir sobre o papel dos agentes no processo de
(re)folclorização das práticas performativas associadas à Gaita-de-foles em
Miranda do Douro e na área metropolitana de Lisboa, com especial destaque para:
instituições autárquicas (Departamento Cultural da Câmara Municipal de Miranda
do Douro), associações (Associação Cultural Galandum Galundaina; Associação
Juvenil Mirai Qu‟Alforjas; Associação Para o Estudo e Divulgação da Gaita de
Foles), e ainda indivíduos (Mário Correia e Paulo Marinho). Para além destes
agentes, a institucionalização do ensino da Gaita-de-foles na Galiza, a partir dos
anos 1980, teve um forte impacte no processo em análise.
1. A folclorização em Espanha e o seu impacte sobre a prática performativa
da gaita-de-foles em Miranda do Douro e Lisboa
Em Espanha, no início do século XX, configuraram-se uma série de narrativas em
torno de determinados géneros musicais e coreográficos, que foram utilizadas por
movimentos associativos que pretendiam revitalizar ou recuperar tradições perdidas
(Martí 1996, 1998), onde as características inerentes a cada um foram fortemente
potenciadas devido a razões de confrontação com o “outro”, numa tentativa de
definição de identidades (Costa 2000: 26). Como observa Josep Martí, a música e a
dança são áreas propícias para a definição destas identidades, pois são dotadas de
capital simbólico e veiculam mensagens e ideologias que têm como base
interpretações da cultura (1998). Estes movimentos foram apropriados e apoiados
pelas políticas regionais e transformaram-se em marcas da identidade regional, nas
quais a música ocupou um lugar central. Géneros musicais, categorias
coreográficas, instrumentos musicais e trajo, foram reconfigurados com base na
“autenticidade”, “especificidade” e “genuinidade” (Costa 2000: 26), dando origem
à associação da Jota a Aragão, a Muiñeira à Galiza, a Sardana à Catalunha, etc.
(Castilho 2000), ou a instrumentos musicais como a gaita-de-foles galega, gaita-de-

29
foles asturiana, gaita-de-foles sanabresa, gaita-de-foles alisteana (instrumentos
semelhantes quanto à morfologia, distinguindo-se uns dos outros, sobretudo, pelo
timbre ou pela técnica interpretativa).
O regime político implementado pelo General Franco, à semelhança de outros
regimes políticos totalitários na Europa, promoveu as práticas folclóricas como um
dos meios para a construção da nação. Tal como em Portugal, a passagem para
regime democrático não significou uma ruptura com as práticas instituídas pelo
regime de Franco. Espanha transformou-se num estado constituído por regiões
autónomas que necessitavam de recuperar ou inventar a sua identidade regional.
Através das práticas folclóricas, reforçaram-se as fronteiras administrativas e
proliferaram os festivais e competições de música e danças tradicionais,
agrupamentos e associações recreativas. O apoio às práticas folclóricas partiu,
sobretudo, do governo central, como forma de promoção turística, sector muito
importante na económica do país (idem).
Tal como em Espanha, Portugal foi governado por um regime ditatorial que se
apropriou das práticas folclóricas. A criação da imagem idílica, transmitida pelo
Estado Novo, de que Trás-os-Montes era uma “relíquia e mostruário do que mais
antigo ainda restava” (Leça 1942), viria a perdurar até bem recentemente9. Em
1938, organizado pelo SPN e enquadrado num movimento mais vasto de acção em
torno do folclore nacional, surge o concurso “A Aldeia Mais Portuguesa de
Portugal”, do qual Trás-os-Montes foi afastado devido a obstáculos colocados pelo
Júri Provincial que praticamente se opôs a participar no concurso (Félix 2003: 216).
Na verdade, a região sempre esteve muito ligada a Espanha. As fronteiras políticas
não impediram os contactos culturais e comerciais entre ambos os países, nem
durante o Estado Novo, nem após a instauração do Regime Democrático, até
porque, muitas vezes, a fronteira política atravessa a mesma aldeia, mas esta
funciona como um todo. Veja-se os casos de Rio D‟Onor (Brito 1991, 1996), a
Aldeia de Fontelas (O‟Neill 1991) e da Romaria da Senhora da Luz (Ribeiro 1967),
9 Veja-se a título de exemplo o estudo de A. Caufriez de 1997.

30
entre outros. É neste contexto que se insere Miranda do Douro, cidade fronteiriça
que sempre estabeleceu laços culturais e comerciais com o país vizinho, com
reflexos aos níveis da língua, da música, da dança e do trajo.
Como afirmam os redactores da Convenção Ortográfica da Língua Mirandesa (um
grupo de especialistas locais, linguistas do Centro de Linguística da Universidade
de Lisboa e da Universidade de Coimbra), o mirandês tem paralelismos com o
leonês, mas para “poder ser reconhecido como um código de identificação colectiva
pela população a que se destina” nunca poderia ter uma “unidade de escrita
transfronteiriça” (Ferreira & Raposo 1999: 10). Falado, sobretudo, nos meios
rurais, a sua oficialização pelos órgãos estatais centrais, permitiu a sua preservação
e divulgação através da introdução desta língua como disciplina no ensino básico e
secundário na região de Miranda, bem como, a edição de um crescente número de
obras literárias em Mirandês.
De entre os géneros coreográficos associados à dança tradicional, existentes nos
dois lados da fronteira, encontram-se as “danças de espadas”, ou “danças de
bastones”, ou “danças dos paulitos”, que estão documentadas desde o século XV.
Estas são dançadas por oito homens, que percutem paus, acompanhados pela gaita-
de-foles, bombo e caixa (Recasens 2000), e existem, sobretudo, em Miranda do
Douro, Zamora, Leão, Salamanca e Valladoilid, com traços estilísticos comuns que
se reflectem a nível das coreografias, trajo, repertório e instrumentos usados. No
que concerne aos lhaços10
, dos vinte cinco existentes em Miranda, 15 são comuns a
Zamora, 6 são comuns a Zamora e a outras localidades circundantes e outros 4
encontram-se nas províncias vizinhas, mas não em Zamora (Mourinho 1953, 1957,
1980; Matellán 1987). A utilização das saias na indumentária, também, é comum
em regiões dos dois países vizinhos, assim, Matellán refere que esta se manteve em
Miranda, Lobznos (Zamora), Laguna de Negrillos (Léon), Sarinena, Serra Graus y
10
Género musical associado à coreografia da “dança dos paulitos” (ver capítulo VI).

31
Allora (Aragon), enquanto nos outros lugares foi substituída pelo calção branco ou
negro (Matellán 1987: 47-48).
Nas danças mistas encontram-se, igualmente, paralelismos com Espanha. O
repertório mirandês integra modas11
como a Cerigoça que, também, foi
documentada em Espanha com a designação de jerigonza, jeringonza, ou jeringosa
(Recasens 2000), ou o Pingacho, provavelmente, de origem espanhola, que acabou
por se fixar na região de Miranda. Este bailado reflecte, segundo António
Mourinho, a influência espanhola na letra, e na música, através dos ritmos usados
(Mourinho 1957:18). São, também, partilhados traços estilísticos aos níveis rítmico
e melódico, sobretudo, entre as regiões de Zamora e Miranda do Douro12
.
As relações culturais entre a região de Trás-os-Montes e as províncias espanholas
contíguas fazem-se sentir igualmente no canto. Caufriez, a partir de um estudo
realizado em Trás-os-Montes sobre o romance, considera que o romanceiro
português tem origem no romanceiro espanhol e constata que algumas versões que
se cantam nas comunidades rurais actualmente são idênticas às dos cancioneiros
ibéricos do século XVI (Caufriez 1997).
O intercâmbio entre Portugal e Espanha no final do século XIX e durante o século
XX era uma constante, veja-se a título de exemplo um estudo sobre “A gaita galega
em Tui”, no qual Ernesto Almeida verifica que na última década do século XIX
existiam concursos de gaiteiros, como o certame de gaitas que ocorreu em Tui a 23
de Junho de 1891, integrado nas Festas em Honra de S. Telmo (Oliveira 2001: 31).
Neste concurso participaram inúmeros gaiteiros, avaliados por um júri, cuja
constituição integrava um elemento português (idem).
A actividade gaiteiristica na Galiza foi-se intensificando na primeira metade do
século XX, dando origem ao aparecimento de oficinas de construção, entre elas, a 11
Conceito émico para composição cantada ou tocada. 12
Gallop considerava que esta influência se fazia sentir sobretudo ao nível rítmico (nos compassos usados:
6/8 e 3/4) e melódico (nomeadamente no uso da “escala andaluza”, com a cadência lá, sol, fa, mi) (Gallop
1937: 33).

32
mais próspera foi fundada em 1939, por Xosé Manuel Seivane Rivas, na província
de Lugo. De referir que, este é um dos construtores mais conceituados da Galiza na
actualidade.
Nos anos 1980, houve um boom de grupos de gaitas de fole formalmente
organizados,13
e em Setembro de 1984, a Universidade Popular de Vigo integra no
seu ensino a gaita-de-foles galega, para além de iniciar, também, cursos de
construção de instrumentos populares galegos, entre os quais a Gaita-de-foles.
A criação de oficinas de construção na Galiza, bem como os movimentos
regionalistas tiveram impacte na (re)construção do instrumento em outras regiões
de Espanha, nomeadamente, nas Astúrias, Sanábria e Aliste, e, ainda, em Portugal,
em Miranda do Douro e Lisboa.
No final dos anos 1990 e início do século XXI começaram a surgir alguns gaiteiros
em Miranda do Douro que se dedicaram à construção da Gaita-de-foles. O modelo
galego serviu de base, mas a influência fronteiriça deu lugar a “especificidades”
que associam cada instrumento a dada região. Célio Pires construiu a primeira
Gaita-de-foles há cerca de uma década, a partir de um modelo de Ângelo Arribas.
Descontente com a afinação procurou estudar ponteiros galegos, construindo
actualmente “gaitas galegas (em Dó e Si b), gaitas sanabresas, gaitas marciais,
escocesas e “gaitas mirandesas” (Entrevista a Célio Pires 4/8/2004). Outro gaiteiro,
Desidério Afonso, que toca gaita-de-foles desde 2000, começou a construir a partir
de 2002, com base num modelo da gaita-de-foles do gaiteiro que acompanhava os
Pauliteiros de S. Martinho em meados do século XX, freguesia onde reside.
Actualmente, constrói gaitas sanabresas, baseando-se nos modelos de Célio Pires e
tem vindo a desenvolver a construção de palhetas, processo que iniciou através da
13 As “bandas de gaitas” já existiam anteriormente, sendo referidas por Ernesto Veiga Oliveira em 1966, o
qual afirma que se viam “bandas compostas unicamente por gaiteiros, em número muito avultado” (Oliveira
2000: 223).

33
partilha de experiências com os construtores da Associação para o Estudo e
Divulgação da Gaita de Foles e com artesãos espanhóis.
A construção do instrumento em Lisboa foi influenciada pela Galiza, como foi
referido. Abordarei este processo com maior detalhe, no ponto dedicado a Paulo
Marinho e à Associação Portuguesa para o Estudo e Divulgação da Gaita-de-foles.
Com a integração de Portugal e Espanha na Comunidade Europeia e a consequente
abolição das fronteiras intensificaram-se os contactos entre as povoações
pertencentes ao concelho de Miranda e as províncias espanholas limítrofes. A
televisão espanhola, captada na região fronteiriça chega também ao resto do país
através da televisão por cabo, tornando-se um meio difusor da cultura em todas as
classes sociais. Ambos os factores se reflectiram na construção e aprendizagem da
gaita-de-foles na última década do século XX.
A maioria dos gaiteiros mirandeses refere que fez a aprendizagem do instrumento
de modo auto-didacta. Contudo, constatei através de conversas com outros gaiteiros
ou pessoas ligadas à região que alguns fizeram parte da sua aprendizagem em
Travanca, vila Espanhola próxima da fronteira de Bemposta, onde existe uma
escola dedicada ao ensino do instrumento. Outros aperfeiçoaram a técnica em
escolas na zona da Galiza, nomeadamente, na Escola Provincial de Gaitas de
Ourense.
A introdução do ensino da gaita-de-foles nos conservatórios na Galiza contribuiu
para a disseminação do instrumento em zonas urbanas.
O estatuto do gaiteiro alterou-se, começando a surgir a separação entre intérprete e
compositor, este último passa a ser identificado, o que até então só se verificava na
música erudita. Por outro lado, a abordagem ao instrumento também sofreu
transformações. A gaita-de-foles deixa de ser acompanhada apenas por
instrumentos de percussão e começa a integrar formações instrumentais diversas,

34
como por exemplo as bandas de rock ou a acompanhar instrumentos de afinação
fixa, como o piano. Surge o gaiteiro virtuoso, o qual adquiriu um estatuto
importante no meio devido às qualidades artísticas e técnicas que lhe são
reconhecidas e não à funcionalidade da música que desempenha. Associada ao
virtuosismo, assiste-se a uma crescente complexidade das melodias. O capital
social ganho pelos gaiteiros estimula os jovens a aprender o instrumento.
As alterações na prática e nos contextos performativos da gaita-de-foles na Galiza
geraram alguma polémica por parte das facções mais puristas. As divergências
entre conservadores e agentes abertos à mudança surgiram com a formação de
bandas de gaitas na Galiza, as quais são consideradas pelos conservadores o
resultado da influência da Escócia, por isso, não autênticas e desvirtuadas da
performance tradicional14
. De facto, estes agrupamentos passaram a estar
associados às bandas marciais escocesas, tendo como expoente máximo a Real
Banda de Gaitas de Ourense (R.B.G.O.), cujo director, Xosé Lois Foxo, é
subsidiado pela Diputación Provincial de Ourense. Este grupo proeminente, logo
passa a ser contestado devido “às suas opções estéticas, não só musicais como
visuais” (www.realbanda.com). A polémica em seu redor intensifica-se devido aos
subsídios provinciais e ao apoio mediático de que a R.B.G.O. beneficia. Contudo,
continuam a surgir cada vez mais bandas de gaitas por toda a Espanha, com maior
incidência na Galiza, onde o processo de folclorização das práticas associadas ao
instrumento teve início.
A institucionalização do ensino da gaita-de-foles na Galiza foi seguida por alguns
jovens portugueses, os quais tinham como referência o GAC (Grupo de Acção
Cultural)15
. Entre estes jovens encontrava-se Paulo Marinho, de ascendência
14
Sobre esta questão ver a edição especial da revista DO brilhante, nº 1 de 1995, editada pela Asociación de
Gaiteiros Galegos. 15
Fundado em 1 de Maio de 1974 por José Mário Branco, organizou-se segundo uma estrutura político-
cultural a qual utilizava a música como meio de propaganda ideológica. O primeiro LP A cantiga é uma
arma (1975), utilizava, na maioria das composições, violas e baixos eléctricos. O segundo, Pois Canté!
(1976), é marcado pela influência dos instrumentos tradicionais, como a gaita-de-foles, o bombo e o adufe.
A partir deste LP, o GAC canaliza as suas preocupações políticas para o “povo” e sua representação musical,
invocando recolhas, instrumentos tradicionais, canções de trabalho, etc. Esta abordagem da música

35
minhota, que começou a visitar a Galiza com regularidade a partir dos anos oitenta
do século passado e a interessar-se pelo estilo performativo da gaita-de-foles galega
(ver capítulo III). Nos anos noventa muitos outros jovens começaram a demonstrar
interesse pela aprendizagem do instrumento e, posteriormente, iniciam-se no
instrumento em Lisboa, com Paulo Marinho.
No início do século XXI, as bandas de gaitas começam a surgir em Portugal,
sobretudo na região fronteiriça com a Galiza e na zona litoral acima do Rio Tejo,
onde a influência da Real Banda de Gaitas e de Xosé Lois Foxo é notória. Em
Setembro de 2004, decorreu em Coimbra o I Festival Internacional de Gaiteiros. O
encontro teve o apoio da Câmara Municipal de Coimbra e a participação de mais de
duas centenas de gaiteiros provenientes da Bretanha, Astúrias, Galiza, Catalunha e
Portugal (Valpaços, Condeixa, Coimbra, Soure, Miranda do Douro, Porto, Lisboa).
Este foi o primeiro evento do género em Portugal, não obstante, outros semelhantes
serem frequentes em Espanha e noutras regiões da Europa.
Em Março de 2005, Aveiro assistiu ao XV Campeonato da Liga Galega de Bandas
de Gaitas, promovido pelo Ayuntamento de Ourense, Galiza, e pela Associação
Cultural de São Bernardo, de Aveiro, um evento que juntou quatro mil gaiteiros,
provenientes de Portugal e Espanha. Tratava-se de um concurso entre as bandas de
gaitas, as quais eram avalizadas por um júri, que através de uma classificação elege
a “melhor” banda. Estes e outros eventos vieram contribuir para o processo de
(re)folclorização da gaita-de-foles em Portugal.
2. Agentes (re)folclorizadores em Miranda do Douro e Lisboa
O movimento associativo, folcloristas, e outros estudiosos, tiveram um papel
decisivo no processo de (re)folclorização das práticas musicais associadas à gaita-
de-foles. Detentores de um capital cultural ou capital escolar, que possibilita a
validação de determinada cultura expressiva, a posição social destes agentes e os
tradicional constituiu uma referência para os grupos de recriação da música tradicional que surgiriam
posteriormente (Correia 1984: 201).

36
discursos ou representações por si produzidos sobre as tradições locais são
correlatos do poder de “autenticação” (Vasconcelos 1997: 232).
As tradições não se reproduzem de forma independente e apenas são conhecidas
através dos desejos humanos, sendo apenas o ser humano que as pode recriar e
modificar (Shils 1981:14). A “emancipação das tradições” é uma característica
presente na nossa civilização (idem 1981: 324), e no contexto em estudo essa
emancipação esteve relacionada com o papel desempenhado pelas associações, ou
por indivíduos que mobilizaram apoios em torno de actividades que motivaram a
(re)folclorização, como festivais, encontros e competições. Em Miranda do Douro,
destacam-se Mário Correia e o Centro de Música Tradicional Sons da Terra, a
Associação Cultural Galandum Galundaina, a Associação Juvenil Mirai Qu‟
Alforjas, e em Lisboa, Paulo Marinho e a Associação para o Estudo e Divulgação
da Gaita de Foles (A.P.E.D.G.F.).
Mário Correia
Mário Correia surge em todo o processo de (re)folclorização das práticas
performativas associadas à gaita-de-foles, como agente mediador entre a população
rural, os eruditos e notáveis locais, as associações, os grupos organizados de defesa
ou promoção do património cultural, a imprensa escrita, radiofónica e audiovisual,
e os políticos responsáveis por instituições de âmbito local, regional e nacional.
Iniciou o seu percurso jornalístico em 1970, na revista Mundo da Canção,
colaborando com outros jornais, nomeadamente o Diário de Notícias, 1º de Janeiro,
Notícias e Musicalices, com artigos centrados sobretudo na temática da música
tradicional. Licenciado em Economia, pela Faculdade de Economia do Porto,
começou a interessar-se pela música tradicional desde cedo. Em 1984, escreveu
Música popular portuguesa: um ponto de partida, obra pioneira na historiografia
da “música popular portuguesa”. Marcada por uma ideologia centrada na
preservação da tradição, esta obra pretendia “traçar uma panorâmica global de todo
o percurso da música popular portuguesa” (Correia 1984: 8), desde as Canções

37
Heróicas de Fernando Lopes Graça, à chamada “música de intervenção”, baseando-
se, sobretudo, nas entrevistas dos vários intervenientes publicadas em jornais e na
investigação sistematizada que levou a cabo. A obra contribuiu efectivamente para
a divulgação da “música popular portuguesa” e, ao mesmo tempo, para uma crítica
da política cultural do país pela negligência da música popular portuguesa, em
especial, nos meios de comunicação social, como a rádio ou a televisão (idem:
343).
Em 1987, Mário Correia traduz para português o libreto do LP Música Tradicional
Zamorana, um volume sobre a Terra de Miranda, editado pela Tecnosaga, obra
importada e distribuída pela Mundo da Canção, empresa de que viria a fazer parte
entre 1991 e 1998, exercendo funções na direcção administrativa e financeira. Esta
empresa funcionava como uma indústria do património, divulgadora dos mercados
culturais e turísticos, promovendo iniciativas associadas à “música tradicional”, à
“world music”, à “música folk”, à “música celta”. Associada ao Mundo da Canção,
foi criada empresa Discantus, Sociedade Portuguesa de Música, que se dedicava à
“importação e distribuição nacional de catálogos estrangeiros de músicas folk,
tradicional e étnica, clássica e contemporânea, jazz e blues, ligeira e pop/rock”
(www.discantus.pt) e, ao mesmo tempo, a produção e divulgação do Festival
Intercéltico do Porto.
Motivado por uma ideologia centrada na preservação das tradições do meio rural,
começou a realizar recolhas em Trás-os-Montes a partir do final da década de 1990.
Em 1997, convidou o Grupo Galandum Galundaina, de Fonte da Aldeia, para
actuar no Festival Intercéltico do Porto, grupo que ocupa um lugar importante na
produção da identidade local mirandesa.
“Saturado” da vida urbana, Correia abandona o Mundo da Canção em 1998, para se
dedicar em exclusivo à recolha do património tradicional, sobretudo na região de
Miranda (Entrevista a Mário Correia em 30/4/2002). Fixa residência em Sendim,
onde funda o Centro de Musica Tradicional Sons da Terra, dando início à

38
constituição de um acervo de gravações musicais, provérbios, orações, contos,
versos, etc., obtidos através de recolhas nas zonas rurais junto da população mais
idosa. Neste centro, coloca à disposição do público interessado diversos
fonogramas e literatura relacionada com a música tradicional de várias regiões do
globo, para além do acervo musical constituído pelos documentários televisivos de
autoria de Michel Giacometti, Povo que Canta, constituídos por “fragmentos de
inquéritos musicais (...) realizados entre os anos 1970 e 1972” (Wefford 2004: 29).
De referir, que esta obra apenas se encontra disponível ao público neste local e no
Museu Verdades Faria, em Cascais. No Centro, Mário Correia também promove
exposições e conferências e, desde 2002, cursos de gaita-de-foles, pois este espaço
pretende incentivar as práticas musicais associadas ao instrumento e desenvolver
todo um conjunto de actividades que estimulem a sociabilidade entre várias
gerações, neste caso, entre os gaiteiros que ensinam e os que aprendem (Entrevista
a Mário Correia em 30/4/2002).
Verificam-se algumas mudanças inerentes ao processo de ensino que decorre neste
espaço, resultantes de decisões tomadas por Mário Correia, acerca do modo de
fazer música e sobre práticas sociais e culturais que reflectem a sua experiência. A
gaita-de-foles utilizada para promover o ensino, é um modelo de gaita galega
afinada em Sib, que permite aulas em conjunto, estimulando o aparecimento de
grupos de diversos gaiteiros a tocarem em simultâneo, fenómeno pouco comum até
então na região (Oliveira 2000: 105).
Para além deste centro, Mário Correia criou a empresa Sons da Terra – Edições e
Produções Musicais, oficializada em 2002, fazendo a sua gestão no mercado
cultural e turístico, no âmbito nacional, migratório, diaspórico e internacional. A
Sons da Terra serve de suporte para a edição de fonogramas baseados sobretudo
nas recolhas realizadas por Mário Correia, algumas das quais em colaboração com
outras entidades. A gestão e distribuição é feita através da Internet, venda em
museus (Museu de Etnologia em Lisboa, Museu das Terras de Miranda, etc.),
associações (Associação José Afonso) ou através da venda directa, quer no Festival

39
Intercéltico, quer noutros eventos semelhantes. Em média a tiragem de cada
fonograma é de 600 exemplares, o que a classifica como uma pequena empresa.
Apesar de ser apoiada por capitais próprios, depende ainda dos apoios de diversas
entidades oficiais, como as Câmaras Municipais, Juntas de Freguesia, Região de
Turismo do Nordeste Transmontano, IPAE, Ministério da Cultura, INATEL, entre
outros. O apoio destas entidades é determinante para o seu funcionamento.
As publicações literárias que edita incidem em temáticas relacionadas com as
tradições rurais, ou com obras que privilegiam a língua mirandesa. Em 2001,
Correia publica Raízes Musicais da Terra de Miranda, obra que apresenta uma
amostragem das edições discográficas já editadas pela Sons da Terra. Organizada
sob a forma de catálogo discográfico, reflectindo determinadas opções do editor,
nomeadamente a edição em fonograma do repertório de um gaiteiro, grupo de
cantores ou de “cantadeiras16
”, associados a uma aldeia ou lugar.
No ano de 2003, escreve Bi Benir la gaita!... Contributo para a História dos
Gaiteiros Mirandeses, onde apresenta perfis de vida de dezanove gaiteiros
mirandeses. Até à data editara cerca de trinta fonogramas com recolhas por si
efectuadas, sobretudo em Trás-os-Montes, dezasseis dos quais de gaiteiros
mirandeses.
A atenção dada aos gaiteiros por parte de Mário Correia, quer através da gravação
de fonogramas, quer através de promoção em espectáculos, contribuiu para a
valorização da gaita-de-foles e do seu repertório. Os fonogramas tornam-se numa
fonte de património constituído por repertórios autenticados, essenciais na
negociação da posição da música mirandesa no mercado de música e danças
tradicionais.
“Descobriram-se novas funções e contextos para os gaiteiros. O facto da
região de turismo convidar gaiteiros para as mostras gastronómicas veio
16
Termo émico referente a grupo de cantoras.

40
arranjar trabalho e estimulo. Reivindico ter sido a pessoa que introduziu o
pagamento aos gaiteiros. Fui acusado na 1ª festa da gaita-de-foles de dizerem
que eu tinha prejudicado isto, porque a partir da altura em que comecei a pagar
aos gaiteiros, não há nenhum que toque de graça. Eu pago-lhes 7 a 10 contos
por dia…” (Entrevista a Mário Correia 30 de Abril de 2002).
Além das actividades acima mencionadas, Mário Correia organiza desde 2000 o
Festival Intercéltico de Sendim, em colaboração com a Associação Mirai
Q‟Alforjas, sedeada na vila. O festival insere-se num conjunto de mercados
culturais e turísticos que promovem a “música tradicional”, a “world music”, a
“música folk” e “música celta”. A realização deste evento produziu efeitos a nível
da economia local, nomeadamente a criação de algumas infra-estruturas na região e
o desenvolvimento de áreas como o artesanato. Para além deste evento, dinamiza
desde 2003 o concurso “Arribas Folk”, que decorre em Sendim. Trata-se de um
concurso para “bandas Folk portuguesas” que surgiu como meio de estimular o
aparecimento de novos agrupamentos. Com este concurso, Mário Correia detém
alguns mecanismos de auto-regulação dos grupos participantes, ao eleger o melhor
grupo, ao qual é facultada a participação na abertura do Festival Intercéltico de
Sendim, favorecendo a aceitação pelas rádios locais ou ainda a inserção comercial
nos espectáculos do circuito turístico.
Em resumo, Mário Correia criou um novo espaço simbólico, estimulando a
diversificação dos grupos locais e as suas actuações. O folclore mirandês constitui
assim uma mercadoria turística centrada em dois modos de representação
folclórica: por um lado a busca da autenticidade, por outro, a procura de elementos
que satisfaçam o público turista (Kirshenblatt-Gimblett 1995). É o caso dos grupos
de gaiteiros cuja formação segue o modelo implementado no final do século XIX17
e ao longo de todo o século XX, constituídos por um gaiteiro, um tocador de caixa
e um tocador de bombo, bem como os grupos de vários tocadores de gaita-de-foles
17
O Jornal o Século, datado de 21 de Maio de 1898, refere a presença em Lisboa de um grupo de pauliteiros
de Miranda, por ocasião das Comemorações do IV Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a
Índia, cuja orquestra era composta por “um tocador de gaita-de-foles, de um exímio tocador de pífaro, que os
dirige, e um tambor e um bombo”.

41
acompanhados por instrumentos de percussão, como a caixa e o bombo, ou ainda,
formações que utilizam o material folclórico como fonte de inspiração, mas que
incorporam novos elementos, melódicos, rítmicos ou timbricos, como o Grupo
Galandum Galundaina.
O Departamento Cultural da Câmara Municipal de Miranda do Douro
Em 2002, no III Congresso de Trás-os-Montes e Alto Douro, realizado em
Bragança, António Jorge Nunes, presidente da comissão executiva, reconhecia a
“existência de uma identidade cultural transmontana de matriz rural”, que deveria
ser “preservada através de projectos de recolha, estudo e consequente publicação e
divulgação, para dessa forma ajudar a fixar a memória de vivências cuja
sobrevivência estaria ameaçada” (Nunes 2002: 80). Para isso considerava
fundamental o “incentivo e apoio à actividade das colectividades e agentes culturais
individuais, bem como a criação de equipamentos e infra-estruturas para a
realização de tais projectos”, e ainda “o aparecimento de indústrias da cultura,
geradoras não só de valorização cultural, mas também de emprego e
desenvolvimento” (idem: 81). Neste discurso, existe um apelo à construção de
património como meio de criação de identidade e de indústrias que permitam a
circulação do património nos mercados culturais e turísticos. A “cultura” é vista
como um “objecto” capaz de se tornar numa forma de troca, possibilitando a
criação de empregos, fixação das populações à região e o desenvolvimento da
actividade turística.
A política cultural da Câmara Municipal de Miranda Douro (C.M.M.D.) baseia-se
na ideologia evidenciada no discurso regionalista acima referido. A “tradição surge
como forma de promoção da localidade” (entrevista ao Vereador da Cultura,
António Carção, 2/10/2004), daí o apoio a todas iniciativas relacionadas com as
práticas performativas tradicionais baseadas na cultura local. Língua mirandesa,
música, dança e trajo são expressões que a autarquia privilegia como incentivo “às
actividades directamente ligadas ao turismo” (idem) e, por outro lado, pretendem
criar na população local um sentido de pertença.

42
Foi com base nesta política que a autarquia criou a Casa da Música Mirandesa (ver
capítulo VII), que representa um espaço onde se desenvolve a sociabilidade gerada
pela prática da música tradicional mirandesa.
O aparecimento da gaita-de-foles nos meios de comunicação e folhetos de
divulgação do turismo local em Miranda do Douro está a transformar este
instrumento num objecto etnográfico, semelhante a outros que têm ocorrido no
nosso país, como “Os Caretos”, que foram também objecto deste processo (Raposo
2002: 134).
Associação Cultural Galandum Galundaina
Foi oficialmente criada em 1996, por um grupo de jovens estudantes de música,
com o objectivo de “recolher, investigar e divulgar o património musical, as danças
e a língua das Terras de Miranda” (www.galandum.co.pt). Motivados por uma
ideologia ruralista centrada na preservação da tradição mirandesa, como forma de
representação da identidade local, a sua acção incide sobretudo na música, dança,
trajo e língua. De entre as actividades promovidas, registam-se a edição de
fonogramas, a organização de festivais (o 1º Festival Intercéltico de Sendim, no
Festival da Rezosa) e a revivificação de práticas como o “baile tradicional que se
fazia há cinquenta anos no terreiro” (entrevista a Paulo Preto, em 2/08/2004).
Actualmente a associação promove uma iniciativa "L burro i l gueiteiro", em
colaboração com a Associação para o Estudo e Protecção do Gado Asinino
(AEPGA), que consiste num passeio de burro pelas terras de Miranda
acompanhado pela gaita-de-foles, actividade que a associação integra no âmbito do
ecoturismo. Esta actividade surge como forma de protecção da espécie, mas
sobretudo como promoção turística do concelho, dando destaque aos jogos
tradicionais, gastronomia, música, dança, flora, fauna e ainda uma visita histórica
aos “castros celtas”.
Ligado a esta associação encontra-se o grupo Galandum Galundaina, reconhecido
na região como detentor de um capital cultural importante, devido à formação

43
musical dos seus elementos. Inicialmente formado por Abílio Topa, Alexandre
Meirinhos e Paulo Meirinhos, em 2000 integra um quarto membro, Paulo Preto.
Actualmente é constituído por quatro elementos: Paulo Preto (professor de
Educação Musical) voz, gaita-de-foles mirandesa, sanfona, flauta pastoril e
tamboril; Paulo Meirinhos (professor de Educação Musical) voz, bombo, gaita-de-
foles galega, percussões; Alexandre Meirinhos (professor de Educação Musical)
voz, caixa de guerra18
, percussões e Manuel Meirinhos (estudante de engenharia
geográfica) voz, percussões, flauta pastoril e tamboril. Constituído com base numa
estrutura familiar, todos os elementos têm um percurso musical similar, com a
frequência de conservatórios de música ou instituições semelhantes. O grupo tem
dois discos editados em CD: L’ Purmeiro e Modas i Anzonas.
Como forma de dinamizar as suas apresentações em público, o grupo Galandum
Galundaina começou por incluir nas suas actuações duas gaitas de fole em
simultâneo com o objectivo de realizar polifonias. Tal só seria possível de
concretizar se estes adoptassem um modelo galego, ou construíssem gaitas com a
mesma afinação, visto que a construção da gaita-de-foles na região de Miranda do
Douro se baseava em processos artesanais (Oliveira 2000), produzindo oscilações
que não constituíam qualquer problema, uma vez que os agrupamentos usavam
apenas uma gaita-de-foles.
Das diversas recolhas realizadas junto dos construtores (activos e inactivos) de
gaitas de fole na região, a associação (re)construiu um modelo de “gaita-de-foles
mirandesa”, que sendo semelhante à Gaita galega, se distingue desta pelo timbre,
volume e afinação do tubo melódico, afinado na escala temperada de Si19
. Este
modelo de Gaita é usado pelo grupo Galandum Galundaina nas suas actuações, e
por alguns dos grupos de gaiteiros da região, que o adoptaram como referência, nos
quais se incluem os Lenga Lenga. As características do instrumento colocam-no no
18
Instrumento popular português (Oliveira 2000. 255), bimembranofone de percussão indirecta, que tem um
ou mais bordões na parte inferior. 19
De referir que a construção deste instrumento foi concebida por José Preto, professor de História, em
conjunto com os elementos do grupo Galandum Galundaina.

44
espaço de representação da cultura mirandesa, e por outro lado, transformam-no
numa fonte de capital artístico, importante na negociação da posição de mercado da
música tradicional mirandesa.
Com o aparecimento deste grupo deram-se alterações na criação e gestão do espaço
simbólico. O “estatuto do gaiteiro deixou de ser pejorativo” (entrevista a Paulo
Preto em 2/08/2004), estimulando assim as práticas associadas ao instrumento. O
grupo Galandum Galundaina enquadra-se no âmbito dos Grupos Urbanos de
Recriação [GUR] (Castelo-Branco e Branco 2003: 1), pela sua abordagem à cultura
expressiva tradicional. Os instrumentos que usa inclui instrumentos populares
portugueses20
, contudo nem todos são considerados instrumentos tradicionais
mirandeses, como a sanfona, usada porque “acompanha o canto dando o padrão de
afinação..., e ao mesmo tempo é um instrumento tradicional que não teve
implementação nas terras de Miranda,” (entrevista a Paulo Preto em 2/08/2004). A
sanfona, apesar de não ser reconhecida como um instrumento mirandês, adquire
legitimidade, pelo facto de ser considerada um instrumento tradicional. De referir
que este faz também parte dos “instrumentos populares galegos” (AA.VV. 1987),
(re)folclorizado pela Universidade Popular de Vigo a partir de 1984 (idem).
Como meio de criação de património associado à cultura mirandesa, os elementos
da associação realizaram diversas recolhas de repertório junto de pessoas idosas da
região, para além da (re)revisitação do legado escrito (cancioneiro mirandês) ou
gravado. Nas suas actuações, apresentam composições baseadas em temas
mirandeses, que recriam e transformam, através de secções improvisatórias, por
vezes evocativas de épocas remotas, sobretudo o período medieval, ou como refere
Paulo Preto em entrevista, com base em “melodias galegas ou asturianas, como
forma de diversificar o espectáculo” (31 de Julho de 2004). Esta ideologia está
presente no segundo disco, onde não só a influência de Espanha é sentida, como
também a Escócia aparece representada através da Gaita escocesa, numa das
composições apresentadas, em que esta toca em simultâneo com a Gaita mirandesa:
20
Cf. Oliveira, Ernesto Veiga de

45
“... ponendo um cachico de I que mos bai ne I coraçon, de maneira a amanhá-las
más fermosas i cumpuné-las cun sonidos, ritmos i harmonies que séian capazes
de criar bun gusto, eimoçon i purque nó, algua modernidade” (CD Modas i
Anzonas 2005).
Associação Juvenil Mirai Qu’ Alforjas
Fundada em Março de 1998, por um grupo de jovens naturais de Sendim, a sua
acção baseia-se numa ideologia ruralista de preservação e valorização do
património local. Promove várias actividades em conjunto com o Centro de Música
Tradicional Sons da Terra.
O evento de maior porte no qual a associação está envolvida é o Festival
Intercéltico de Sendim. Segundo Telmo Ramos, presidente da associação, este
evento promoveu uma série de actividades de enriquecimento do concelho, como o
artesanato, hotelaria e restauração, bem como toda a actividade turística da região.
A associação promove ainda o “Arribas Folk”, um “concurso para bandas Folk
portuguesas” que surgiu como forma de “estimular este estilo de música”
(Entrevista a Telmo Ramos, 2/8/2004).
A associação apoia ainda iniciativas dos vários membros que lhe estão filiados,
como o grupo Os Lenga Lenga, ou Os Picatumilho, bem como, edições de livros de
sócios da associação.
Contando com o apoio de várias entidades (Junta de Freguesia de Sendim, Câmara
Municipal de Miranda do Douro, Instituto Português da Juventude, região de
turismo do Nordeste Transmontano, Governo Civil de Bragança, Ministério da
Cultura, Instituto das Artes, Delegação da Cultura do Norte), criou dinâmicas que
permitiram revivificar agrupamentos como o grupo de pauliteiros de Sendim,
inactivo há cerca de oito anos, actualmente afecto à associação, com um número de
vários elementos fixos. Estas acções fomentaram ainda o aparecimento de outros
agrupamentos de revivificação da música tradicional.

46
Para além destas actividades, a associação promove sociabilidades geradas pela
prática da música e danças tradicionais, levando a cabo outras iniciativas
recreativas que envolvem a comunidade local, como passeios ciclo turísticos e
concertos de música erudita.
Paulo Marinho e a Associação Portuguesa para o Estudo e Divulgação da
Gaita-de-foles [A.P.E.D.G.F.]
Paulo Marinho assume uma função importante enquanto músico urbano. O seu
desempenho foi decisivo para a (re)folclorização da gaita-de-foles na área
metropolitana de Lisboa.
Marinho teve o primeiro contacto com o instrumento nos anos oitenta do século
XX. Em 1982, com dezoito anos, ingressou no Sétima Legião como gaiteiro, um
grupo de pop-rock, formado em Lisboa por jovens. Este apresentava uma
interpretação vocal influenciada pela pop britânica dos finais da década de setenta,
acompanhada por instrumentos musicais conotados com a música tradicional, como
a gaita-de-foles, flauta e acordeão. O grupo teve bastante êxito nos anos oitenta e
início dos anos noventa do século passado, tendo gravado oito fonogramas. Um ano
depois, Paulo Marinho associa-se ao Centro Galego em Lisboa e a partir de 1984
começa a fazer parte dos Anaquiños da Terra, grupo afecto a este centro.
Em 1991, surgiu o grupo Gaiteiros de Lisboa. Paulo Marinho, um dos seus
fundadores, foi o único que se manteve após a reformulação do mesmo em 1994. O
grupo recorre frequentemente a sons provenientes ou conotados com a tradição
rural portuguesa, bem como de outras tradições musicais, e originais do grupo.
Gravou até à data quatro fonogramas e apresenta espectáculos regularmente. As
indústrias do património, mercados culturais e turísticos e a world music
influenciam o estilo composicional e performativo do grupo, que deixou de invocar
apenas referências ao território português, criando sonoridades que remetem para
várias regiões do globo.

47
Em 1992, Paulo Marinho começou a ensinar gaita-de-foles no Centro Galego em
Lisboa e a fomentar alguns “workshops de gaita-de-foles”. O ensino surgiu como
meio que visava a promoção da gaita-de-foles no contexto urbano, iniciativa que
estimulou o aparecimento de um grande número de interessados pelas práticas
performativas associadas ao instrumento.
No ano de 1998 formou-se o grupo Gaitafolia, dirigido por Paulo Marino e
composto por cerca de catorze gaiteiros inscritos no Centro Galego. Marinho,
detentor de capital cultural conferido por todo o seu percurso artístico ao longo dos
anos, escolheu o repertório e promoveu o grupo no mercado cultural. Foi neste
contexto que Gaitafolia se apresentou, em conjunto com os Gaiteiros de Lisboa, na
Exposição Mundial de Lisboa em 1998 [Expo 98]. Gaitafolia, representativo de
uma prática urbana, resultou de alterações na criação e gestão do espaço simbólico
associado à prática folclórica, apresentando-se como um Grupo Urbano de
Recriação. A formação do grupo foi sofrendo alterações ao longo do tempo, com a
saída e entrada de vários elementos. Actualmente, deixou de estar a cargo de Paulo
Marinho, sendo dirigido por Vítor Félix.
A A.P.E.D.G.F. foi oficializada a 24 de Março de 1999. Paulo Marinho, um dos
dezoito fundadores, tornou-se então presidente desta associação, cargo que viria a
exercer entre 1999 e 2003, a que se seguiu Vítor Félix, entre 2003 e 2005 e
actualmente Francisco Pimenta (membro da primeira formação do grupo
Gaitafolia). A associação tinha por objecto “o estudo e divulgação do instrumento
gaita-de-foles” (Artigo 3º dos estatutos da A.P.E.D.G.F.) e Paulo Marinho, em
conjunto com os associados, procurou aprofundar o estudo de toda a cultura
expressiva associada ao instrumento em Portugal, revisitando o legado escrito e
gravado. Partindo deste estudo preliminar, deu-se início à construção de um
património constituído por recolhas junto de pessoas idosas, sobretudo nos locais
anteriormente alvo de recolhas por parte dos folcloristas. Parte deste trabalho foi
publicado em 2001, na revista Gaita de foles, numa edição inteiramente dedicada
ao instrumento, onde se “divulgam os resultados provenientes da investigação

48
realizada, no âmbito da Associação, acerca do instrumento gaita-de-foles e da
música tradicional” (Marinho 2001: 3).
A ideologia de base, presente nos objectivos da associação, centra-se na
preservação da tradição, através do incentivo às práticas musicais associadas à
gaita-de-foles. Pondo em prática os objectivos referidos nos estatutos, de contribuir
para a divulgação do instrumento, a associação organiza, desde 2001, o Encontro
Nacional de Gaiteiros [E.N.G.], iniciativa que reúne gaiteiros de várias zonas do
país, que a associação regista através de gravações, com vista à constituição de
património.
Ainda no âmbito das actividades da associação, Paulo Marinho e Vítor Félix
iniciaram-se na construção da gaita-de-foles galega, desenvolvendo este trabalho
com base na Escola de Gaitas e Sanfonas da Universidade Popular de Vigo, que
visitaram no início dos anos 2000, discutindo algumas técnicas de construção com
Antón Corral, director da instituição. Posteriormente, Mário Estanislau, torneiro
mecânico de profissão, passa a fazer parte da oficina de construção, reparação e
venda de gaitas de fole, actividade a que se dedica actualmente a tempo inteiro em
conjunto com Vítor Félix. Foi ainda com base na ideologia patente nos objectivos
da associação que Paulo Marinho, Vítor Félix e Mário Estanislau procuraram
desenvolver um modelo de “Gaita transmontana” (Oliveira 2000: 105), criado a
partir de instrumentos preservados em museus, bem como da análise da escala e
características tímbricas de gaitas de fole construídas por gaiteiros ou artesãos
transmontanos, ou dos registos áudio disponíveis. Com base nestas fontes,
configurou-se um modelo uniforme, que foi adoptado pela associação como a
“Gaita transmontana”, cujo ponteiro está afinado na escala temperada de Si b
menor.
Actualmente, Paulo Marinho encontra-se afastado da associação por questões
pessoais e profissionais. Contudo, esta mantém os objectivos inicialmente previstos
e continua a desenvolver actividades como o ensino, a construção do instrumento, a

49
organização de encontros de gaiteiros, a divulgação do instrumento e de informação
sobre actividades associadas à cultura expressiva tradicional, através do seu site na
Internet, actualizado quase diariamente.
No domínio da construção, a associação promove a “Gaita transmontana” nos
mercados culturais e turísticos como símbolo de identidade regional, autenticado
através das “especificidades” que o instrumento apresenta em relação a outros
modelos de gaitas de fole existentes no mundo: a afinação do ponteiro, o timbre e a
potência sonora. A concepção do instrumento, apesar de poder ser inserido no
conceito de “invenção da tradição”, não deixa de ser uma tradição reconfigurada
com claros propósitos, que só podem funcionar se encontrarem eco nas
experiências dos sujeitos que nelas participam (Friedman 1994: 13).
Em 2003, Jorge Santos, engenheiro electrónico, torna-se sócio da associação. Este
apresenta um projecto de uma “Gaita midi” inédito em Portugal até então, com
algumas inovações em relação a outros existentes no mercado internacional,
sobretudo no norte da Europa. O projecto, em fase de conclusão, deverá ser
comercializado em breve com a colaboração com a A.P.E.D.G.F..
3. Conclusão
Na acção de todos os agentes aqui referidos existe uma ideologia centrada na
preservação da tradição que é transversal a todos eles. A ideia de “tradição” está
associada a um “passado”, consolidado secularmente, que confere e garante a
“autenticidade” e “legitimidade” às práticas revivificadas (Kirshenblatt-Gimblett
1995: 371). Os agentes envolvidos no processo de (re)folclorização das práticas
musicais associadas à gaita-de-foles detêm mecanismos que controlam os mercados
culturais e turísticos, produzem alterações nos espaços simbólicos de representação
da prática folclórica, e na diversificação dos agrupamentos. O repertório e
construção do instrumento transformam-se em capital artístico, herança a partir da

50
qual são produzidas exibições para turistas, transformando a cultura num produto
de exportação.

51
IV. DOIS CONTEXTOS DE DESEMPENHO
Neste capítulo pretendo analisar dois eventos centrais no processo de
(re)folclorização em estudo: o Festival Intercéltico de Sendim, inserido no contexto
europeu do “celtismo” e o Encontro Nacional de Gaiteiros, que contribuiu para a
criação de um espaço nacional para os gaiteiros tradicionais no contexto português.
1. Música Celta
O fenómeno do celtismo teve impacte importante na indústria musical nos anos
1990. O celtismo refere-se a um movimento que surgiu nas últimas décadas do
século XX, como resposta ao capitalismo, e reflectiu-se nas artes, artesanato,
literatura, política, aprendizagem de línguas arcaicas, estudos académicos,
migrações para o meio rural, etc. (Chapman 1992: 219). O termo “música celta”,
como categoria internacionalmente reconhecida (Chapman 1992, 1994, Reiss 2003,
Stokes & Bohlman 2003), surgiu nos anos 1970 a partir do interesse de alguns
antropólogos pelas questões relacionadas com a etnicidade dos países de línguas
associadas à “cultura celta”, nomeadamente o gaélico e o bretão (Chapman 1992:
207; 1994: 29 e 32).
A etnicidade celta define-se, entre outros factores, pela língua. A dificuldade de
aprendizagem das línguas celtas faz com que estas sejam faladas por um número
restrito de entusiastas, alguns nativos e uma elite associada à definição da
etnicidade celta (Chapman 1994: 34-35). A música apresenta-se como um meio
acessível, que movimenta um maior número de indivíduos (idem: 35), tornando-se
no veículo difusor de maior expressão. Estas manifestações deram lugar ao
aparecimento de festivais de “música celta” e a uma imagem visual e sonora,
exposta e explorada através de diversas técnicas de marketing.
A definição e fronteiras da “música celta” são vagas. Podemos dizer que ela existe
apenas como comunidade imaginada (Anderson 1983), que nasce no estúdio, e

52
sobrevive nos CDs e cassetes, na rádio e na TV, nos filmes, na Internet e em palco
(Reiss 2003: 158). Trata-se de uma tradição inventada (Hobsbawm 1997) pela
indústria musical (Reiss 2003: 160), tal como a categoria world music, criada em
1987 por executivos ligados à indústria musical, como forma de desenvolver o
interesse pela música africana (Taylor 1997:2).
Estes fenómenos podem ser explicados através daquilo que Appadurai identifica
como landscapes, “paisagem identitária dos grupos”, característica do pós-
modernismo, que incorpora cinco categorias:
1) ethnoscapes: as movimentações populacionais, como o turismo, imigração,
exílios...
2) tecnoscapes: as configurações globais da tecnologia e a rapidez e facilidade com
que esta circula.
3) finanscapes: motivadas pela facilidade de movimentação do capital financeiro.
4) mediascapes: a circulação da informação pelos média, bem como, a criação de
imagens por estes meios.
5) ideoscapes: imagens políticas, criadoras de ideologias com vista à obtenção de
poder estatal (Appadurai 1996).
Através destas características, Reiss localiza a “música celta” enquanto
“comunidade virtual”. A música irlandesa, escocesa e a das regiões migratórias a
estas associadas, passaram a integrar a categoria “celta”, e rapidamente foram
seguidas pelos músicos bretões e pelos galegos. O desenvolvimento tecnológico e
recursos financeiros, permitiram uma rápida produção e distribuição de CDs e
vídeos, capazes de exceder em larga escala as performances ao vivo. A partir da
segunda metade do século XX, os músicos irlandeses, escoceses bretões e galegos
reconfiguraram a sua música, partilhando e combinando linguagens musicais,
através dos meios tecnológicos ao seu dispor, dando lugar a esta comunidade
virtual (Reiss 2003: 162).

53
2. O Festival Intercéltico de Sendim
Como forma de promoção, divulgação e preservação da “música celta”, surgem
uma série de eventos, como concursos e festivais. O Festival Intercéltico de
Lorient, realizado na Bretanha desde 1970, é considerado o maior festival de
“música celta” (Wilkinsos 2003: 228). A participação dos grupos nos festivais dá-
lhes visibilidade e uma certa notoriedade, permitindo que estes entrem no circuito
comercial e profissional.
O Festival Intercéltico de Sendim teve um impacte importante no processo de
(re)folclorização das práticas coreográficas e musicais ligadas à gaita-de-foles em
Miranda do Douro e na área metropolitana de Lisboa. De referir, que a gaita-de-
foles não é o único instrumento que se pretende promover, mas sim todo um
conjunto de tradições associadas ao meio rural. Este festival celebra, em primeiro
lugar, a identidade local mirandesa, expressa através da língua, dança e música, e
em segundo, apresenta-se como promotor e divulgador da “música celta” em
Portugal.
Desde 2000, o Festival Intercéltico de Sendim realiza-se anualmente, no primeiro
fim-de-semana de Agosto. A vila de Sendim é uma das dezasseis freguesias do
concelho de Miranda do Douro, distrito de Bragança. Segundo a tipologia de áreas
urbanas do INE, Sendim está descrita como área predominantemente rural, sendo a
segunda freguesia, a seguir a Miranda, com maior densidade populacional, onde
estão concentrados diversos tipos de pequenas indústrias: artesanato, vestuário,
restauração e hotelaria, produção de vinho, etc. (INE 2003). A organização,
produção e divulgação do Festival está a cargo do Centro de Música Tradicional
Sons da Terra e Mirai Qu‟Alforjas – Associação de Juventude de Sendim, com o
patrocínio de diversas entidades: Câmara Municipal de Miranda do Douro, Junta de
Freguesia de Sendim, Região de Turismo do Nordeste Transmontano, Governo
civil de Bragança, Instituto Português da Juventude, Ministério da Cultura, entre
outros. Segundo os organizadores, no primeiro ano foram vendidas cerca de 2400

54
entradas para o festival, número que sofreu um incremento nos anos seguintes,
passando para 4150 entradas vendidas no ano de 200421
.
Na programação do festival, existem vários espaços onde decorrem as actividades:
o Recinto do Festival ou Recinto Principal, a Taberna dos Celtas, Animação de
Rua, a Missa Intercéltica e Outras Actividades ou Actividades Paralelas. A
celebração da identidade local mirandesa surge em todos estes espaços.
Na abertura do 1º Festival Intercéltico de Sendim, actuou no recinto principal o
grupo Galandum Galundaina, e em 2003, o grupo Lenga Lenga (ver anexo 1,
quadro 1). Estes grupos mirandeses desenvolvem a sua actividade em torno da
(re)folclorização das tradições locais associadas ao meio rural, através dos vectores
visual, verbal e auditivo. Como observa Maria do Rosário Pestana, num estudo
sobre a folclorização em Manhouce, o trajo é a primeira forma de comunicação
com o público, e para além de reforçar a ideia de antiguidade contribui, juntamente
com o uso de instrumentos populares portugueses, para veicular a ideia de
autenticidade (Pestana 2000: 120).
Ao observamos a programação do palco principal no quadro 1, anexo 1,
verificamos que o país com maior representação em termos de grupos participantes
no festival é Espanha, nomeadamente as regiões da Galiza, Astúrias, Castela e
Leão, Catalunha e Madrid. Nos critérios que presidiram à escolha destes grupos
estão, em primeiro lugar, questões económicas, relacionadas com a proximidade de
Espanha. Em segundo lugar, o conhecimento e envolvimento de Mário Correia (a
quem compete a programação artística) com esse país, como a participação em
concursos como membro do júri e outros eventos relacionadas com a música folk
ou celta, que lhe permitem conhecer in loco os diversos agrupamentos e avaliar a
sua posição e aceitação no mercado. A Escócia esteve representada três vezes,
enquanto a Inglaterra, a Irlanda e a Suécia estiveram representadas apenas uma. Os
grupos que encerraram as actuações no palco principal foram referidos pela
21
(Entrevista a Mário Correia em 7 de Agosto de 2003 e Agosto de 2004)

55
organização como os mais conceituados no mercado da música “folk” ou “celta”. O
público, proveniente das povoações próximas de Sendim, de outras regiões do país
e de Espanha, dança e aplaude todas as apresentações que ocorrem no palco. É
notória a presença de um maior número de pessoas quando actua a última banda
(ver DVD filme 1). Em alguns casos, o repertório tradicional de cada país é
completamente transformado, dando lugar a combinações próximas do jazz, da
música de dança, música latino americana ou africana, constituindo por vezes
completas secções de improviso sobre a chamada “world music”. Como observa
Reiss, a inclusão da música tradicional irlandesa na categoria de world music,
poderá ter sido uma das razões que levou alguns agrupamentos a incluírem nas suas
formações instrumentos como djembe, congas, didjeridu, bouzuki e outros, que não
deixando de ser comuns na “música celta”, produzem sonoridades que a colocam
num imaginário exótico (Reiss 2003: 161). As configurações globais da tecnologia,
e a facilidade com que esta circula através dos meios de informação, levam a
configurações que tornam a identidade dos grupos cada vez mais ténue.
A participação dos grupos no palco principal é determinada pelo poder de
regulação dos organizadores do evento. Assim, só os grupos inseridos num
determinado circuito comercial actuam neste palco. Por outro lado, a organização
do evento, promove iniciativas que visam estimular o aparecimento em Portugal de
agrupamentos que possam ser inseridos na categoria de música “folk” ou “celta”.
De entre estas iniciativas encontra-se o concurso Arribas Folk, em que o vencedor
participa na abertura do festival que tem lugar no palco principal. Esta participação
favorece a sua aceitação pelas rádios locais, a sua integração no circuito de
espectáculos para turistas, bem como a edição de fonogramas. Em suma, contribui
para a aquisição de um capital simbólico que pode trazer vantagens económicas
com a entrada no grupo no meio “profissional”. Neste caso inclui-se a participação
dos grupos Marenostrum (2004) e Mu (2005), como se pode observar no quadro 1
do anexo 1. Sobre este concurso, Mário Correia, um dos seus dinamizadores, refere
que:

56
“ (...) faço parte do júri de um concurso que se faz nas Astúrias e pareceu-me
uma excelente ideia para Portugal fazer um concurso e dar prémios aliciantes,
como seja o 1º prémio actua na abertura do festival em Sendim, o 2º prémio na
abertura do festival em Vizela, para além de um CD editado sem fins comerciais
para ser distribuído pela vária imprensa, concertos em Espanha e em festivais.
Portanto a ideia surgiu, essencialmente como forma de criar um espaço para
divulgar e dar visibilidade. O concurso chama-se “Concurso Nacional de música
folk” e destina-se apenas a grupos nacionais porque tem uma estrutura de apoio
do Ministério da Cultura (...)” (Entrevista a Mário Correia a 7/8/2003)
Na taberna dos celtas, apresentaram-se em 2000, os grupos recentemente formados
(1998 e 1999) Pica Tumilho e Sangrisulta, ambos de Sendim. Estes grupos, com
influências do rock e pop, pretendem igualmente representar as tradições
associadas ao meio rural, em particular a língua mirandesa, que usam nas canções
da autoria do grupo. Pica Tumilho, utiliza em palco objectos relacionados com a
lavoura, para produzir diferentes sonoridades, representando ao longo de toda a
actuação cenas relacionadas com lendas da região ou com histórias inventadas pelo
grupo. Entre 2002 e 2005, a organização conferiu um lugar de destaque na
programação aos grupos de gaiteiros e tamborileiros do concelho de Miranda do
Douro e concelhos limítrofes. Em 2002 actuou o grupo Lenga Lenga e nos três
anos seguintes é anunciada a “animação espontânea por gaiteiros e tamborileiros”.
A acção dos agentes, evidenciada no capítulo III, estimulou o interesse pelas
práticas em torno da gaita-de-foles que se traduziu no aparecimento de um número
cada vez maior de indivíduos a tocarem o instrumento. Como resultado, estimulou-
se esta animação espontânea, marcada pela partilha de experiências e repertório
entre os gaiteiros, não só do resto do país, como também de Espanha.
Os grupos de Gaitas dominaram a programação do festival na taberna dos celtas e
na animação de rua como se pode observar no anexo 2. A gaita-de-foles é o
instrumento mais representado, não apenas nestes dois espaços criados pela
organização do festival, como ainda nos cafés da vila, onde o convívio entre
gaiteiros galegos e portugueses é frequente e espontâneo. São estes os espaços que

57
mais contribuem para a (re)folclorização das práticas musicais associadas à gaita-
de-foles, uma vez que a interacção entre as pessoas é muito maior. Nos cafés e
esplanadas é frequente juntarem-se vários grupos de espanhóis (sobretudo galegos)
e portugueses a cantarem e a tocar gaita-de-foles, tamboril, caixa, tinwistle,
pandeireta e todo um conjunto de objectos utilitários que permitem obter som
através da percussão, como garrafas de plástico ou vidro, colheres, ou
simplesmente o percutir das mãos na mesa ou no corpo. As melodias sucedem-se
umas às outras e o repertório integra a Dança dos Paus, o Pingacho, a Murinheira
de Chau, A Saia da Carolina, comum a várias regiões de Espanha e Portugal (Trás-
os-Montes, Galiza Leão e Castela) (ver DVD filme 4).
A programação da “animação de rua” revela mudanças, sobretudo ao nível da
constituição dos agrupamentos. Enquanto que em 2000 os grupos de gaiteiros eram
constituídos por gaita-de-foles, caixa e bombo, a partir de 2003, passam a ser
constituídos por vários gaiteiros (entre cinco e quinze) acompanhados por caixa e
bombo. Para além das transformações operadas a nível da constituição dos
agrupamentos de gaitas de fole, o Encontro de Tamborileiros, em 2002 (ver DVD
filme 2), e a Fiesta de Los Rigaleijos, em 2005, revelam a revivificação de outras
práticas performativas: a flauta e tamboril e a harmónica, localmente designada
rigalejo.
A maioria da população local associa a criação do festival intercéltico em Sendim à
presença da “cultura celta” na região.
“Miranda do Douro tem uma série de cultura aqui enraizada: os celtas, os pauliteiros,
as gaitas” (Entrevista a António Carção, 2/8/2004, vereador da cultura da CM.M.D.).
A presença dos celtas na região começa a ser um dado adquirido para a população
local, que procura um fundamento nas fontes históricas. Monumentos como os
“castros celtas” (ver Associação Galandum Galundaina, no capítulo III) fazem
parte dos roteiros turísticos da região, bem como a gaita-de-foles, podendo

58
encontrar-se em folhetos de promoção turística da região expressões como: “Os
celtas (...) terão começado a aportar a estas paragens por volta do século VIII (...)
crê-se que estes povos celtas também se apresentaram com gaita-de-foles”22
.
Evidentemente que esta afirmação não tem fundamento histórico, contudo, esta
imagem começa a ser aceite pela população em geral sem qualquer
questionamento. O seu autor, tem publicadas algumas obras em mirandês, que são
apoiadas por organismos como o INATEL, Ministério da Cultura, IPJ, para além
dos apoios locais de Juntas de Freguesia, Governo Civil de Bragança ou C.M.M.D.
Como observa Morgan, ao longo dos séculos XVIII, XIX e XX, foram criadas
várias sociedades que se dedicavam à promoção dos hábitos e costumes gauleses,
através do convívio social entre os membros, cujos passatempos passavam pelos
concursos de poesia, literatura e música, dando origem à competição em festivais,
nos quais a música parecia ter uma maior influência, sobretudo a harpa. Edward
Williams, membro de uma destas sociedades, era obcecado pelos mitos e pela
história, e a partir do interesse pelo druidismo no século XVIII, inventou que
bardos e gauleses eram herdeiros dos antigos druidas e deles tinham herdado os
rituais, a religião e a mitologia. Na verdade, não fundamentando as suas ideias em
factos históricos mas apenas nas suas obsessões, Williams acabou por criar novas
tradições que foram decisivas para a história, como por exemplo a restauração do
druidismo (Morgan 1984: 71).
A partir de 2001 passou a fazer parte da programação musical do festival a Missa
Intercéltica, designação adoptada pelos promotores do festival, para a missa
existente. Nesse mesmo ano, a gaita-de-foles foi usada no interior da igreja para
acompanhar o canto em certos momentos da liturgia e, em 2003, viria a
acompanhar as danças dos pauliteiros (ver DVD filme 3). Mário Correia,
organizador do evento, fundamenta esta opção nos relatos do P. Francisco Manuel
Alves, que menciona uma carta pastoral do Bispo de Bragança, documento datado
de 1755, proibindo o toque de gaita-de-foles dentro da igreja (Alves 1934: 325), ou
22
Fernandes, José Francisco (S.d.) in Folclore Mirandês. Pauliteiros e outras expressões folclóricas.
Associação para o Desenvolvimento Integrado de Palaçoulo.

59
Ernesto Veiga de Oliveira (11966,
32000: 105). Mário Correia pretendeu, deste
modo, integrar esta prática no Festival Intercéltico, o que incentivou a sua
continuidade em outras ocasiões litúrgicas. As primeiras reacções por parte das
senhoras mais idosas quanto à opção da gaita-de-foles no decurso da missa foram
negativas, não a considerando adequada, contudo, o discurso do Padre Silva viria a
justificar a opção tomada:
“Nesta igreja, desejamos as boas vindas aos que hoje nos visitaram, movidos
pelo Festival Intercéltico, na sua IV Edição, bem-vindo sejais e que tudo sirva
para o reconhecimento integral da nossa terra. Estamos em festa (...) Deus é o pai
de todas as músicas, toda a música canta a música de Deus... a música é a
colectânea de Deus sempre actualizada... Deus canta com todos os sons da
terra...”(Agosto de 2003)
O património cultural é reconhecido como factor de desenvolvimento local (Neves
2000), e pode justificar perante a população local as decisões de Mário Correia,
baseadas em fontes históricas, que legitimam as suas decisões, e por isso apoiada
pelo pároco da vila:
Carla- Alguma vez tinha celebrado uma missa assim deste género? Com gaita-
de-foles... os pauliteiros...
Padre Silva- Foi um pouco diferente... Nós tínhamos... projectado... planeado...
eee... e executámos... como tínhamos pretendido... Quisemos foi dar..., e a
comunidade estava... preparada para isso..., dar um sentido..., um pouco... que...,
tudo pode entrar na eucaristia..., e a eucaristia tem que ir a tudo..., tudo aquilo
que seja... para valorização do homem... nós temos que levar a eucaristia a isso...
Portanto, esta foi a finalidade..., com que nós organizamos uma missa destas....
Quando soube da festa... imediatamente... combinámos... os organizadores
comigo, e eu com eles... e fomos... orientando as coisas para que hoje
acontecesse...
Carla- Porque é que se chama missa intercéltica?
Padre Silva - Não sei! A missa é sempre só missa. Aquilo foi o que puseram nos
cartazes. Já sabe, as pessoas às vezes... usam palavras... não é tanto com o rigor
da... dos termos... mas é mais às vezes com o cartaz. A missa é uma missa cristã,

60
uma missa católica..., aaa... puseram lá o nome missa celta ou intercéltica,
precisamente por estar inserida nas festas... no festival... (Entrevista ao Padre
Silva a 3 de Agosto de 2003)
A organização do Festival Intercéltico de Sendim veio trazer benefícios,
económicos tanto para Sendim, como para todo o concelho de Miranda do Douro.
A noção de “música celta” atrai as pessoas ano após ano. Durante o fim-de-semana
do festival, Sendim transforma-se numa vila onde são criados momentos místicos
em torno da “cultura celta”. O meio rural onde se insere Sendim, a procissão celta
(desfile à noite iluminado por archotes e velas), a taberna dos celtas, o licor celta, a
missa intercéltica, a água dos celtas (água ardente) contribuem para a construção de
uma “comunidade imaginada” (Anderson 1983).
3. O Encontro Nacional de Gaiteiros
O Encontro Nacional de Gaiteiros foi dinamizado pela A.P.E.D.G.F., sendo no
início uma co-organização com a Associação Lelia Doura – Gaitas da Gallaecia,
sedeada no Porto. Com uma periodicidade anual, teve a sua primeira edição em
2001, não existindo um local fixo para a sua realização, uma vez que está
dependente do patrocínio de uma autarquia e das instituições que apoiam a
A.P.E.D.G.F.: Ministério da Cultura ou Instituto das Artes. O Encontro Nacional de
Gaiteiros pretende juntar os gaiteiros detentores da tradição, e inclui desfiles de rua
e actuações em palco. O seu programa proporciona igualmente o convívio entre
várias gerações de gaiteiros, onde se partilha repertório, técnicas de execução e de
construção do instrumento.
Este evento teve impacte no processo de (re)folclorização, estimulando a prática do
instrumento no contexto rural, motivando o aparecimento de novos agrupamentos,
sobretudo nos meios urbanos.
A criação do evento tinha como objectivos primordiais a procura dos detentores da
tradição associada à gaita-de-foles no contexto rural, para que esta prática se
mantivesse activa, procurando ao mesmo tempo estimular os jovens para

61
aprenderem o instrumento. A construção de património, constituído por repertórios
autenticados, através da recolha junto dos gaiteiros mais idosos que participavam
no encontro, também integrava as motivações iniciais do evento. A valorização do
património (repertório) e a atenção dada aos gaiteiros por parte das camadas mais
jovens (membros das associações organizadoras e público) concedeu aos gaiteiros
“capital artístico”, essencial na negociação da sua posição no mercado de música e
dança tradicionais.
Como se pode observar no anexo 2, a maioria de gaiteiros que participaram nos
E.N.G. (entre 2001 e 2004) são provenientes do distrito de Bragança, seguido de
Coimbra, Lisboa e Setúbal. A região a sul do rio Tejo apenas está representada pelo
distrito de Setúbal, não existindo qualquer representação da Beira Baixa, do
Alentejo ou do Algarve. O número de gaiteiros jovens, com idades compreendidas
entre os 15 e 30 anos, tem vindo a aumentar desde a primeira edição do Encontro.
Estes produzem alterações no repertório, nomeadamente a introdução de
composições mediatizadas. Evidenciam-se assim, alterações a nível da
representação, motivadas pela gestão do espaço simbólico derivado da prática
folclórica. A harmonização à escala nacional ou regional deixou de ser a principal
referência na composição de territorialidades folclóricas, tornando-se difícil para o
grupo invocar o seu espaço em referência a um território. Composições como
Sebastião Come Tudo, Aldeia da roupa branca, Zumba na Caneca, Bailinho da
Madeira, Apaga a Luz, Lisboa Menina e Moça, Senhor Polícia, são alguns
exemplos de repertório que passou a fazer parte do património dos grupos, baseado
em cancioneiros infantis, em géneros como o fado ou a música ligeira.
O E.N.G. constitui ainda um espaço de desenvolvimento da sociabilidade gerada
pela prática da música tradicional, onde os laços de parentesco, apesar de não
prevalecerem, se verificam em alguns casos. As relações de parentesco ao nível dos
ranchos folclóricos (Holton 2003), motivadas pela dificuldade de recrutamento de
raparigas nos anos iniciais (Castelo-Branco & Branco 2003:19), reflexo da ordem
social estabelecida, não se colocam neste caso. Ao longo de todo o século XX os

62
agrupamentos centrados na gaita-de-foles eram constituídos por elementos do sexo
masculino. As transformações sociais ocorridas em Portugal nas últimas décadas do
século XX produziram alterações a nível das mentalidades, dando lugar à
integração de elementos femininos nestes agrupamentos, sem que para tal existam
quaisquer relações de parentesco.
O desfile pelas ruas surge como uma “elaboração cénica” (Branco 1995: 170) das
arruadas e dos peditórios, frequentes ao longo do século XX nas festas no contexto
rural (ver DVD filme 7). O espectáculo em palco no período da noite dá
continuidade à institucionalização do folclore que ocorreu no período do Estado
Novo, onde os grupos adoptaram uma nova forma de cantar e de dançar: sobre um
estrado, integrados num grupo misto, acompanhados por tocadores e dançarinos
fardados, perante uma assistência passiva, que assumia o papel de ouvinte (Castelo-
Branco & Branco 2003: 20). A apresentação em palco, apesar de remeter para uma
esfera rural, indicia uma prática urbana, na qual os seus protagonistas já não são só
gente do campo, mas sim operários, empregados no sector terciário ou estudantes,
no caso dos mais jovens (ver DVD filme 6).
O desfile pelas ruas e o espectáculo em palco estão previstos no E.N.G., contudo,
existem outros momentos no decurso do encontro que ocorrem de forma
espontânea, para os quais não há um espaço nem tempo definidos. São sobretudo os
mais jovens que têm a iniciativa, desvalorizando rivalidades locais e regionais,
partilhando repertórios, motivando o convívio entre todos os gaiteiros,
independentemente da idade ou região a que pertencem. Estes têm lugar no período
que precede o espectáculo de palco, e que só terminam no momento da despedida
(ver DVD filme 8). Os gaiteiros partilham repertório dos cancioneiros locais,
composições mediatizadas ou de outras culturas musicais, sobretudo de Espanha,
repertório que circula entre os vários agrupamentos, é assimilado, reproduzido
noutros eventos e por vezes começa a fazer parte do património do grupo (ver
capítulo V, Actuação do grupo Gaitafolia). Na partilha de conhecimentos

63
encontram-se determinadas opções quanto aos instrumentos usados, afinação,
concepção de palhetas ou técnicas de construção da gaita-de-foles.
O vector visual surge como o primeiro meio de comunicação com o público. Este
manifesta-se através do trajo com que se apresentam a maioria dos grupos. O trajo,
que no início do século XX reflectia o elemento paródico equivalente à inversão de
papeis, onde as filhas da burguesia se transformavam em camponesas, com a
institucionalização do folclore perde o significado de representação invertida, para
dar lugar a exibições evocativas de lugares, tempos passados, papeis e estatutos
sociais (Castelo-Branco & Branco 2003). São sobretudo estes últimos que estão
representados nos trajos com que se apresentam os gaiteiros neste encontro. A
título de exemplo, o trajo dos gaiteiros mirandeses, poderá evocar Trás-os-Montes
num tempo passado (primeira metade do século XX), associado a pessoas de
condição social desfavorecida, isolados do resto do mundo, ou o trajo dos Gaiteiros
do Espírito Santo do Carregueiro, do distrito de Santarém, cuja indumentária
representa o fato domingueiro do campino ribatejano do século XX, ou ainda a
inspiração nas bandas filarmónicas ou militares.
O E.N.G. funciona como uma indústria de património, inserindo os gaiteiros no
mercado cultural e turístico, através da circulação das manifestações relacionadas
com as práticas performativas associadas à gaita-de-foles no contexto nacional e
internacional. A presença de gaiteiros espanhóis convidados pela organização,
favorece a circulação fora do âmbito nacional, facilitando contactos e a influência
de Espanha no contexto Português. Estes introduzem composições, que passam a
fazer parte do repertório da gaita-de-foles, partilham práticas performativas e
técnicas de construção do instrumento.
As entidades organizadoras do E.N.G. assumem uma função reguladora, visto que
determinam os grupos de gaiteiros que participam no encontro. Estas condicionam
a participação dos grupos de gaiteiros que não se enquadram na tradição Portuguesa
e que são uma importação da Galiza e da Escócia. Os agrupamentos “banidos”

64
seguem o modelo implementado na Galiza por Xosé Lois Foxo, cujas opções
estéticas os distingue dos demais pelo trajo, inspirado em iconografia do século
XVIII ou da idade média, pela postura em desfile, que apresenta uma coreografia
própria com base no compasso, pelo uso de gaitas de fole semelhantes às Gaitas
escocesas, pelo repertório, baseado sobretudo em composições galegas, escocesas,
irlandesas e de outras culturas musicais. Para além destas características, estas
bandas procuram uma qualidade técnica a nível da afinação, do rigor na execução,
etc., condições que lhes são “impostas”, para serem aceites em campeonatos de
bandas de Gaitas na Galiza ou em outras regiões.
De entre as bandas que começam a surgir em Portugal, encontra-se a Banda de
Gaitas S. Bernardo (Aveiro), a única que apresentou requisitos que lhe permitiram
participar no XV Campeonato da Liga Galega de Bandas de Gaitas, que decorreu
em Aveiro em Março de 2005, ou a Banda de Gaiteiros de Lebução (Concelho de
Valpaços – Trás-os-Montes), dirigida por um galego, José M. Mojón, tida como
seguidora da corrente de X. L. Foxo. As práticas performativas adoptadas por estes
grupos são fortemente contestadas por alguns membros da A.P.E.D.G.F., e
determinam a restrição à participação no E.N.G., por se considerarem que
desvirtuam a tradição da gaita-de-foles em Portugal. Esta posição também é
seguida por uma corrente nacionalista na Galiza, como refiro no capítulo III, que
não reconhece como “tradicionais” as bandas de gaitas de fole que seguem o
modelo de X. L. Foxo e que proliferam em Espanha na transição do século XX para
o século XXI.

65
V. TRÊS OCASIÕES PERFORMATIVAS
Neste capítulo pretendo analisar três “ocasiões performativas”, tendo em conta as
perspectivas sobre a performance de Marcia Herndon (1971), Gerard Béhague
(1984) e Antonny Seeger (1987). O conceito analítico de “ocasião performativa” é
usado para demonstrar a relação entre o produto musical e os comportamentos
(individuais, sociais, culturais, etc.) que ocorrem em cada “ocasião”. Este conceito
tem por base a definição proposta por Marcia Herndon, na qual “a ocasião
performativa” deve ser vista como uma expressão encerrada de formas cognitivas e
valores partilhados de uma sociedade, o que inclui não só a música em si, mas
igualmente a totalidade de comportamentos associados e conceitos subjacentes”
(Herndon 1971: 340). A partir da observação de diversas ocasiões performativas
surgiu a reflexão acerca da importância do estudo da performação musical
enquanto evento e enquanto processo, discutido por Béhague, que considera não só
o comportamento musical dos participantes, como também os comportamentos
extra-musicais e regras ou códigos da performação definidos pela comunidade, para
cada contexto ou ocasião específica (Bèhague 1984: 7).
As ocasiões performativas em análise, referem-se às actuações de três grupos:
Galandum Galundaina nas Festas de Santa Bárbara em Sendim, no dia 6 de Agosto
de 2003, Grupo Sons das Arribas, no auditório da Biblioteca Municipal Bento de
Jesus Caraça na Moita, a 19 de Novembro de 2004, e Gaitafolia na Associação
Ponto de Encontro, em Cacilhas, no dia 22 de Abril de 2005. A formação destes
agrupamentos decorreu da acção dos agentes que interagiram no processo de
(re)folclorização das práticas associadas ao contexto rural, em particular em torno
da gaita-de-foles (ver capítulo III).

66
1. O grupo Galandum Galundaina23
nas Festas de Santa Bárbara em
Sendim (6 de Agosto de 2003)
O palco encontrava-se às escuras começando a ouvir-se o som de um
membranofone, que pouco a pouco se tornará visível. Alexandre Meirinhos sentado
numa cadeira ao centro do palco, segurava tal instrumento que se fazia ouvir,
percutindo-o com as mãos. Os elementos do grupo foram-se aproximando. Todos
se encontravam trajados: calça de burel24
, colete de cor castanha, camisa branca.
Uma melodia tocada na flauta de tamborileiro, por Alexandre Meirinhos, fazia a
transição para a gaita-de-foles mirandesa, tocada por Paulo Preto, acompanhada
pelo bombo, caixa, tamboril e castanholas. Diversas variações, bastante
ornamentadas, sobre o tema da Bitcha, introduzem o lhaço Campanitas de Toledo
(ver anexo 3 e DVD filme 11). Sendo a primeira alocução oportunamente proferida
por Paulo Meirinhos, em mirandês:
“Deus vos dê Buenas noites. Bom então, nós vamos a tocar e vós a ver se bailais, porque
também estar assim… nós a tocar aqui com tanto esforço e a asudar com estes casacos e
com estas calças que até picam, se vós não bailardes nós aqui estamos a perder el tiempo.
A ver se bailais que é para vos animardes e nos animaresde-nos a nós.” 25
Os objectivos que regem os ideais do grupo (referidos na página 42), são
apresentados no início da actuação: divulgação e valorização da língua mirandesa,
música, dança e trajo. Estes evidenciam a (re)folclorização de práticas que eram
centrais na vida social mirandesa, na primeira metade do século XX, que se
alteraram ao longo dos tempos, e que o grupo pretende revivificar. O trajo com que
se apresentam parece estar desadequado à temperatura que se faz sentir nesta altura
do ano, contudo, é importante para o grupo, como forma de divulgação da tradição
local. O desconforto que este produz, poderia ser justificado, se o público
(constituído maioritariamente pela população local e emigrantes) contribuísse para
23
Ver referências acerca da constituição e formação do grupo na página 43. 24
Burel – tecido de lã simples e grosseiro. 25
A transcrição do mirandês é de minha autoria e não obedece a qualquer regra de escrita formal da língua,
mas apenas pretende representar a fonética apresentada.

67
a performance musical, o que só veio a acontecer no final da actuação, após
diversas solicitações por parte do grupo.
O repertório, património do grupo (ver página 44), incide sobretudo em géneros
associados à dança: Campanitas de Toledo é um lhaço, evocativo de um espaço
geográfico (Mourinho 1984: 497), dançado regularmente pelos grupos de
pauliteiros da região. As duas composições apresentadas em seguida, Nós Tenemos
Muitos Nabos e Pingacho (ver anexo 3), são bailes paralelos (Mourinho 1984: 540
e 533), que fizeram parte do contexto festivo e lúdico até por volta dos anos 1960.
Como observa E. V. Oliveira em 1966: “são também os gaiteiros quem
acompanham as Danças dos Velhos da região mirandesa, em Dia de Santa Catarina
– que em Ifanes levam o nome de Redondo, em Paradela o Pingacho, e em Duas
Igrejas a Bicha ou Fandango – os quais se realizam nos largos das aldeias, em volta
do fogueira” (2000: 106).
Nós Tenemos Muitos Nabos, foi cantado em uníssono e acompanhado pelo
tamboril, pandeireta, garrafa com garfo26
e caixa. Pingacho, igualmente em
uníssono, apresenta o refrão a duas vozes, à distância de terceiras, em que a parte
vocal e instrumental alternaram segundo a estrutura bipartida (como se pode
observar no anexo 3).
O público mantém-se passivo e não reage perante as alocuções de Paulo Meirinhos:
“Pois vós parece que estão algo parados. A vós o que se passa? Estais com calor?...
Que é? Não estais habituados a bailar com lo bombo e la gaita?... Isso é porque vos
desabutaás-tes, porque dantes bailava-se mais do que hoje, digo eu vá!...”
Seguiu-se Passa calhes27
, interpretado na gaita-de-foles, na caixa, no bombo e na
pandeireta. Género musical associado às rondas, com uma estrutura melódica
composta por duas frases musicais, numa métrica regular de 4/4 (ver anexo 3). A
26
Espécie de reco-reco constituído por uma garrafa ondulada a qual é friccionada com um garfo. Este
instrumento está descrito no livro Instrumentos Populares Portugueses, de E.V. Oliveira, classificado como
instrumento avulso (Oliveira 2000: 308). 27
Optei por Passa calhes porque esta é a grafia que o grupo adopta no CD L Purmeiro.

68
esta sucedeu Redondo, igualmente na gaita-de-foles mirandesa e instrumentos de
percussão. Recursos estilísticos como o vibrato e ornamentação são bastante
explorados na gaita-de-foles em todos os temas apresentados.
La lhoba Parda foi o primeiro romance incluído na actuação. Segundo a proposta de
António Mourinho (1984: 147-151), este integra-se na categoria de romance
pastoril. A sanfona acompanhou o canto, em mirandês, numa melodia silábica no
modo menor, em andamento lento. Quando termina o canto, a gaita-de-foles galega
introduz uma melodia improvisada, que contrasta com o romance em termos de
andamento. Composta por duas frases repetidas diversas vezes na gaita-de-foles,
flauta tamborileiro e sanfona (ver anexo 3 La Lhoba Parda compassos 15 a 23 e
DVD filme 11), esta última secção conduz a sonoridades que evocam a época
medieval. De salientar, que no contexto rural, o romance é cantado sem
acompanhamento instrumental.
A moda Redondo, ou, Nós daqui e vós dali, apresentada anteriormente na versão
instrumental, surge na versão cantada, acompanhada pela Gaita galega, sanfona,
garrafa com garfo e cântaro28
. A estrutura melódica foi AB, em que A foi cantado
por todos os elementos do grupo, em uníssono, e B correspondente ao refrão,
cantado a duas vozes à distância de terceiras. A recriação desta composição denota
alguma influência da interpretação deste tema pelo grupo Gaiteiros de Lisboa, cujos
materiais musicais parecem estar submetidos à mesma leitura.
Cerigoça faz parte do repertório de baile circular (Mourinho 1984: 555), e foi a
composição seguinte. Após uma secção improvisada, a flauta tamborileiro
introduziu o tema, cuja melodia silábica, foi cantada em terceiras e acompanhada
pelos instrumentos de percussão. A esta seguiu-se outro romance, Chin- Glin-Din,
numa tonalidade menor. O canto foi acompanhado pela sanfona, caixa, triângulo e
bombo, enquanto a gaita-de-foles galega intervinha nos interlúdios instrumentais.
No final, e pela primeira vez, a gaita-de-foles acompanhou em simultâneo o canto.
28
(Oliveira 2000: 309).

69
Apesar dos constantes apelos do grupo, o público revelava-se pouco participativo,
limitando-se a aplaudir no final de cada composição apresentada. Na alocução que
seguiu Paulo Preto evidencia, mais uma vez, a necessidade de manutenção da
língua mirandesa, música e dança:
“Agora faço-vos um desafio. Eu falo mal Sendinense, ou Mirandês, mas fago um
esforço, e toda la gente havia de fazer como eu, mas [aplausos] tengo uma cousa
muito importante. Ai que bailar as modas que nós tocamos, porque as modas são
nossas, são nossas! E agora vamos a tocar uma moda que é a mais conhecida nel
baile e nel terreiro, sempre foi…, e eu já a vi a dançar a muita gente, que é o
Repasseado, por esso, é um desafio. Juntai-vos quatro pares, dös a dös, quatro a
quatro, oito a oito, dezasseis a dezasseis, mas eu quero ver esta gente toda a dançar
o Repasseado que eu vou a tocar. Vamos a lhá. Mas é a sério. Nem parece que
estou em Sendim. Não há ninguém para dançar o Repasseado. Ah valente! Já temos
dois pelo menos.”
As “modas são nossas” evoca o espaço de referência do património que, estando
sujeito a diversas formas de circulação, é apresentado pelo grupo como o seu bem
mais valioso.
Repasseado foi a última composição da actuação. Trata-se de um baile repasseado
(ver capítulo seguinte). A performance foi interrompida ao primeiro minuto, uma
vez que a participação do público não estava a corresponder aos objectivos do
grupo:
“Isto é pedagógico. Desculpem lhá mas tenhemos que parar porque só vemos os
novos a bailar, e aos bilhos é que saibam, porque não ensinais aos vossos filhos a
dançar o Repasseado? Porque não agarrais num filho vosso e dizeis: «anda cá que
havemos de bailar o Repaseado». Mas tenemos que ser muitos se não paramos outra
vez.”

70
Após este breve interregno, o público interagiu com o grupo dançando e cantando
ao longo da performance. Parte da assistência, que se encontrava na praça a assistir,
começou a dançar a pares, enquanto outra cantava ou acompanhava com aplausos.
2. Actuação do grupo Som das Arribas na Biblioteca Municipal da Moita
(19 de Novembro de 2004)
O Grupo Som das Arribas de Freixiosa - Miranda do Douro, liderado por Ângelo
Arribas, formou-se há cerca de dois anos. Dedicado à preservação das tradições
mirandesas, é constituído com base numa estrutura familiar onde estão
representadas duas gerações: o avô, Ângelo Arribas (gaita-de-foles, flauta e
tamboril, caixa e bombo), dois netos: Anita (caixa, bombo, conchas e voz) e Dinis
(gaita-de-foles, caixa, bombo e conchas) e sobrinha, Celine (pandeiro, conchas e
voz).
Cerca de quarenta pessoas preparavam-se para assistir à actuação no auditório da
biblioteca, na maioria população residente. No palco, elevado a um metro em
relação à plateia, encontravam-se alguns instrumentos dispostos no chão. Às 21.40
ouve-se o som da gaita-de-foles, seguido da caixa, por detrás das cortinas do palco.
Entra em cena Celine, a tocar pandeiro, Dinis a tocar gaita-de-foles, Ângelo Arribas
a tocar bombo e, por último, Anita, a tocar caixa. Todos os elementos do grupo se
encontravam trajados. O trajo masculino é constituído por camisa branca, calças e
colete castanhos, e chapéu em burel. O trajo feminino é composto por camisa
branca, colete e saia vermelha ou preta bordada a tecido, à semelhança das capas de
honra e meias de renda.
A escolaridade ou formação profissional de cada um dos elementos é colocada em
evidência na primeira alocução, revelando grandes sinais de mudança. No início do
século XX, este comportamento expressivo estava associado ao meio rural,
sobretudo aos pastores, enquanto que agora são pessoas letradas, provenientes dos
meios urbanos, que se dedicam a estas práticas. A primeira alocução é proferida por
Anita:

71
“Muito boa noite a todos. Nós somos o grupo Ao Sons das Arribas, de Miranda do Douro
e é com muito gosto que estamos aqui para actuar com vocês. Vamos apresentar algumas
músicas tradicionais mirandesas. Para já começo a apresentar o grupo. Aquele senhor ali é
o nosso avô, que é o mestre e artesão de gaitas de fole, de bombos, de tamboris, de flautas
pastoris, de caixas de guerra29
, que é este instrumento que eu tenho estado a tocar, dos
pandeiros, ou adufes, como vocês lhes queiram chamar. De seguida passo a palavra ao
meu avô, que vai falar um bocadinho em mirandês… e espero que gostem… da nossa
actuação. Aaa… alem do mais, este é o meu irmão, o Dinis, que gosta de tocar gaita-de-
foles desde pequeno e que é estudante, depois, aqui ao meu lado esquerdo é a minha
prima, que é a Celine, que é fisioterapeuta e gosta também de nos acompanhar e de tocar
os nossos instrumentos tradicionais, eu chamo-me Anita, sou trabalhadora social, e
também adoro tocar os instrumentos tradicionais e também de manter a tradição. De
seguida passo a palavra, como eu já tinha dito, ao meu avô, que vai falar um bocadinho
em Mirandês.”
A “tradição mirandesa” é apresentada através da língua mirandesa, dos
instrumentos usados, das modas e do trajo. A língua mirandesa surge como o
principal factor de diferenciação, e como símbolo identitário, sendo utilizada, tanto
nas alocuções proferidas por Ângelo Arribas, como nas cantigas. Os instrumentos
usados são referenciados como “instrumentos tradicionais”, em que a construção
artesanal, e o uso destes instrumentos pelas gerações anteriores no contexto
mirandês são factores que legitimam a sua utilização.
Ângelo Arribas:
“Portanto, o que acabámos de tocar chama-se Alvorada, que é a música que se costuma
tocar no início das festas. De seguida vamos tocar o Passacalhes que é uma moda que
tocamos depois de tocar a Alvorada porque a Alvorada tem o nome con‟ elha, alvor do
dia, tocava-se às cinco da manhã ou cinco e meia para a seis da manhã para anunciar a
festa. Depois costumamos “matar o bitcho”, que nós dizemos: vamos a “ceionar”. Depois
tocamos então a Passacalhes, é a primeira moda que tocamos que é para tirar a esmola
pelas portas, que é para fazer a festa. Então vamos tocar o Passacalhes”.
29
Caixa de guerra é a designação émica para caixa de rufo. Optei pela designação de caixa, tal como E. V.
Oliveira (Oliveira 2000: 257).

72
O programa evoca a sequência do repertório, apresentado no contexto festivo, com
a Alvorada a dar início à actuação, representando o anúncio da festa, seguida de
Passacalhes, que é uma moda tocada em arruadas e peditórios. As alocuções
pretendem informar o público acerca do repertório a apresentar:
“De seguida vamos tocar uma música que é dançada pelos pauliteiros, que é o grupo
tradicional de Miranda, que são rapazes, com saias que dançam com paus”.
Segue-se Campanitas de Toledo, um lhaço que foi tocado na gaita-de-foles por
Ângelo Arribas, na caixa, Anita, no bombo, Dinis e no pandeiro, Celine. O público
aplaude no final da moda e ouve atentamente as explicações que lhe vão sendo
transmitidas. Anita anuncia a composição seguinte:
“De seguida vamos cantar uma música que se chama O pandeiro, que vai ser tocada
com a flauta pastoril com três buracos e o tamboril, o bombo e as conchas… e o
pandeiro”
Ângelo Arribas:
“Vocês… ou vós… em mirandês, vós de certeza que não davas nada por este
palico, pois não? Este palico, não queria mentir…, tinha eu, oito, nove anos…,
andava com as ovelhas…, nas arribas do Douro! Não tenia com que me
entretener… fiz um tamborenico pequeno das lhatas das sardinhas de escabeche de
quilo e meio e fiz uma fraitita pequena e já tocava, já tocava… começava a tocar
três modas, três cantigas, e casa-se um rapaz vizinho, da minha terra, com uma
rapariga de Miranda, o que é que se havia de lembrar, de chamar-me a mim”.
A composição apresentada em seguida foi o Pandeiro, que se insere na categoria de
baile circular ou Jota (Mourinho 1984: 553) com texto associado. A uma
introdução instrumental seguiu-se uma estrutura melódica bipartida composta por
quatro frases, que alternou entre a secção instrumental e vocal, esta última, cantada
em uníssono e a duas vozes à distância de terceiras e quartas, como se pode
observar no anexo 3.

73
Em seguida, outro género coreográfico associado à dança, Mira-me Miguel, uma
dança a pares (idem: 565), foi tocada por Ângelo Arribas na flauta e tamboril, e
cantada por Anita e Celine. A estrutura melódica apresentada foi AA BB (Ver
anexo 3), em que a parte A funcionou como refrão, cantada primeiro em uníssono e
repetida a duas vozes em terceiras, numa alternância entre parte instrumental e
vocal. De salientar, que esta dança é inserida na categoria de romance por Anne
Caufriez (1997: 48).
“De seguida vamos mudar outra vez para gaita-de-foles e vamos a mais uma que se
chama o Repasseado, que é uma dança… que é uma cantiga dançada pelos ranchos
folclóricos da nossa cidade, Miranda do Douro.”
Ângelo Arribas procura demonstrar como se dança, e incita o público a segui-lo,
contudo, este não reage, ficando sentado passivamente. O Repasseado foi tocado na
gaita-de-foles por Dinis. No final, Anita fez um gesto de ovação em direcção a
Dinis e o público aplaude.
Ângelo Arribas:
“De seguida vamos tocar outra que se intitula Oh Helena, que é tocada e cantada, mas
neste caso vai ser só tocada pela gaita-de-foles só. A Helena, sendo um baile muito
tradicional mesmo… mirandês, eu vou demonstrar com a minha neta como é que se
dança a Helena, e gostaria que… depois de lhes ensinar aqui, que dançasses ao toque
da gaita-de-foles”
O público reage rindo, contudo, não demonstra intenção de dançar, assistindo
passivo à exemplificação. Seguiu-se Oh Helena (ver filme 9) e depois uma
composição inédita, Sem Título, de autoria de Ângelo Arribas, tocada na ponteira
da gaita-de-foles.
A sequência apresenta um baile repasseado, Giriboilas, tocado na flauta e no
tamboril por Ângelo Arribas e cantado por Anita e Celine. A este sucedeu-se outra
categoria de baile: Pingacho, baile paralelo, igualmente cantado por Anita e Celine

74
numa primeira intervenção à capela e depois na versão instrumental com a gaita-de-
foles, bombo, caixa e pandeiro.
Alocução de Ângelo Arribas:
“Obrigado. Agora vamos tocar uma que ele aprendeu não sei onde”. [refere-se ao neto.
O público ri]
A introdução de repertório por parte dos mais jovens começa a ser frequente.
Passeado, foi recolhida em Rio de Onor por J. A. Sardinha e registado em Portugal
Raízes Musicais - Trás-os-Montes (1996). Esta composição foi, ainda, recriada pelo
grupo Gaitafolia, e publicada em notação musical na revista da associação Gaita de
Foles. A circulação de informação pelos média e as configurações da tecnologia,
favorecem a integração de novo repertório, que é assimilado pelos grupos.
As composições associadas a géneros coreográficos continuam a prevalecer no
programa apresentado. Cerigoça, bailado circular (Mourinho 1984: 555), foi tocada
na flauta e tamboril por Ângelo Arribas, numa estrutura melódica que consistiu
numa única frase apresentada pela flauta e imitada pelas vozes (ver anexo 3).
Como forma de envolver o público, Arribas introduz uma composição mediatizada,
os Malmequeres:
“Vamos tocar uma muito conhecida. A ver se me lembro! Os Malmequeres, esta é
vossa não é?
A expressão usada por Arribas: “esta é vossa”, reflecte a noção de divisão do país
em regiões musicais, reflexo da folclorização instituída pelo Estado Novo.
Contudo, a facilidade de circulação de pessoas, bens e informação, faz com que
seja cada vez mais difícil aos grupos invocarem o seu espaço em referência a um
território. O público continua a assumir uma posição passiva.

75
Ângelo Arribas tece algumas considerações acerca dos lhaços, contextualizando o
lhaço Vinte Cinco, o lhaço Balentina e algumas das melodias mediatizadas que se
transformaram em lhaços, isto é, que se converteram em melodias dançáveis pelos
grupos de pauliteiros:
“Os lhaços dos pauliteiros são vinte cinco. Hoje… já mudou muita cousa, há mais que
25 lhaços, dança-se nos pauliteiros o Fado, o Raspa, Maria Alice, as Pombas das
Catrininhas, e vários lhaços que não são lhaços. O 25 é um lhaço guerreiro… que todos
os lhaços eram lhaços guerreiros, a não ser o Padre António, o Padre António que é um
lhaço religioso, as campanitas, que foi a primeira que tocámos, são religiosas, o Acto
de contrição com Deus Miu, é um lhaço religioso, Carmelita, é um lhaço religioso,
pronto!… mas este não é religioso, o que vou tocar, também é um lhaço dos pauliteiros,
há quem lhe chame a Esmola, ou a Balentina. A Balentina era uma mulher de
Freixenosa, da mi tierra, e que era de “pelo na venta” como se costuma dizer, era assim
um bocado… terrível. E a dança dos pauliteiros, que são oito, mais os tocadores…
Gaita, caixa e bombo, andavam a dar a volta, mas quando chegaram a la porta dessa
senhora, ela disse ao gaiteiro… ao mordomo da festa: «Eu só te dou uma esmola se me
ajeitares um lhaço só para mim!» e o gaiteiro disse assim: «Nada mais. Está feita,
vamos embora.» Pronto não pegaram a esmola, ela não lha dava, queria um lhaço só
para ela sozinha, e deram a volta ao povo30
e quando chegaram novamente à porta
dessa mulher já levavam o lhaço estudado”.
Os dois lhaços que seguiram, Balentina, um lhaço de “motivo de maldizer”
(Mourinho 1984: 500), e Vinte Cinco, um lhaço sem texto associado. Foram
tocados na gaita-de-foles por Ângelo Arribas, segundo a estrutura melódica ABC,
em que a C corresponde à “Bicha” (ver capítulo seguinte relativamente à estrutura
dos lhaços).
A repetição do lhaço Vinte Cinco, seguido da composição religiosa Avé Maria
marcou o final da actuação.
30
Povo significa aldeia, povoado.

76
As alocuções ocuparam cerca de 50% do tempo total da actuação. Termos como
“muito tradicional” ou “músicas tradicionais mirandesas” foram usados com
frequência para legitimar o repertório apresentado. Foi feita alusão a três contextos:
a festa, o trabalho e a devoção. O espaço da festa remete para questões temporais.
O anúncio da festa através da Alvorada às “cinco e meia para as seis da manhã”,
seguido do Passacalhes para “tirar a esmola pelas portas para fazer a festa” ou a
Balentina. O contexto do trabalho sugere um tempo passado e é colocado em
evidencia nas descrições de uma paisagem bucólica, ilustrada através da imagem do
pastor guardador de ovelhas que como “não tinha com que me entretener” fazia os
seus próprios instrumentos. A devoção é outro dos contextos apresentados
sobretudo, quando se faz a distinção entre lhaço religioso e guerreiro.
3. Actuação do grupo Gaitafolia na Associação Ponto de Encontro em
Cacilhas (22 de Abril de 2005)
Cerca das onze horas da noite apagaram-se as luzes da sala. Passados alguns
segundos, começaram a ouvir-se gaitas de fole à distância. O grupo Gaitafolia
iniciava a actuação descendo uma escada em direcção ao local onde esta iria
decorrer. À frente, Tiago a tocar bombo, seguido de Mário Estanislau, Vítor Félix,
André Ventura e João Ventura a tocarem gaita-de-foles.
O público reagiu com aplausos aos primeiros sons provenientes dos instrumentos,
continuando a manifestar-se durante todo o espectáculo de forma entusiasta.
Foram apresentadas catorze composições instrumentais, as primeiras quatro
tocadas em gaita-de-foles galega e as seguintes em gaita-de-foles transmontana.
Ao longo de toda a actuação a sala manteve-se às escuras, ficando os músicos
iluminados por holofotes que se encontravam colocados no chão.
A primeira composição foi Passodoble de Lalin, composição galega tocada em
gaita-de-foles galega pelos quatro gaiteiros que compõem o grupo, acompanhados
pelo bombo. A estrutura melódica é AABB‟, destacando-se o ritmo sincopado da

77
segunda secção. A escolha de um tema galego para o início da actuação revela a
influência da região e a forma como esta se reflecte nas opções estéticas do grupo.
Seguiu-se A Minha Rosinha, uma valsa que faz parte do repertório dos ranchos
folclóricos da região de Torres Vedras. Nesta última, a introdução foi realizada por
Mário Estanislau, entrando os restantes elemento do grupo na parte B (ver anexo
3). A melodia, composta por duas frases curtas, caracteriza-se pelo movimento
ondulatório onde predominam os graus conjuntos, movendo-se num âmbito de
sétima. O grupo continua a actuação sem proferir qualquer alocução. O público
manifesta-se entusiasticamente trauteando a melodia.
A terceira composição, Pernas P‟ra Riba, de proveniência galega, apresentou a
estrutura melódica AABB‟, precedida de uma introdução realizada por Vítor Félix.
Esta estrutura foi repetida por todos os membros do grupo, em uníssono na parte A,
e a duas vozes na parte B, à distância de terceiras. A performance é marcada por
uma postura descontraída, por oposição à seguida pelo modelo das bandas de gaitas
implementado na Galiza por Xosé Lois Foxo, como descrevo na página 64.
A alternância entre composições galegas e portuguesas deu lugar a Muiñeira. Esta
foi recolhida por Michel Giacometti em Moimenta e registada na Antologia da
Música Regional Portuguesa (ver capítulo seguinte a estrutura da muiñeira,
também representada no anexo 3). As composições são reconhecidas
imediatamente pelo público, que interage com o grupo em todos os momentos.
Seguiu-se Maruja, de autoria de Zeca Afonso, a primeira composição tocada em
“gaita-de-foles transmontana” e interpretada por Vítor Félix, num andamento lento
e bastante livre, em que a primeira secção contrastou com a segunda, num
andamento mais rápido. Umas das técnicas muito exploradas neste tema foram os
vibratos, produzidos através do movimentar dos dedos sobre os orifícios sem nunca
os tapar. A escala produzida pela “gaita-de-foles transmontana” cria imagens de
exotismo nas novas recriações.

78
Seguiram-se três composições recolhidas em Trás-os-Montes:
Mirandum/Carvalhesa e Carvalhesa de Vinhais. As duas primeiras foram tocadas
sem interrupção. André Ventura apresentou Mirandum num andamento lento, que
foi repetido pelos restantes elementos do grupo. A estrutura melódica, ABB‟
constrói-se sobre uma melodia onde se destacam os cromatismos e predomínio de
graus conjuntos. Carvalhesa, é uma dança recolhida em Trás-os-Montes, e registada
em fonograma por Anne Caufriez (1997: 286). Carvalhesa de Vinhais, registada
por E.V. Oliveira em 1960/3, faz parte da categoria de dança, encontra-se transcrita
em notação musical na Revista Gaita de Foles. Em ambas as composições, a
estrutura melódica repete diversas vezes em uníssono e a duas vozes à distância de
terceiras.
Por Entre Vales é uma composição inédita, de autoria de Mário Estanislau, que a
introduziu a solo na gaita-de-foles. É composta por três frases, repetidas duas
vezes cada uma, onde predominam os graus conjuntos numa melodia que vai
desenhando pequenos movimentos ondulatórios num âmbito de sexta. Esta
estrutura foi repetida por mais quatro vezes pelos restantes elementos do grupo
(anexo 3). A maioria das composições apresentadas é composta por duas frases
curtas que repetem diversas vezes, estrutura seguida por Mário Estanislau nesta
composição.
A composição galega Quero que... foi transmitida a Vítor Félix por um galego, num
dos E.N.G., e recriada pelo grupo, passando a fazer parte do seu repertório.
Composta por duas frases, repetidas duas vezes cada, foi repetida por todo o grupo
num total de cinco vezes (DVD filme 10). A introdução de repertório através da
forma directa num dos eventos promovidos pela A.P.E.D.G.F. vem corroborar a
ideia veiculada no capítulo anterior (ver página 62).
A Saia da Carolina, décima composição apresentada, é comum ao repertório da
Galiza e Trás-os-Montes e encontra-se registada no LP Folclore Português Trás-
os-Montes e Alto Douro grupo folclórico de Duas Igrejas. A estrutura melódica foi

79
AABB, precedida de uma introdução realizada por André Ventura na gaita-de-
foles, num andamento moderado, culminando num movimento melódico
descendente por graus conjuntos, que conduziu ao tema principal (ver anexo 3),
repetida diversas vezes pelo grupo. O público começa por acompanhar a
performance de André com palmas e entra em êxtase quando os restantes elementos
do grupo começam a tocar. De súbito, o grupo circula pela sala enquanto toca,
misturando-se com o público que se manifesta dançando, cantando e aplaudindo de
forma efusiva (ver DVD filme 10).
A Passodoble Português, composição portuguesa, seguiu-se o Repasseado,
integrado na categoria de danças mistas, praticadas no distrito de Bragança. A
estrutura musical consistiu em duas frases, cada uma repetida duas vezes (ver
anexo 3). Esta foi a sexta composição apresentada pelo grupo recolhida na região
de Trás-os-Montes, repertório que ocupou quase 50% do total da actuação,
evidenciando desta forma a importância que o instrumento assumiu na região a
partir dos anos 1960, que se reflectiu nas opções tomadas pelos diferentes
folcloristas que realizaram recolhas na região.
O Fado Batido foi a penúltima composição. Esta foi recolhida por J. A. Sardinha
em Torres Vedras. A uma introdução lenta, realizada na gaita-de-foles
transmontana por Mário Estanislau, em que se fez uso de recursos estilísticos
como os vibratos e portamentos, seguiu-se a estrutura melódica AABB, tocada
alternadamente pelos vários elementos do grupo, repetida num total de doze vezes
num andamento cada vez mais acelerado.
O repertório apresentado pelo grupo ao longo da actuação reflecte revisitações ao
legado escrito e gravado, bem como a recolha junto de pessoas idosas (como refiro
na página 47). As recriações baseiam-se ainda em materiais sujeitos a releituras,
como no caso da última composição apresentada, Campanitas de Toledo, lhaço
dançado pelos grupos de pauliteiros mirandeses, recriada igualmente pelo Grupo
Galandum Galundaina e Grupo Som das Arribas.

80
4. Conclusão
A ideologia ruralista centrada na preservação da tradição é princípio subjacente aos
grupos aqui apresentados. Em Galandum Galundaina e Som das Arribas, a prática
folclórica evidencia a necessidade de manutenção das tradições mirandesas. A
primeira forma de comunicação com o público ocorre quando estes se apresentam
em palco trajados, remetendo para a representação do espaço mirandês, evocando
um tempo passado e uma condição social. A “tradição mirandesa” apresentada
através da língua mirandesa, utilizada tanto nas alocuções proferidas, como nas
cantigas, reforça a diferença entre a população de Miranda e o resto do país e define
a identidade territorial de ambos os grupos. As duas actuações ocorreram em
espaços distintos e dirigiam-se a públicos diferenciados: Galandum Galundaina no
espaço mirandês, para um público conhecedor da língua e de todas as práticas
musicais associadas ao contexto, e Som das Arribas no distrito de Setúbal, perante
um grupo de cerca de quarenta pessoas com idades compreendidas entre os trinta e
sessenta anos, assistência pouco ou nada familiarizada com as tradições
mirandesas.
A reacção do público revelou-se passiva em ambos os casos. No grupo Galandum
Galundaina, das dez alocuções proferidas, oito apelam à dança, e no último tema o
público é quase forçado a dançar, pois o grupo pára a sua actuação. Apesar desta
actuação decorrer no espaço das tradições que se pretende representar, constata-se
que a maioria da população local pouco ou nada sabe sobre a sua música, ou não se
interessa por ela, à excepção de um pequeno grupo de entusiastas. Em Setembro de
2005, o grupo actuou no palco principal na Festa do Avante, no Seixal, perante uma
assistência superior em termos numéricos, onde a receptividade do público foi
bastante maior.
Na actuação do grupo Gaitafolia em Cacilhas, o público era composto por
entusiastas, conhecedores do grupo, e do seu repertório que interagiram com este ao
longo de toda a actuação, através de aplausos, da dança e do trautear da melodia. O
palco, quase invisível, estimulou a proximidade entre o público e grupo, anulando

81
as fronteiras entre performadores e assistência. A (re)folclorização levada a cabo
pelo grupo inverte a relação distante entre performadores e público, geralmente
passivo, instituída no período do Estado Novo. O grupo estimula a participação de
todos e a performance envolve o grupo e toda a assistência.
A influência de Espanha, sobretudo da região da Galiza, é notória, e assumida por
todos os grupos. O grupo Gaitafolia apresenta na sua actuação composições da
região da Galiza e várias regiões de Portugal, entre as quais Miranda do Douro.
Galandum Galundaina e Som das Arribas baseiam o seu repertório em composições
mirandesas, que reflectem uma forte influência de Espanha, sobretudo da região de
Castela-Leão. Existem composições que são comuns às três actuações,
diferenciando-se pela abordagem feita por cada grupo. A abordagem feita pelo
grupo Gaitafolia é, por exemplo, resultado da negociação do espaço a representar, o
território português. As composições galegas interpretadas na “Gaita transmontana”
apresentam reconfigurações dessas melodias, transformando-as em novas
recriações.
O grupo Galandum Galundaina apresenta variações sobre temas mirandeses, ou
uma colagem de um desses temas com uma melodia galega ou asturiana
contrastante. Esta opção decorre da “necessidade” de diversificação, “imposta”
pelos mercados culturais e turísticos, bem como da partilha de linguagens musicais
com outros contextos.
A introdução de instrumentos como a sanfona ou a gaita-de-foles mirandesa por
parte do grupo Galandum Galundaina veio trazer à performance do grupo
“imagens” de exotismo que constituem capital artístico.

82
VI. REPERTÓRIO
Neste capítulo pretendo reflectir acerca de alguns dos géneros musicais mais
significativos no repertório da gaita-de-foles, disseminados tanto em Miranda do
Douro como na área Metropolitana de Lisboa. O repertório da gaita-de-foles
reflecte, em primeiro lugar, a institucionalização do folclore no período do Estado
Novo, em segundo, a institucionalização da música instrumental associada ao
contexto rural, em terceiro lugar, as movimentações populacionais motivadas pela
migração e pelo turismo, e, por último, a circulação de informação pelos média,
bem como, a criação de imagens difundidas por estes meios.
Ao longo do século XX, estudiosos e colectores, convictos que a “tradição” estava
ameaçada pela modernização, entenderam que a melhor forma de contrariar as
tendências modernistas seria preservando-a através de recolhas de poesia, canções,
danças e diversos artefactos, dando origem ao aparecimento de cancioneiros e
romanceiros. As primeiras gravações resultantes de recolhas continuaram esta
tendência. Nos anos 1930, Schindler, procedeu à gravação e transcrição, nos
concelhos de Miranda do Douro e Vinhais, de romances e lhaços. Na mesma altura,
Gallop promovia a dança dos pauliteiros de Miranda do Douro na Inglaterra. Em
1959, Giacometti editava Chants et Danses du Portugal e a Antologia da Música
Popular Portuguesa, volume I, dedicado a Trás-os-Montes, dando especial atenção
ao canto e aos estilos musicais associados à dança, que continuaram a predominar
em trabalhos posteriores.
A importância dada à música instrumental no contexto rural português só se
manifestou a partir dos anos sessenta do século XX, com a publicação de
Instrumentos Populares Portugueses, obra pioneira neste domínio, e resultado de
um trabalho encomendado pelo serviço de música da Fundação Calouste
Gulbenkian a Ernesto Veiga de Oliveira e Benjamim Pereira, onde estabeleceram
“uma divisão do país em correspondência com um determinado número de regiões

83
músico-instrumentais, de acordo com as formas e manifestações musicais
características de cada uma, e o instrumento ou conjunto instrumental com que
estas eram realizadas” (Oliveira 11966
32000: 14).
Esta publicação viria a tornar-se referência para músicos, artesãos, folcloristas e
investigadores e, consequentemente, a influenciar todo o processo de
(re)folclorização em torno das práticas associadas à música instrumental no
contexto tradicional português, na transição do século XX para o século XXI. A sua
publicação, em 1966, assiná-la o início da institucionalização da música
instrumental associada ao contexto rural. Enquanto que a institucionalização do
folclore promoveu determinados comportamentos expressivos e estabeleceu uma
normalização dessas práticas, esta obra produziu regras que delimitaram o espaço e
o contexto performativo de cada instrumento dentro do território nacional. Isto
reflectiu-se nas opões estéticas dos GUR, que passaram a associar determinado
instrumento a uma região e a seguir essa regra na concepção da instrumentação.
Neste processo, a gaita-de-foles é tida como “o principal dos grandes instrumentos”
em Trás-os-Montes (Oliveira 2000: 105). Tinha como função assinalar o início da
festa, com a alvorada, estava presente no peditório, com os passacalhes e lhaços,
acompanhava a procissão, com as “marchas de procissão”, e dentro da igreja
intervinha na Elevação da Hóstia, com Santos ou no Beijai o Menino, nas
representações do presépio natalício (idem). Para além da função cerimonial,
acompanhava a dança em diversas ocasiões, como nos bailes realizados aos
domingos, em casamentos, ou noutros eventos de carácter profano.
1. Géneros instrumentais
O Passacalhes é um género musical associado às rondas, alvoradas e marchas de
procissão, com uma estrutura melódica composta por duas frases musicais curtas,
repetidas duas ou três vezes cada uma, numa métrica regular de 2/4 ou 4/4. A
designação de Passacalhes parece ter sido importada do espanhol, uma vez que o

84
termo significa literalmente ronda pelas ruas (calhes em castelhano), tendo sido
adoptado por Ernesto Veiga de Oliveira em 1966 (Oliveira 2000: 108).
2. Géneros coreográficos
O repertório da gaita-de-foles reflecte a apropriação de algumas das práticas
associadas à dança e ao canto, presentes na componente performativa dos ranchos
folclóricos. Daí a institucionalização do folclore mirandês através de géneros como
os lhaços, repasseados e jotas. Todavia, a influência de Espanha, resultante de
movimentações populacionais e da circulação de informação pelos média, dá
também lugar à introdução de géneros e categorias como as muiñeiras, valsas, entre
outros.
Os lhaços, constituem o género musical associado à coreografia da “dança dos
paulitos”, no Concelho de Miranda do Douro, Mogadouro e Vimioso. A estrutura
melódica (ABC) e a métrica regular de 2/4, são elementos que identificam este
género, em particular, a terceira secção, “bicha”, que é comum a todos eles (ver
transcrição de Campanitas de Toledo no anexo 3). A maioria consiste numa
estilização instrumental de uma melodia associada a uma canção, dança popular, ou
melodia mediatizada, que serve de auxiliar de memória para a coreografia. As
temáticas abordadas relacionam-se com a religião, agricultura, caça e vida
sentimental. Contudo, existem também lhaços sem letra, como o 25 Aberto, 25 de
Roda, Rodrigo, Salto ao Castelo, A Bicha, As rosas e Taira Grande. No repertório
actual mais tocado encontram-se os lhaços: Ofícios, Salto ao Castelo, Mirandum,
25 aberto, 25 de roda, La Yerba, La Bicha, Campanitas de Toledo e Acto de
Contrição.
Associados ao contexto profano, os bailes “no terreiro” eram uma prática comum
no meio rural na primeira metade do século XX. Estes marcavam o final das
celebrações religiosas ou, fora do contexto festivo, tinham uma função lúdica. De
entre as categorias mais representativas encontra-se o Repasseado. Este faz parte da
categoria de danças mistas praticadas no distrito de Bragança, caracterizado pela

85
coreografia, com letra e repertório associado. A estrutura musical consiste em duas
frases, cada uma repetida duas vezes (ver anexo 3: repaseado, passeado, giriboilas).
A referir ainda as Jotas, que constituem um género musical associado a uma
coreografia de dança mista em círculo, caracterizada pela métrica regular de 3/4,
3/8 ou 6/8. Esta dança, executada em festas locais em Trás-os-Montes, tem na
maioria das vezes uma letra associada. A estrutura musical consiste em duas frases,
cada uma repetida duas vezes, em geral, frases muito curtas, (ver anexo 3:
Pandeiro). Este género tem uma grande expressão em Espanha, sobretudo na região
de Aragão.
Como resultado do processo de folclorização no âmbito dos ranchos folclóricos e
institucionalização do folclore mirandês, descrita no segundo capítulo (página 22),
géneros como os lhaços, repasseados ou jotas, que faziam parte das festividades
religiosas ou do contexto lúdico na região transmontana, começam a ser difundidos
nos circuitos turísticos e meios de informação e a ser apresentados fora do contexto
festivo rural, nomeadamente no meio urbano, sobre um palco. Investigadores e
folcloristas começam a dar uma maior atenção a estes géneros, que passam a ser
alvo de recolhas, edições e interpretações por parte dos GUR, como a Brigada Vítor
Jara (1979 e 1994), entre outros.
No processo de folclorização focado no primeiro capítulo, os géneros musicais
continuam a remeter para o contexto das danças, todavia, emancipam-se destas
tornando-se autónomos, passando a ser performados em palco, sem a componente
coreográfica. Uma série de categorias associadas à dança, onde se assumem
composições relativas a bailes paralelos, danças a pares ou bailes repasseados, são
recriadas e submetidas a releituras (Branco 1995: 170), abandonando o papel
funcional que tinham anteriormente, e os géneros musicais passam a ser
performados perante uma assistência passiva (ver programa apresentado pelo grupo
Galandum Galundaina na página 68 e grupo Som das Arribas, na página 72).

86
Verifica-se ainda a introdução de repertório associado a outros contextos, sobretudo
da região da Galiza. Assim como o folclorismo em Espanha promoveu o flamengo
para consumo turístico dando-lhe um grande protagonismo (Manuel 1989, Martí
1998), na Galiza promoveu-se a gaita-de-foles e todo um conjunto de práticas
associadas à dança, em particular a muiñeira, numa apresentação da tradição como
objecto estético, lúdico e de consumo (Martí 1998: 338). As movimentações
populacionais deram origem à introdução deste repertório no contexto português.
A Muiñeira, associada à coreografia de uma dança na região da Galiza, caracteriza-
se pela métrica regular de 6/8, podendo em alguns casos encontrar-se também 2/4.
A estrutura musical é composta por duas frases, cada uma repetida duas vezes.
Maioritariamente acompanhada pela gaita-de-foles e tambor, ou pelo canto (que
pode ser performado sem a dança) e cujo texto é em regra composto por versos
decassílabos de quatro estrofes. Em Portugal, este género já faz parte do repertório
da gaita-de-foles (ver actuação de Gaitafolia no capítulo anterior), sendo
reconfigurado conforme as abordagens realizadas pelos agrupamentos.
3. Géneros vocais
Como observa E. V. Oliveira, “em Portugal, as gaitas de fole só em casos raros
acompanhavam o canto” (1966: 176) à excepção de certas danças, como o
Pingacho, o Galandum, etc., que também tinham parte vocal (idem), facto que
podemos contactar a partir dos registos áudio disponíveis. A institucionalização do
folclore mirandês não parece ter alterado este facto, contudo, o romance
acompanhado por instrumentos começa a fazer parte do repertório dos GUR,
sobretudo a partir dos anos 1980, em grupos como a Brigada Vítor Jara (1981,
1989) ou Gaiteiros de Lisboa (1995).
O romanceiro português tem, segundo Anne Caufriez, origem no romanceiro
espanhol e, desde o séc. XV, cantado na corte e nos meios rurais. A partir dos
séculos XV e XVI, os romances foram compilados em colecções e
progressivamente abandonados pelas classes eruditas no século XVII, passando

87
apenas a fazer parte da cultura rural (1997: 13). Através de um estudo sobre o
romance em Trás-os-Montes, Caufriez constata que algumas das versões que se
cantam nas comunidades rurais actualmente são idênticas às dos cancioneiros do
século XVI (idem). Encontramos nos romances mirandeses temáticas religiosas,
pastoris, amorosas, guerreiras, entre outras. Estes eram cantados nos serões ou nas
festas religiosas, no contexto rural, ao longo do século XX. Como resultado do
recente processo de (re)folclorização, o romance começa a fazer parte do repertório
da gaita-de-foles, como se pode observar na actuação do grupo Grupo Galandum
Galundaina, em que a gaita-de-foles galega acompanhou o canto no romance Chin-
glin-din (ver página 68-69).
Para além do romance, outras melodias associadas ao canto, que foram
mediatizadas, são incorporadas no repertório da gaita-de-foles. A título de exemplo,
veja-se a composição Malmequeres, na actuação de Som das Arribas (página 74),
Maruja ou Fado Batido na actuação do Grupo Gaitafolia (página 77 e 79) ou o
repertório apresentado no E.N.G., descrito na página 61. Estas composições
assumem reconfigurações constantes, dando origem ao aparecimento de repertórios
que incluem elementos melódicos e tímbricos presentes em outros contextos, desde
revisitações da música erudita, aos géneros como o fado, música ligeira, etc.
4. Conclusão
A institucionalização do folclore no período do Estado Novo veio dinamizar uma
série de actividades em torno da dança, à qual era associada uma coreografia e
melodia com letra específica. A dança transforma-se num acto social importante na
vida aldeã, assumindo uma vertente de exibição que se dissemina pelo mundo rural
(Castelo-Branco & Branco 2003: 19). A passagem para o regime democrático não
provocou uma ruptura com estas práticas, pelo contrário, estas reforçam-se e
expandem-se, dando lugar a processos de (re)folclorização das práticas associadas
ao meio rural. Sendo a dança uma arte de síntese (Roubaud 2003: 337) e a política
do Estado Novo eminentemente estetizante (Alves 2003: 191), os ranchos
folclóricos tornaram-se um veículo importante na acção do SPN/SNI, uma vez que

88
constituíam uma encenação protagonizada por indivíduos do mundo rural, usando
vestes que vinham de tradições remotas e formas de dança e música igualmente
antigas (idem: 204). Por conseguinte, a acção de divulgação destas práticas levou à
difusão e apropriação deste repertório pelos GUR no regime democrático, que o
exibem fora do contexto da dança, reflectindo uma visão crítica que estimula a
diversificação das abordagens da música tradicional.

89
VII. NOVAS VIAS: Mudanças no ensino da gaita-de-foles
“A coisa muito antiga torna-se moderna”
Ernesto Martins Lhano
(Gaiteiro em Duas Igrejas)
Os gaiteiros mais idosos do concelho de Miranda do Douro desempenharam um
papel importante no ensino da gaita-de-foles, em especial Ângelo Arribas, e
recentemente o ensino promovido na Casa da Música Mirandesa. Em Lisboa,
destaca-se Paulo Marinho, cuja acção se desenvolve no Centro Galego (sedeado em
Lisboa), e a Escola da A.P.E.D.G.F..
Os ideais que motivaram a aprendizagem da gaita-de-foles incluem a recuperação e
manutenção das tradições rurais bem como a originalidade do instrumento nos
meios urbanos, sobretudo a nível tímbrico.
1. Miranda do Douro
Tal como a construção, a aprendizagem da gaita-de-foles processava-se através da
observação e da audição. Apenas no final dos anos noventa é que começaram a
surgir incentivos por parte da administração local (C.M.M.D./Juntas de Freguesia),
ou através de iniciativas particulares (Centro de Música Tradicional Sons da Terra),
com vista à formalização do ensino.
A aprendizagem auto-didacta é valorizada na conceptualização dos gaiteiros, como
forma de legitimação da autenticidade da música tradicional, sendo frequentes
afirmações como “aprendi a tocar sozinho, logo em criança”, nas quais está
implícito o conceito romântico de que a música é uma aptidão com a qual se nasce.
Neste contexto, a tradição familiar é importante verificando-se que grande parte dos
gaiteiros era filho de outros gaiteiros ou tinham um familiar que o era.
Ângelo Arribas é uma das figuras centrais no ensino da gaita-de-foles em Miranda
do Douro. Começou a tocar e a construir gaita-de-foles no final dos anos oitenta do

90
século passado. Uma década mais tarde foi convidado para ministrar um curso de
gaita-de-foles, apoiado pela Associação para o Desenvolvimento integrado de
Palaçoulo e pela Câmara Municipal de Miranda do Douro. Depois deste ministrou
outros cursos em Cércio e, posteriormente, em Sendim, este último gerido pelo
Centro de Música Tradicional de Sendim, liderado por Mário Correia. Actualmente
Ângelo Arribas continua a dedicar-se ao ensino em Miranda do Douro, agora de
modo independente, sendo as aulas remuneradas pelos alunos. A maioria dos
jovens gaiteiros em actividade em Miranda do Douro teve o seu primeiro contacto
com o instrumento através de Ângelo Arribas. Depois da iniciação ao instrumento,
muitos procuraram outras formas de aperfeiçoamento da sua técnica em Espanha
em escolas junto à fronteira, ou como auto didactas aprendendo novo repertório
através da audição dos fonogramas disponíveis.
O método de ensino baseia-se na aprendizagem directa (Castelo-Branco 1994:
128). As aulas, em conjunto (entre sete a vinte alunos), integram alunos de várias
faixas etárias. A maioria das modas tem um texto associado. O orientador canta a
melodia e toca na gaita-de-foles e, em seguida, os alunos imitam cantando o que
ouviram, para depois executarem no instrumento.
“... Isto é como tudo, o que interessa é aprenderam uma moda, chega! A partir
daí é, mete-las todas no ouvido. Um indivíduo que saiba tocar uma moda na
gaita-de-foles ou na flauta, de resto é só meter modas no ouvido. Eu faço assim,
começo o curso… eu tenho feito assim, meto a alvorada que é a mais custosa, a
Alvorada é a mais comprida delas todas, quando souberem tocar a alvorada é só
meter o disco na cabeça. Porque eu hoje... aparece uma moda nova e aprendo. Eu
ensinei-lhes! Três ou quatro, ficaram a tocar nove, mas não precisava ensinar-
lhes as nove, só precisava de lhes ensinar uma… Depois ele começa a descobrir
as outras, é ele a aprende-las, porque a mim ninguém mas ensinou. Eu aprendi a
tocar uma, na flauta de lata, depois eu sentia alguém a cantar e… que moda é
esta?…, à já sei… e aprendia-a e a partir daí tocava-a na flauta…” (Entrevista a
Ângelo Arribas 5/8/2003).

91
A Alvorada poderá não ser a mais difícil em termos técnicos, mas “é a mais
comprida delas todas”, desenvolvendo por isso a memória auditiva. Como nem
todos os alunos têm o mesmo ritmo de aprendizagem, no final do curso alguns dos
alunos aprendem todas as modas ensinadas, enquanto outros apenas duas ou três.
Outros, ainda continuam a tocar apenas na ponteira31
, sobretudo por razões
económicas, porque uma gaita-de-foles pode custar entre 250 a 700 euros.
Parte do repertório ensinado encontra-se transcrito no Cancioneiro Tradicional e
Danças Populares Mirandesas, da autoria de António Mourinho, podendo incluir
ainda canções mediatizadas.
Um dos traços estilísticos da prática performativa da gaita-de-foles é a
ornamentação. No final do ano lectivo alguns alunos já dominam algumas técnicas
de ornamentação, como o vibrato, os mordentes e trilos.
O impacte da mudança no processo de aprendizagem reflectiu-se sobretudo a nível
da organização dos agrupamentos. O ensino em conjunto criou a necessidade de
construir Gaitas com a mesma afinação. Para tal foi necessário construir, importar
da Galiza ou de outra região de Espanha, instrumentos afinados entre si. O ensino
processa-se em conjunto, estimulando assim o gosto pela criação de grupos de
Gaitas, situação pouco ou nada comum na região de Miranda do Douro, mas
frequente noutras regiões do país onde se encontram grupos de dois ou mais
gaiteiros32
, por vezes em conjunto com o clarinete ou outros instrumentos de sopro.
As instituições locais, nomeadamente a Câmara Municipal de Miranda do Douro,
começaram a ver no ensino da gaita-de-foles uma forma de preservação do
património local. Considerando a necessidade de criar um espaço adequado, com
vista ao desenvolvimento do ensino e da sociabilização gerada por esta prática, a
C.M.M.D. criou a Casa da Música Mirandesa, situada na antiga escola primária,
31
Designação em Miranda do Douro para o tubo melódico da Gaita-de-foles. 32
E. V. Oliveira apresenta através de registo fotográfico gaiteiros a tocarem em simultâneo na zona de Viana
do Castelo e em Barcelos a gaita com o clarinete e saxofone soprano (Oliveira 2000: 49 e 56).

92
inaugurada a 10 Julho de 2004, e adquirida pela C.M.M.D. à Direcção-Geral do
Património do Estado por 115 mil euros, tendo a sua recuperação custado cerca de
300 mil euros. No edifício foi projectado o funcionamento de vários gabinetes, um
auditório e uma sala de exposições permanentes que darão a conhecer a cultura e
música mirandesas.
Com a criação desta instituição altera-se o espaço simbólico do ensino do
instrumento, que passa a estar centralizado na cidade de Miranda. A maioria dos
alunos são estudantes que têm aderido com entusiasmo. Segundo Paulo Meirinhos,
director da Casa da Música Mirandesa, no ano lectivo de 2004/5 inscreveram-se
sessenta e cinco alunos, quarenta dos quais frequentaram as aulas de gaita-de-foles,
guitarra e percussões. O método de ensino consiste sobretudo na audição e
reprodução da melodia, começando a ser introduzidos alguns conceitos teóricos e
iniciação à música escrita.
2. Lisboa
Paulo Marinho
Seguindo a mesma linha de orientação do ensino da gaita-de-foles em Miranda, ou
seja, a transmissão directa, surge o ensino no Centro Galego de Lisboa, orientado
por Paulo Marinho, ligado a este centro desde os anos oitenta, como saliento na
página 46.
Em 1997, Paulo Marinho promoveu um “workshop de gaita-de-foles”33
, que teve a
duração de três dias. Esta iniciativa decorreu nas instalações do Centro Galego de
Lisboa e foi divulgada pelo INATEL. O interesse demonstrado pelos participantes
levou Paulo Marinho a organizar um curso de gaita-de-foles no local. Como se
refere no capítulo III, a maioria destes alunos formaram o grupo Gaitafolia, que se
apresentou em público pela primeira vez após seis meses de aulas, em Junho de
1998 na Feira do Livro de Lisboa e, logo depois, na Expo 98 no âmbito do
33
Este não foi o primeiro workshop do género, como refiro na página 47, contudo foi o que teve um maior
impacto ao nível do ensino do instrumento em Lisboa.

93
espectáculo dos Gaiteiros de Lisboa. Os elementos deste grupo nunca tinham tido
contacto com este ou outro instrumento, à excepção de dois ou três elementos que
já tinham pertencido a grupos de Música Tradicional ou frequentado a Escola
Profissional de Música de Almada. Trata-se de uma decisão de um indivíduo, Paulo
Marinho, ao qual se associou um pequeno grupo de militantes, que passou a
organizar determinadas actividades para a promoção da prática da gaita-de-foles.
Em 2000, procurando alargar o ensino do instrumento a outras zonas da área
metropolitana de Lisboa, Paulo Marinho promoveu o ensino em Alhos Vedros e
Pinhal Novo, em conjunto com Vítor Félix. Foi no curso de Alhos Vedros que tive
o primeiro contacto com as aulas de gaita-de-foles e que conheci pessoalmente
Paulo Marinho e Vítor Félix. Na forma de ensino e nas expressões dos seus
dirigentes já estava patente a vontade de institucionalização do ensino do
instrumento, “oficialização e reconhecimento por parte das entidades oficiais
competentes” (Marinho, Março de 2002 - brochura distribuída no 2º E. N. G.).
Quando em 2003 os sócios da Associação Portuguesa para o Estudo e Divulgação
da gaita-de-foles elegeram novos órgãos de direcção, surgiram dois espaços de
ensino: o Centro Galego, onde Paulo Marinho continua a leccionar, em conjunto
com um antigo aluno, Gonçalo Marques, e a escola da A.P.E.D.G.F., que funciona
em Almada, num espaço cedido pela Sociedade Filarmónica Incrível Almadense.
A maioria dos alunos orientados por Paulo Marinho continuou ligado a actividades
relacionadas com a gaita-de-foles, quer através da participação nas actividades da
A.P.E.D.G.F., quer no aprofundar de conhecimentos em outros contextos, como a
Galiza, nomeadamente na Universidade Popular de Vigo, ou mesmo a Escócia.
A Escola da Associação Portuguesa Para o Estudo e Divulgação da gaita-de-
foles
Na escola da A.P.E.D.G.F. manifesta-se a vontade de tornar oficial o curso de
gaita-de-foles. Seguindo o modelo de ensino da Universidade Popular de Vigo, na

94
divulgação da escola refere-se que o curso, “para além de se destinar a ensinar a
tocar gaita-de-foles, inclui noções teóricas e práticas de afinação, solfejo, técnicas
de execução e adornos, conceitos fundamentais de história do instrumento,
etnomusicologia e contextos culturais, etc, com os quais se procura formar não
apenas simples músicos ou gaiteiros, mas também pessoas atentas, capazes de
interpretar e avaliar a riqueza do instrumento e o contributo português para a sua
diversidade mundial” (http://www.gaitadefoles.net).
A introdução do termo Etnomusicologia nos objectivos da escola funciona como
validação do ensino, no sentido em que este domínio de investigação, segundo a
visão émica dos dirigentes da escola, se ocupa do estudo da “música étnica”,
conceito que para o senso comum, corresponde à música tradicional de cada país,
que permanece sobretudo nos meios rurais e que conseguiu, de alguma forma,
resistir às mudanças provocadas por influências externas. Esta visão não
corresponde totalmente ao âmbito de estudo da disciplina, para a qual toda a cultura
expressiva musical é étnica, e por isso passível de se enquadrar nos objectivos da
disciplina. Deste modo, a Etnomusicologia pode debruçar-se sobre questões
relacionadas com culturas musicais que poderão ir desde Bach até ao grupo
Gaitafolia, que podem ser analisadas segundo uma perspectiva etnomusicológica.
Nos cursos de iniciação à gaita-de-foles é feita uma abordagem à morfologia e
história do instrumento e os alunos recebem uma flauta de bisel, onde são alteradas
as dimensões do primeiro e terceiro orifícios, correspondentes às notas “dó” e “mi”,
respectivamente. Esta alteração tem como objectivo aproximar a escala da flauta à
escala produzida pela gaita-de-foles.
A aprendizagem da execução do instrumento baseia-se na reprodução de um som
contínuo, como o que é produzido pela gaita-de-foles. Aprendem-se pequenas
melodias que fazem parte do repertório tradicional português e galego. As aulas são
na maioria práticas e alguns alunos gravam as melodias como auxílio à
memorização. A passagem para a gaita-de-foles faz-se ao fim de algumas aulas,

95
com instrumentos que pertencem à A.P.E.D.G.F. e que esta disponibiliza a todos os
alunos.
No curso de iniciação à gaita-de-foles da A.P.E.D.G.F. para o ano lectivo de
2003/434
já existia um manual, onde estavam representadas em notação
convencional, a maioria das melodias ensinadas no curso (três portuguesas e três
galegas). Este manual foi redigido por Miguel Costa (discente no curso de
Antropologia); Gonçalo do Carmo (discente no curso de Ciências Musicais e do
Curso de Guitarra na Academia de Amadores de Música); Francisco Pimenta
(Arqueólogo), todos eles membros da A.P.E.D.G.F. e ex-alunos de Paulo Marinho.
O manual apresentava alguma informação a nível histórico e morfológico do
instrumento, bem como noções elementares de afinação e manutenção. Na parte
final do manual um esquema sobre a digitação da gaita-de-foles galega e
transmontana construída pelos artesãos afectos à associação.
Relativamente à minha experiência pessoal, a afinação foi uma questão
problemática na aprendizagem da gaita-de-foles. A minha formação anterior
desenvolveu a minha audição segundo a escala temperada. Quando iniciei as aulas
de gaita-de-foles, em Alhos Vedros com Paulo Marinho, tive alguma dificuldade
em adaptar-me à escala ensinada, a qual não correspondia à que o meu ouvido
estava habituado. Foi necessário algum treino para me adaptar aquilo que o meu
cérebro entendia por “completas desafinações”. Para alguém que tem o primeiro
contacto com música através do ensino da gaita-de-foles, estas são questões que
não se colocam.
Encontramos alguma relação na terminologia usada na Galiza e na música erudita.
Por exemplo, um dos ornamentos usado o trino, não é mais do que o
correspondente ao trilo. Quando questionei os orientadores do curso relativamente
a estas designações, obtive a resposta de que a escolha desta terminologia e não a
34
Os cursos da A.P.P.E.D.G.F. decorreram na Sede da Sociedade Incrível Almadense, em Almada.
Frequentei este curso entre Janeiro e Maio de 2004.

96
usada na música erudita, se devia ao facto do instrumento pertencer aos
instrumentos tradicionais e por isso não se usar esse tipo de terminologia.
3. Conclusão
A aprendizagem directa, a criação de espaços específicos nos meios urbanos, a
introdução de conceitos teóricos e iniciação à música escrita constituem as
principais alterações no ensino da gaita-de-foles. Estas representam um modelo de
ensino implementado na Galiza nos anos 1980, que começa a ser seguido em
Portugal, contribuindo para a diversificação dos agrupamentos que integram o
instrumento nas suas actuações e despertando o interesse por outros contextos
musicais onde este assume uma posição de destaque na cultura local.
A institucionalização do ensino teve impacte na prática performativa da gaita-de-
foles. O ensino ministrado em conjunto (com diversas gaitas de fole em
simultâneo) deu lugar a uma maior exigência relativamente à afinação e às técnicas
de execução do instrumento, conduzindo a uma maior complexidade nas melodias e
introdução de composições a duas ou três vozes. O gaiteiro deixou de estar
associado apenas ao meio rural, para adquirir o estatuto de músico urbano.

97
VIII. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao longo deste estudo pretendi analisar o processo de (re)folclorização das práticas
musicais associadas à gaita-de-foles em Miranda do Douro e na área metropolitana
de Lisboa, no período entre 1999 e 2004. Como observa o Professor Jorge de
Freitas Branco, “processos deste tipo só podem ser idealmente periodizados por
datas ou acontecimentos” (1995: 169). Para a (re)folclorização das práticas
associadas à gaita-de-foles sugiro o ano de 1998, com a última exposição Mundial
do século XX que decorreu em Lisboa, a Expo 98. Este acontecimento, pela sua
dimensão e multiplicidade de iniciativas nele compreendidas, fez-se de
cruzamentos vários (Santos 1999: 20). Muito notório no momento do evento, foi o
que se poderá chamar de “interiorização de uma nova imagem das artes em
Portugal, tecida no equilíbrio tenso entre a revisitação de patrimónios culturais e a
expectativa de propostas culturais actuais e futuras” (Idem: 118).
A institucionalização do folclore durante o período do estado Novo teve impacte
nos processos de construção das práticas performativas tidas por tradicionais, que
se viria a repercutir até aos dias de hoje. A intervenção da FNAT no processo de
folclorização organizou-se, essencialmente, em torno de um conjunto restrito de
práticas culturais, destacando-se as festas do trabalho, os festivais e sobretudo as
intervenções dos ranchos folclóricos (Melo 2003: 50).
Actualmente assiste-se um pouco por todo o país a acções que visam preservar a
música instrumental associada ao contexto rural, através de processos de
(re)folclorização de instrumentos tais como: a concertina, a rabeca, a viola
braguesa, no Minho; a palheta, o bombo, o adufe, na Beira Baixa; a flauta de
tamborileiro, a gaita-de-foles em Trás-os-Montes; a viola campaniça, no Alentejo,
etc. Motivados por uma ideologia centrada na preservação da tradição, mediadores,
agentes e entusiastas promovem encontros, festivais, seminários e workshops onde
se identifica a tradição e se produzem “objectivações” (Handler 1988).

98
Como observa Vasconcelos, através da objectivação da cultura e da invenção das
tradições, os movimentos que pretendem ver reconhecida a autonomia política de
um grupo humano ou território, tendem a acentuar a regionalidade, a nacionalidade
ou a etnicidade como elemento essencial. Existe uma notória continuidade entre as
práticas e os artefactos que foram monumentalizados pelos primeiros descobridores
da “cultura popular” e daqueles que se dedicam a mantê-los vivos (Vasconcelos
1997), como se faz notar na acção dos agentes envolvidos no processo de
(re)folclorização associado à gaita-de-foles. Fortemente influenciados pelas
recolhas dos folcloristas e etnógrafos ao longo do século XX e, principalmente,
pelo trabalho de E. V. Oliveira, estes agentes actuam sobretudo nas zonas onde
Oliveira encontrou uma maior representatividade do instrumento: “no Alto Trás-os-
Montes, de Chaves a Freixo de Espada a Cinta, e mormente nas zonas fronteiriças,
norte e leste; e nas terras baixas ocidentais do Minho ao Tejo (Alto Minho, região
de Coimbra e Estremadura) ” (1966: 171), recuperando práticas instituídas pelo
processo de folclorização da música instrumental.
Com a entrada de Portugal na Comunidade Europeia e a consequente concertação
da política agrícola, o meio unificador da ruralidade orientado para os ciclos de
produção agrícola deixou de ser referência para a maioria da população.
Confrontados com as sucessivas deteriorações das suas condições de vida, grandes
franjas da população rural saíram em busca de melhores oportunidades, provocando
a erosão demográfica de vastas zonas do interior. Como consequência desse
abandono, o meio rural despovoou-se. Estando as práticas performativas da gaita-
de-foles associadas sobretudo ao contexto rural festivo, com este despovoamento
entram em desuso, e passam a fazer parte do contexto urbano, através de
elaborações cénicas de aspectos do passado recriados pelos GUR. A maior parte
destes grupos não baseiam o seu repertório em recolhas de primeira-mão, mas sim
em recriações submetidas a releituras (Branco 1995: 170), em que o estilo
interpretativo pretende representar ou construir algo a partir da reflexão, marcada
pela diferença. Os grupos (re)inventam o que afirmam ser o passado e as tradições,
mobilizando sentimentos, (re)pensando os eixos e os fluxos centro/periferia,

99
envolvendo-se num diálogo com a nação e os diversos poderes (locais, regionais)
(Raposo 2002:110).
O despovoamento do meio rural cria a necessidade de inverter esta tendência
através da criação de actividades geradoras de emprego, revitalização da vida
social, criação de condições necessárias à fixação das pessoas de forma integrada,
sustentada e global. A música tradicional pode, no âmbito do desenvolvimento
regional (Neves 2000: 31), desempenhar um papel relevante, não apenas na
valorização da tradição e na fixação de pessoas à terra, como também na criação de
outras fontes de rendimento, para além da agricultura. Esta actividade pode
justificar a recuperação de outras em vias de extinção, nomeadamente as que se
relacionam com a manufacturação de instrumentos tradicionais, como acontece, de
resto, em algumas regiões da vizinha Espanha e, que entraram em declínio face à
padronização da fabricação artesanal. O caso espanhol serve de modelo e influencia
a acção dos agentes em ambos os contextos. Como observa Martí, o nacionalismo é
um recurso cultural que permite aglutinar indivíduos através da manipulação de
sentimentos de etnicidade, através da criação de laços internos de solidariedade,
assim como, o estabelecimento de fronteiras que são justificadas ideologicamente
(1996: 38). A gaita-de-foles na Galiza tem essa função. É comum encontrarem-se
grupos de gaiteiros em todas as festas na Galiza, apesar de nem sempre se dançar
ao som da sua música. Neste contexto, os grupos de gaiteiros têm uma função não
só ornamental, como também ideológica, que representa uma interpretação da
história galega (1998: 326). A interpretação da história galega conduziu à
mistificação das origens celtas na cultura galega, e a partir do uso manipulador das
fontes, alguns investigadores teimam em provar que a música popular galega é
pentatónica, dada a associação que se faz do pentatonismo à “música celta”. O
celtismo manifesta-se na Galiza através dos castros, da criação de pubs, de festivais
de “música celta” e a inclusão de composições irlandesas por parte dos
agrupamentos. Todas estas manifestações são muito bem recebidas pelo público
(idem: 331).

100
Em Portugal este fenómeno começa a manifestar-se através da acção dos agentes
envolvidos na (re)folclorização das práticas musicais associadas ao contexto rural:
as visitas turísticas aos castros celtas em Miranda do Douro, o Festival Intercéltico
de Sendim, bem como a influência da música irlandesa com a introdução de
composições irlandesas, evidenciam esta tendência.
A recriação do sistema musical do passado foi definida por Rosenberg como
“agregados contextuais de partilha de repertório, instrumentação e estilo
performativo, geralmente entendido como sendo histórica e culturalmente limitado
por factores de classe, etnicidade, raça, religião, comércio e arte” (Rosenberg
1993). Os significados através dos quais as etnicidades se definem na música estão
relacionados com as relações de poder que existem entre os grupos (Stokes 1995),
nomeadamente dos agentes, enquanto criadores de identidades locais. Deste modo,
o interesse pela preservação do património tradicional musical deixou de ser alvo
exclusivo de estudiosos, para fundamentalmente ter por base as associações e os
próprios grupos, ou seja, a preservação e a recolha musical deixou de ser realizada
de fora para dentro da comunidade, para ser feita pela própria comunidade, e a
partir desta o mundo exterior tomar conhecimento. Em Miranda do Douro, a
autarquia tem desempenhado um papel importante nesta acção de recolha e
divulgação da música tradicional, tanto ao nível do apoio financeiro, logístico e
técnico aos grupos, como às associações. Estas últimas incluem nas suas funções,
não só a divulgação, como também a preservação do ensino, contribuindo deste
modo para a construção da identidade local. A escolarização dos jovens, ao faze-los
sair das suas terras para prosseguirem os seus estudos, coloca-os no papel de jovens
urbanos, com gostos e preferências diferentes das locais, que produzem alterações e
diferentes abordagens à música tradicional (Grupo Galandum Galundaina).
A alteração dos métodos de ensino da gaita-de-foles produziu efeitos sobre a
prática musical, nomeadamente, o surgimento de mais jovens interessados em
aprender a tocar; o desenvolvimento da técnica de execução do instrumento, em

101
busca de virtuosismo; uma maior exigência ao nível da apresentação em público,
em virtude da criação de um público cada vez mais conhecedor e exigente;
alterações em termos de conteúdo de repertório, com a introdução de composições
da música erudita, ou outros contextos musicais, sobretudo contextos onde o
instrumento tem bastante representatividade, como a Galiza, Irlanda ou Escócia.
Esta alteração reflecte a institucionalização do ensino na Galiza, derivada da
criação de escolas como a Universidade Popular de Vigo, a Escola Provincial de
Gaitas de Ourense e muitas outras. O ensino, dinamizado pelos vários agentes,
produziu alterações no estilo interpretativo, influenciadas pelas diferentes
ideologias subjacentes. Estas manifestam-se não só em termos de postura em palco,
desfile e repertório, como também através da afinação e timbre do instrumento. As
diferentes abordagens conduziram a formações instrumentais diversas, que incluem
não só instrumentos de percussão, o que levou, por um lado, a alterações na escala
e um maior rigor na afinação do instrumento, e por outro, a mudanças na sua
morfologia, com a criação da “Gaita transmontana” e/ou “Gaita mirandesa”. “O
fabrico artesanal, aspecto rude, pesada e grossa, de boa sonoridade plena e forte”
(Oliveira 1966: 176) são recuperados por artesãos que pretendem (re)inventar a
tradição (Hobsbawm 1997: 12). Em 1966 Oliveira encontrou “o fabrico (...) em
total decadência, a maioria dos gaiteiros aspirava apenas possuir uma vistosa e fina
Gaita galega, os instrumentos que vemos nas suas mãos são praticamente todos
dessa proveniência e os velhos tipos nacionais perderam-se completamente”
(Oliveira 1966: 176). Em torno da recuperação dos “velhos tipos nacionais”,
inventam-se tradições, que afirmam ser o seu passado e tradições, dando origem ao
aparecimento de uma comunidade cada vez menos “imaginada” (Anderson 1983).

102
BIBLIOGRAFIA CITADA
AA.VV. (1987) Instrumentos Musicais Populares Galegos. Vigo: Obradoiro-
Escola de Instrumentos Musicais Populares Galegos da Universidade
Popular de Vigo
AA.VV. (1995) DO brilhante. Número 1. Vigo: Asociación de Gaiteiros Galegos
Alves, Francisco Manuel (1934) Memórias Arqueológico-Históricas do Distrito de
Bragança. Volume IX. Porto
Alves, Vera Marques (2003) “SNI e os ranchos folclóricos” in Salwa El-Shawan
Castelo-Branco & Jorge Freitas Branco (org.), Vozes do povo, 190-205.
Oeiras: Celta Editora
Anderson, Benedict (1983/1993) Imagined Communities. Reflections on the Origin
and Spread of Nationalism. Londres/ Nova Iorque: Verso
Apadurai, Arjun (1996) Modernity at Large: The Cultural Dimensions of
Globalization. Minneapolis: University of Minnesota Press
Béhague, Gerard (1984) Performance Practice. Ethnomusicological Perspectives.
London: Greenwood Press
Blacking, John (1986), “Identifying Processes of Musical Change” The world of
Music, XXVII. Nº 1: 3- 98
Braga, Teófilo (11885/
21985/
31994) O Povo Português nos seus Costumes,
Crenças e Tradições. Lisboa: D. Quixote
Branco, Jorge Freitas (1995) “Lugares para o povo: Uma periodização da cultura
popular em Portugal” Revista Lusitana, nºs, 13-14: 145-177
Brissos, Ana Cristina (2003) “António M. Mourinho (1917-1996) e o
ressurgimento do folclore Mirandês” in Salwa El-Shawan Castelo-Branco
& Jorge Freitas Branco (org.), Vozes do povo, 419-424. Oeiras: Celta
Editora
Brito, Joaquim Pais de (1991) “A Taberna: Lugar e Revelador da Aldeia” Lugares
de Aqui, Lisboa: Publicações Dom Quixote
Brito, Joaquim Pais de (1996) Retrato de Aldeia como Espelho-Ensaio sobre Rio de
Onor. Lisboa: Dom Quixote

103
Castelo-Branco, Salwa El-Shawan & Mª Manuela Toscano (1988) “In Search of a
Lost World: An Overview of Documentation and Research on the
Traditional Music of Portugal” Yearbook for Traditional Music, 20: 158-
192
Castelo-Branco, Salwa El-Shawan (1989) “A Etnomusicologia, a Política e Acção
Culturais e a Música Tradicional em Portugal” F. O. Baptista, J. P. de
Brito, Mª Luísa Braga & B. Pereira (orgs.) Estudos em Homenagem a
Ernesto Veiga de Oliveira, 85-100. Lisboa: Instituto Nacional de
Investigação Científica
Castelo-Branco, Salwa El-Shawan (1994) “Vozes e Guitarras na Prática
Interpretativa do Fado” Fado. Vozes e Sombras. Lisboa : Electa
Castelo-Branco, Salwa El-Shawan & Jorge Freitas Branco (2003) “Folclorização
em Portugal: uma perspectiva” in Salwa El-Shawan Castelo-Branco &
Jorge Freitas Branco (org.), Vozes do povo, 1-21, Oeiras: Celta Editora.
Castelo-Branco, Salwa El-Shawan, Neves, José Soares e Maria João Lima (2003)
“Perfis dos grupos de música tradicional em Portugal em finais do século
XX” in Salwa El-Shawan Castelo-Branco, & Jorge Freitas Branco (org.),
Vozes do povo, 73-141, Oeiras: Celta Editora
Castilho, Belen Perez (2000) “Spain. Traditional and popular music” Grove Music
Online ed. L. Macy [27/09/2005], http://www.grovemusic.com
Caufriez, Anne (1997) Romances du Trás-os-Montes. Paris: Centre Culturel
Calouste Gulbenkian
Caufriez, Anne (1997) Le Chant du Trás-os-Montes. Paris: Centre Culturel
Calouste Gulbenkian
Chapman, Malcolm (1992) The Celts. The Construction of a Mith. London: The
Macmillan press LTD.
Chapman, Malcolm (1994) “Thoughts on Celtic Music” in Martin Stokes (Ed.)
Ethnicity, Identity and Music: The Musical Construction of Place, 29-44.
Oxford: Berg Publishers
Correia, Mário (1984) Música popular portuguesa: um ponto de partida. Porto:
Centelha mc/Mundo da canção
Correia, Mário (2001) Raízes Musicais da Terra de Miranda. Vila nova de Gaia:
Sons da Terra
Correia, Mário (2002) Bi Benir la Gaita. Contributos para a História dos Gaiteiros
Mirandeses. Lisboa: Instituto de Desenvolvimento Social

104
Costa, Luis (2000) “Etnicidade, Nacionalismo e Internacionalismo no coralismo
galego da segunda metade do século XIX” Actas del Congresso «Juan
Montes» Lugo, Santiago de Compostela, Xunta da Galicia: 103-106
Deusdado, Manuel António Ferreira (1898) “A dança Mirandesa no Centenário”
Revista de Educação e Ensino XIII, 313-317
Deusdado, Manuel António Ferreira (1898) "A Dança Mirandesa no Cortejo
Cívico", Diário de Notícias, 19 de Maio
Félix, Pedro (2003) “O Concurso A Aldeia Mais Portuguesa de Portugal” in Salwa
El-Shawan Castelo-Branco & Jorge Freitas Branco (org.) Vozes do Povo
Vozes do povo, 207-232. Oeiras: Celta Editora
Ferreira, Manuela Barros & Domingos Raposo (1999) Convenção Ortográfica da
Língua Mirandesa. Miranda do Douro: Câmara Municipal de Miranda do
Douro/ Centro de Linguística da Universidade de Lisboa
Friedman, Jonathan (1994) Cultural Identity and Global Process, Londres: Sage.
Gallop, Rodney (1936, 21961) Portugal. A Book of Folkways. Cambridge: At the
University [1937, Cantares do Povo Português. Tradução António Emílio
de Campos. Lisboa: Instituto para a Alta Cultura]
Giacometti, Michel & Graça, Fernando Lopes (1981) Cancioneiro Popular
Português. Lisboa: Círculo de Leitores
Handler, Richard (1988) Nationalism and the Politics of Culture in Quebec
Wisconsin: The University of Wisconsin press
Herndon, Marcia, (1971) “The Cherokee Ballgame Cycle: An Ethnomusicologist‟s
View”, Ethnomusicology, vol.15, 339-352
Hobsbawm, Eric (1983) “Introduction: Inventing Traditions” in Eric Hobsbawm &
Terence Ranger (orgs.) The Invention of Tradition. Cambridge: Cambridge
University Press [1984, “Introdução” Eric Hobsbawm & Terence Ranger
[orgs.] A Invenção das tradições, 9-24. Rio de Janeiro: Paz & Terra]
Holton, Kimberly DaCosta (2003) “Fazer das tripas coração. O parentesco cultural
nos ranchos folclóricos” in Salwa El-Shawan Castelo-Branco & Jorge
Freitas Branco (org.) Vozes do Povo Vozes do povo, 142-152. Oeiras: Celta
Editora
INE (2003) Retrato da Freguesia de Sendim.

105
Kirshenblatt-Gimblett, Barbara (1995) “Theorizing Heritage” Ethnomusicology, 39:
367- 380
Leça, Armando (1983 [1942]) Música Popular Portuguesa Porto: Domingos
Barreira
Lima, Maria João (2000) A Brigada Victor Jara e a Recriação de Música
Tradicional Portuguesa. Lisboa: Universidade Nova de Lisboa /tese de
mestrado/
Manuel, Peter (1989) "Andalusian, Gypsy, and Class Identity in the Contemporary
Flamenco Complex" Ethnomusicology 33(1):47-65
Marcus, George E. (1999) Ethnography Through Thick and Thin. New Jersey:
Princeton University Press
Marinho, Paulo (2001) “Editorial” Gaita de Foles. Nº 1 Abril
Martí, Josep (1996) El Folklorismo. Uso y Abuso de la Tradición. Barcelona:
Ronsell
Martí, Josep (1998) “A Tradición vista através do Folklorismo” O Feito Diferencial
Galego na música, 323-350. Santiago de Compostela: Ed. Museo do Pobo
Galego
Matellán, José Manuel González (1987) “Os Laços na Dança dos Paus – Uma
Literatura Popular que une a Terra de Miranda e a Província de Zamora”,
Actas das 1.as
Jornadas de língua e cultura mirandesa, 43-54. Miranda do
Douro
Melo, Daniel, 2003, “A FNAT entre a conciliação e fragmentação” in Salwa El-
Shawan Castelo-Branco & Jorge Freitas Branco (org.) Vozes do Povo
Vozes do povo, 37-57. Oeiras: Celta Editora
Morgan, Prys (1984) “Da morte a uma perspectiva: a busca do passado Galês no
período romântico” in Hobsbawm, Eric & Ranger, Terence (orgs.), A
invenção das Tradições, 53- 109. Rio de Janeiro: Paz & Terra
Mourinho, António M., J. R. dos Santos Jr., Valentim Afonso (1953) “Coreografia
Popular Trasmontana: «O Galandum»” Boletim do Douro Litoral, 7-8, 5ª
série
Mourinho, António M., J. R. dos Santos Jr., Bessa Bento (1957) “Coreografia
Popular Trasmontana: O Pingacho” Boletim do Douro Litoral, 4: 1-19
Mourinho, António Maria (1957) “A Dança dos Paulitos” Revista de Portugal,
série I: A Língua Portuguesa, 12: 153-164

106
Mourinho, António Maria (1961) Nôssa Alma I Nôssa Tiêrra. Lisboa: Imprensa
Nacional
Mourinho, António M. & J. R. dos Santos Jr. (1980) “Coreografia Popular
Trasmontana: (Moncorvo e Terra de Miranda)” Trabalhos de Antropologia
e Etnologia, 23 (4): 1-149
Mourinho, António Maria (1983) “O Museu Mirandês, ou Museu da Terra de
Miranda (Razões da sua existência e do seu futuro) ” Brigantia, 3: 23-46
Mourinho, António Maria (1983a) Grupo Folclórico Mirandês de Duas Igrejas
(Pauliteiros de Miranda): Prémio Europeu de Arte Popular. Duas Igrejas:
Ed. do Autor
Mourinho, António Maria (21983)”Scôba Frolida à Agosto…: Liênda de Nôssa
Senhora del Monte de Dués Eigrëijas (Em Mirandês). Bragança: Escola
Tipográfica
Mourinho, A. Rodrigues (1984) Cancioneiro Tradicional e Danças Populares
Mirandêsas. Volume I. Miranda do Douro
Mourinho, A. Rodrigues (1987) Cancioneiro Tradicional Mirandês de Serrano
Batista. Volume II. Miranda do Douro
Mourinho, António Maria (1991) Terra de Miranda – Coisas e factos da nossa vida
e da nossa alma mirandesa. Miranda do Douro: Câmara Municipal
Miranda do Douro
Mourinho, António Maria (1995) Curriculum Vitae (Notas Culturais). Miranda do
Douro: Câmara Municipal Miranda do Douro
Neves, César das & Gualdino Campos (1893) Cancioneiro de Músicas Populares.
I. Porto: Tipografia Ocidental
Neves, César das & Gualdino Campos (1895) Cancioneiro de Músicas Populares.
II. Porto: Empresa Editorial
Neves, César das & Gualdino Campos (1898) Cancioneiro de Músicas Populares.
III. Porto: Empresa Editorial
Neves, José António (2000) A cultura popular como factor de desenvolvimento
local. Um olhar a partir da música, Vila Real: Gráfica Minerva
Transmontana

107
Nunes, António Jorge (2002) Acta do III Congresso de Trás-os-Montes e Alto
Douro. Bragança
O‟ Neill, Brian Juan (1991) “Espaços sociais e grupos sociais no Nordeste
Transmontano” Lugares de Aqui, Lisboa: Publicações Dom Quixote
Oliveira, Ernesto Veiga de (11966
32000) Instrumentos Musicais Populares
Portugueses. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian/ Museu Nacional de
Etnologia
Oliveira, Henrique (2001) “Concurso de gaiteiros” Gaita de Foles. Nº 1 Abril
Pereira, Vergílio (1950) Cancioneiro de Cinfães. Porto: Junta de Província do
Douro Litoral
Pereira, Vergílio (1957) Cancioneiro de Resende. Porto: Junta de Província do
Douro Litoral
Pereira, Vergílio (1959) Cancioneiro de Arouca. Porto: Junta de Província do
Douro Litoral
Pestana, Maria do Rosário (2000) Vozes da Terra: A folclorização em Manhouce,
(1938-2000). Lisboa: Universidade Nova de Lisboa /dissertação de
mestrado /
Ramos, Rui (2003) “A ciência do povo e as origens do estado actual” in Salwa El-
Shawan Castelo-Branco & Jorge Freitas Branco (org.), Vozes do povo, 25-
35. Oeiras: Celta Editora
Raposo, Paulo (1999) “Do ritual ao espectáculo. Caretos, „intelectuais, turistas e
media” Comunicação apresentada ao Congresso de Antropologia, mesa
“Turismo, mobilidades e consumo de lugares”, Lisboa
Raposo, Paulo (2002) O Papel das Expressões Performativas na
Contemporaneidade, Identidade e Cultura Popular, Lisboa: ISCTE /Tese
de Doutoramento/
Recasens, Albert (2000) “Spain. Traditional and popular music” Grove Music
Online ed. L. Macy [27/09/2005], http://www.grovemusic.com
Reiss, Scott (2003) “Tradition and Imaginary: Irish Traditional Music and the
Celtic Phenomenon” in Martin Stokes & Philip V. Bohlman (Ed.), Celtic
Modern. Music at the Golbal Fringe, 145-169. The Scarecrow Press,
Oxford
Ribeiro, M. (1967) “Nossa Senhora da Luz. Notas etnográficas da raia mirandesa”
Revista Etnográfica, Porto, nº 16, separata

108
Rosas, Fernando (1993) “O Estado Novo nos anos 30” in Matoso, José (org.)
História de Portugal, vol: 5. Lisboa, Circulo de Leitores
Rosenberg, Neil V. (org.) (1993) Transforming Tradition. Folk Music Revivals
Examined. Urbana: University of Illinois Press
Roubaut, Maria Luisa (2003) “O Verde Gaio: uma política do corpo no Estado
Novo” in Salwa El-Shawan Castelo-Branco & Jorge Freitas Branco (org.)
Vozes do Povo Vozes do povo, 337-362. Oeiras: Celta Editora
Santos, Mª de Lourdes Lima dos; Costa, António Firmino da (1999), Coord.
Impactos Culturais da Expo 98 – Uma análise através da Imagem
Mediática, Ed. Observatório das Actividades Culturais, Lisboa
S. A. (1897) “Echos. O Evangelho d‟hoje” O Repórter, 1 de Janeiro
S. A. (1898) “Os mirandeses” O Século, 21 de Maio
S. A. (1933) “Folclore nacional. Os pauliteiros mirandeses.” Diário da Manhã, 30
de Dezembro: 6,7,11
S. A. (1933) “Costumes regionais. Pauliteiros de Miranda” Novidades, 30 de
Dezembro
S. A. (1998) “Cultura e Língua Mirandesa no Festival de Fonte da Aldeia” Jornal
de Notícias, 11 de Setembro de 1998
Schindler, Kurt (1941) Folk Music and Poetry from Spain and Portugal. Nova
Iorque: The Hispanic Institute in the United States
Seeger, Anthony (1987) Why Suyá Sing: A musical Anthropology of an Amazonian
People, Cambridge University Press
Seromenho, Margarida (2003) “A Federação do Folclore Português” in Salwa El-
Shawan Castelo-Branco & Jorge Freitas Branco (org.) Vozes do Povo
Vozes do povo, 244-251. Oeiras: Celta Editora
Shils, Edward (1981) Tradition. London: Faber and Faber Limited
Sousa, Clara (1996) “Cultura Popular e Turismo: O Folclore no Algarve”, Dos
Algarves Revista da ESGHT/ UAL, 1: 12-19
Sousa, Clara (2003) “Turismo, Folclore e Diáspora” in Salwa El-Shawan Castelo-
Branco & Jorge Freitas Branco (org.) Vozes do Povo Vozes do povo, 569-
578. Oeiras: Celta Editora

109
Stokes & Bohlman (2003) “Introdution” in Martin Stokes & Philip V. Bohlman
(Ed.), Celtic Modern. Music at the Golbal Fringe, 1-26. Oxford: The
Scarecrow Press
Stokes, Martin (1995) “Introdution: Ethnicity, Identity and Music” in Ethnicity,
Identity and Music: The Musical Construction of Place. Ed. by Martin
Stokes, Oxford: Berg Publishers
Taylor, Timothy D. (1997) Global Pop. World Music, World Markets. Nova
Iorque: Routledge
Vasconcelos, J. Leite de (11900/
21992) Estudos de Philologia Mirandesa, vol. I.
Miranda do Douro: Ed. Câmara Municipal Miranda do Douro
Vasconcelos, João (1997) Usos do Passado na Serra de Arga – Tradição e
objectivação da cultura Local Lisboa: I.C.S.U.L/Dissertação de Mestrado
Vasconcelos, João (1997) “Tempos remotos: A presença do passado na
objectivação da cultura local” Etnográfica: Revista do Centro de Estudos
de Antropologia Social, 1, 2: 213-235
Wefford, Alexandre Branco (2004) “Povo que canta. Ciência e militância cultural
em Michel Giacometti” Michel Giacometti. Caminho para um Museu, 29-
36, Cascais: Câmara Municipal de Cascais
DISCOGRAFIA CITADA
Al Son de Las Arribas... Freixenosa - Miranda de L Douro, rec. 1999, Sons da
Terra, STMC 0116 (2000)
(An) Canos Mirandeses, Tradiçones Musicales d’ Aldinuõba- Miranda de L Douro,
rec. 1999, Sons da Terra, STMC 9906 (1999)
António Fernandes e Henrique Fernandes, rec. 1976 e 2001, Sons da Terra, STMC
0223 (2002)
António Ribeiro, “Toni das Gaitas”, Porto, rec. 2000, Sons da Terra, STMC 0015
(2000)
Brigada Vítor Jara, Tamborileiro, Lisboa, Mundo Novo (1979)
Brigada Vítor Jara, Quem sai aos seus, Lisboa, Vadeca (1981)

110
Brigada Vítor Jara, Monte formoso, Lisboa, MBP (1989)
Brigada Vítor Jara, Danças e Folias, Lisboa, Farol Música (1994)
Cantos da nossa terra, rec. 1999, Sons da Terra, STMC 0010 (2000)
Clementina Rosa Afonso, rec. 1997, Sons da Terra, STMC 9803 (1998)
Desidério Luis Afonso, rec. 2003, Sons da Terra, STMC 0429 (2003)
Domingos Esteves Afonso, rec. 1999, Sons da Terra, STMC 0011 (2000)
1º Encontro de Gaiteiros do Prado Mirandês e Nordeste Transmontano, Sons do
Planalto Mirandês, Estúdios In/Out – J. M. Produções (2002)
Fiêsta de la Gaita de Fuôlhes: Pruôba Miranda de L Douro, rec. 1999, Sons da
Terra, STMC 9909 (1999)
II Fiêsta de la Gaita de Fuôlhes: Pruôba- Miranda de L Douro, rec. 2000, Sons da
Terra, STMC 0119 (2001)
Folclore Português Trás-os-Montes e Alto Douro - Grupo folclórico de Duas
Igrejas, Moviepaly, 1990 (Cassete) 1996 (CD)
Gaiteiros de Lisboa. Invasões bárbaras. Farol FAR 00007 (1995)
Gaiteiros de Lisboa. Bocas Do Inferno. Farol FAR (1997)
Gaiteiros de Lisboa. Novas vos Trago. Tradison TRA (1998)
Gaiteiros de Lisboa. Dançachamas. Farol FAR (2000)
Galandum Galundaina. Modas i anzonas. EMTCD 088/05 (2005)
Galandum Galundaina. I Purmeiro. EMTCD 055/02 (2002)
Gueiteiros de L Praino Mirandés, Rezosa 98, Fuônte Aldé - Miranda de L Douro,
rec. 1998, Sons da Terra, STMC 9904 (1999)
José Francisco Rodrigues, Gaiteiro de Serapicos, Vimioso, rec. 1999, Sons da
Terra, STMC 9909 (1999)
José Maria Fernandes, rec. 1999, Sons da Terra, STMC 0014 (2000)
Lenga Lenga: Gaiteiros de Sendim. Ao vivo no IV Festival Intercéltico de Sendim.
rec. 2003, Sons da Terra (2004)

111
Manuel Paulo Martins, Gueiteiro de Bal de Mira, Miranda de L Douro, rec. 1998,
Sons da Terra, STMC 0118 (2001)
Pica Tumilho, Agricola Rock Band, Sons da Terra (2000)
Portuguese Folk Music: Minho, Trás-os-Montes, Beiras, Alentejo, Algarve,
rec.1959-70, Portugalsom-Stauss SP 4198 to 4202 (1998)
Portugal Raízes Musicais. Trás-os-Montes, BMG (1996)
Povo que Canta. Recolhas etnográficas de um Portugal desconhecido (2000/2003),
EMI – Valentim de Carvalho (2003)
Songs and Dances of Portugal, rec. 1929-1990, Portugalsom-Stauss (1991)
ENTREVISTAS CITADAS
Ângelo Arribas - 31/03/2002, 05/08/2003
António Carção – 2/08/2004
A. Mourinho – 29/04/2002
Belmiro Carção – 7/08/2003
Célio Pires – 4/08/2004
Desidério Afonso – 2/05/2002
Henrique Fernandes – 3/05/2002
José Gomes – 19/11/2004
Manuel Martins – 6/08/2004
Mário Correia – 30/04/2002, 7/08/2003
Mário Estanislau – 8/06/2003
Paulo Preto – 31/07/2004
Telmo Ramos – 2/08/2004
Vítor Félix - 10 e 11/06/2003

112
ANEXOS

113
1. Programação do Festival Intercéltico de Sendim entre 2000 e 2005
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Portugal
♫ Galandum
Galundaina
(Miranda do
Douro)
♫ Realejo
Coimbra
♫ Gaiteiros de
Lisboa
(Lisboa)
♫ Portal Vótis
(Porto/Miranda)
♫ Lenga-
Lenga
(Sendim)
♫ Marenostrum
(Tavira)
♫ Mu
(Porto)
Espanha
♫ Camerata
Meiga
(Galiza)
♫ Asturiana
Mining
Company
(Asturias)
♫ Na lua
(Galiza)
♫Felpeyu
(Asturias)
♫ Os
Xarelos
(Galiza)
♫ Antubel
(Castela e Leão)
♫ Xuaco
Amieva
(Asturias)
♫ Liorna
(Galiza)
♫ Leilía
(Galiza)
♫ Tejedor
(Asturias)
♫ Balbarda
(Castela e
Leão)
♫ Luétiga
(Galiza)
♫ Milladoiro
(Galiza)
♫ Llangres
(Asturias)
♫ La Musgaña
(Castela/Leão)
♫ Xosé
Manuel
Budiño
(Galiza)
♫ La Bruja
Gata
(Madrid)
♫ Les
Violines
(Catalunha)
♫ N'Arba
(Astúrias)
♫ Eliseo
Parra +
Tactequete
(Castela,
Leão
Escócia ♫ Bùrach ♫ Wolfstone ♫ Fred
Morrison e
Jamie
McManemy
Inglaterra ♫Oysterband
Irlanda ♫ Dérvish
Suécia ♫ Hedningarna
Quadro 1 – Programa do recinto principal

114
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Portugal
♫ Pïca
Tumilho
(Sendin)
♫ SangriSulta
(Sendim)
♫*Mandrágor
a (Porto) 35
♫* Comvinha
Tradicional
(Porto)
♫* Lelia
Doura
(Porto)
♫* Lenga
Lenga
(Sendin)
♫* Animação
espontânea
por gaiteiros e
tamborileiros
♫* Pauliteiras
de Valcerto
(Mogadouro)
♫* Animação
espontânea
por gaiteiros e
tamborileiros
♫* Gaiteiros
de Moimenta
(Vinhais)
♫* Animação
espontânea
por gaiteiros e
tamborileiros
Espanha ♫* Os
Xarelos
(Galiza)
♫* Ultreia
(Galiza)
♫* Gaiteiros
Los Yerbatos
(Galiza)
Canadá ♫ Judith
Cohen -
Tamar Adams
Quadro 2 – Programa da “Taberna dos Celtas”
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Portugal
♫ Gaiteiros
tradicionais
♫ Gaiteiros
Mirandeses
♫ Gaiteiros
do Centro de
Música
Tradicional
Sons da Terra
♫ Encontro
de
musiqueiros:
concertinas do
Minho.
♫ Pauliteiras
De Valcerto
(Mogadouro)
►Teatro
Peripécia
♫ Fiesta de
Los Rigaleijos
(Tierra de
Miranda)
♫ Gaiteiros
de Moimenta
(Vinhais)
Espanha
♫ Bandas de
Gaitas da
Galiza
♫ Bandas
de Gaitas de
Verin
(Galiza)
♫1º Encontro
de
Tamborileiros
das Terras de
Sayago e
Miranda
♫ Grupo de
Bombos de
Terruel
(Aragão)
♫ Los
Yerbatos
(Astúrias)
♫ La Bandina
'l Tombo
(Astúrias) –
►Teatro -
Ritual
Mágico-
Céltico
(Astúrias)
Quadro 3 – Programa da animação de rua
35
* Os grupos marcados com este sinal usam Gaita-de-foles nas suas performances.

115
2. Grupos participantes no Encontro Nacional de Gaiteiros entre 2001 e 200436
Dis
trit
os
I E.N.G.
Pinhal Novo- 2001
II E.N.G.
Stª Mª da Feira-2002
III E.N.G.
Stª Mª da Feira- 2003
IV E.N.G.
Fundão – 2004
BR
AG
AN
ÇA
► Ângelo Arribas,
“Gaiteiros da
Freixiosa” –
Miranda do Douro
► Desidério
Afonso “Os
gaiteiros dos
Pauliteiros e São
Martinho” –
Miranda do Douro
► José Maria
Fernandes,
“Gaiteiros de
Urrós” –
Mogadouro
►Henrique
Fernandes,
“Gaiteiros de
Sendim” - Sendim
► Desidério Afonso
“Os gaiteiros dos
Pauliteiros e São
Martinho” – Miranda
do Douro.
►Abílio Topa,
"Gaiteiros de Bila
Tchana de
Barcenosa" - Miranda
do Douro
►Célio Pires,
Aureliano Ribeiro,
David Domingos,
Sérgio, “Gaiteiros de
Constantim” –
Miranda do Douro
►José Maria
Fernandes – “Gaiteiro
de Urrós”,
Mogadouro
►José Francisco
Rodrigues, “Gaiteiros
de Serapicos” –
Vimioso
►Xavier Rodrigues,
Gaiteiro de Palaçoulo
- Miranda do Douro
►Henrique
Fernandes, "Lenga
Lenga" - Sendim
►José Maria
Fernandes, "Gaiteiro
de Urrós" -
Mogadouro
►Aureliano Ribeiro,
Célio Pires e
Desidério Afonso,
"Gaiteiros de La
Raia" - Constantim
►Abílio Topa,
"Gaiteiros de Bila
Tchana de
Barcenosa" - Miranda
do Douro
►Eduardo veiga
“Gaiteiro Dias” -
Deilão – Bragança
►Ricardo Cavaleiro
& Bruno Berça,
“Gaiteiros Tíbia” -
Bragança
► Ângelo Arribas,
“Gaiteiros da
Freixiosa” - Miranda
do Douro
►Zéfiro Galvão –
Miranda do Douro
►Gaiteiros de La
Raia – Constantim (só
no domingo)
►José Francisco
Rodrigues & André
Rodilhão, “Gaiteiros
de Serapicos” –
Vimioso
►José Maria
Fernandes – “Gaiteiro
de Urrós”,
Mogadouro
►Henrique
Fernandes, “Lenga-
Lenga” - Sendim(só
no domingo)
VIL
A R
EA
L ► Manuel, Luis,
Fábio Machado,
Horácio Rodrigues,
"Grupo de Gaiteiros
de Sanfins do Douro”
- Alijó
36
Os gaiteiros estão agrupados por distrito. As cores servem para uma melhor visualização dos mesmos ao
longo dos vários E.N.G..

116
BR
AG
A
►Constantino
Teixeira & Fausto
Gonçalves, “Grupo
de Zés Pereiras Ida
e Volta” - Braga
►Constantino
Teixeira & Fausto
Gonçalves, “Grupo
de Zés Pereiras Ida e
Volta” - Braga
► Aníbal Santos,
António Anibal,
Bruno, Adelino, José
Silva, Grupo de Zés-
Pereiras "Os
Cartolas" -
Barcelinhos –
Barcelos
PO
RT
O
►António Ribeiro,
“Toni das Gaitas” –
Porto
►António Rangel;
Filipa Santos &
Paulo Marcelo,
“Lélia Doura” –
Porto.
►António Rangel;
Filipa Santos, José
Luís & Paulo
Marcelo, “Lélia
Doura” – Porto.
►António Ribeiro,
“Toni das Gaitas”
"Gaiteiros Nacionais"
– Porto
►Toni das Gaitas,
"Gaiteiros Nacionais"
- Porto
► Grupo de gaitas
"Lélia Doura" – Porto
►Toni das Gaitas,
"Gaiteiros Nacionais"
– Porto (só no
domingo)
AV
EIR
O
►Hélio Sequeira
do Passo “Os cinco
unidos”–
Albergaria a Velha
►Joaquim Torres
“Os amigos da
Rambóia” –
Mealhada
►José
Albuquerque, ”Os
três unidos” –
Mealhada
►Carlos Alberto
Carvalho, “Grupo
Raimundo” – Luso
►José Albuquerque,
”Os três unidos” –
Mealhada
►Joaquim Pereira,
“Os Carriços” –
Mealhada.
►Raul Pires, "Os
Reis da Farra" –
Anadia
►Joaquim Torres,
"Os amigos da
Rambóia" –
Mealhada
►Fabiano, “Grupo de
Gaiteiros “Os Reis da
Farra” - Anadia
►Fernando
Guerreiro, Natanael,
Marta Alexandra,
“Popularis” – Anadia
►Joaquiam Torres,
“Os amigos da
ramboia” – Mealhada
►Fábio João37
, “Os
três unidos” –
Mealhada
GU
AR
DA
►Manuel Lima,
Armindo Azevedo,
Ricardo Lima, Jorge
Gonçalves, Grupo de
Zés-Pereiras "Os
Divertidos" - Delães,
Famalicão
►Alberto Lima &
José Cunha, “Grupo
de Zés-Pereiras "Os
Delaenses" - Delães,
Famalicão
37
Fábio João é neto de José Albuquerque que era o gaiteiro do grupo e faleceu.

117
CO
IMB
RA
►Eduardo
Carvalho “Os
Carvalhos” –
Ribeira de Frades
►Flamínio
Rodrigues “Os
Heróis do
Mondego” – Torres
do Mondego
► Mário Manuel
Antunes “Os três
Unidos” – Ceira.
► Eduardo Paiva
“Gaiteiros do Céu”
– Miranda do
Corvo
►José Monteiro
Machado “Os
primos” - Coimbra
►José Neves Simão,
“ Gaiteiros do
Mondego” – Ribeira
de Frades.
►Manuel Marques
Figueira, Condeixa a
Nova.
►João Santos
Pereira, “O Três de
Portugal” -
Cantanhede
►Flamínio
Ridrigues, "Os Heróis
do Mondego" –
Torres do Mondego
►Eduardo Carvalho
“Os Carvalhos” –
Ribeira de Frades
►José Maria
Craveiro, “Gaiteiro
de Chelo” – Luso.
► Mário Manuel
Antunes “Os três
Unidos” – Ceira.
►Fausto Rosa, "Os
Três Amigos" –
Coimbra
►"Os Dinâmicos",
Gaiteiros de Paleão -
Soure
►Flamínio de
Almeida, "Os Heróis
do Mondego" –
Torres do Mondego
►António Cupido,
“Os Gaiteiros da
Alegria” –Soure
►Carlos Martins,
“Os Dinâmicos” –
Soure
►João Santos
Pereira, “O Três de
Portugal” -
Cantanhede
LE
IRIA
►Joaquim António
Silva & Sérgio
Fialho Pereira –
Caldas da Rainha
►Júlio Ferreira –
Pombal
►"Os Novos
Gaiteiros"
►Silvino, Os
"Barulhentos de
Charneca" - Pombal
►Sérgio Fialho
Pereira & João Faria,
“Gaiteiros das Caldas
da Rainha” – Caldas
da Rainha
►Mário Neto,
Moisés & Júlio Orfão,
“Gaitilena - Gaiteiros
da Batalha” - Batalha
SA
NT
AR
ÉM
►Júio Ferreira
Oliveira “Gaiteiros
do Espírito Santo
do Carregueiro” –
Tomar
►Júlio Ferreira
Oliveira, Joel Batista,
hugo Santos,
“Gaiteiros do Espírito
Santo do
Carregueiro” –
Tomar
►José Salvado, “Os
Amigos de
Lamarosa” - Torres
Novas
►Júlio Ferreira
Oliveira, Joel Batista,
hugo Santos,
“Gaiteiros do Espírito
Santo do
Carregueiro” – Tomar

118
LIS
BO
A
►Emídio José
Gomes – Lourinhã
►Joaquim Roque -
Torres Vedras
►Mário Estanislau
– Torres Vedras
►Banda de Gaitas
Gaitafolia - Lisboa
►Mário Estanislau –
Torres Vedras
► Paulo Marinho,
Francisco Pimenta,
Gonçálo Marques,
Ricardo Garcia, João
Ventura, Miguel
Mimoso, José
Gomes, Miguel
Pedreira & Vitor
Félix, “Grupo de
Gaiteiros "Gaitafolia"
– Lisboa
►Joaquim Roque -
Torres Vedras
►Emídio João
Gomes, “Gaiteiro de
Casalinho das
Oliveiras” - Lourinhã
► Grupo de
Gaiteiros "Gaitafolia"
– Lisboa
►Joaquim Roque -
Torres Vedras
►Emidio Gomes,
"Gaiteiro de
Casalinho das
Oliveiras" – Lourinhã
►Joaquim Roque -
Torres Vedras
►Gaitafolia
(Associação Gaita de
Foles) – Lisboa
►Emídio João
Gomes, “Gaiteiro de
Casalinho das
Oliveiras” – Lourinhã
►Paulo Marinho,
“Os anaquinos da
Terra”, Lisboa (só no
domingo)
SE
TÚ
BA
L
►António dos
Santos Costa &
Manuel dos Santos
Costa “Gaiteiros
dos Olhos de Água
– Pinhal Novo
►António
Bernardo
“Toniber”
“Gaiteiros da Fonte
da Vaca”– Pinhal
Novo
►Porfírio
“Gaiteiros da
Carregueira” –
Pinhal Novo
►António dos Santos
Costa & Manuel dos
Santos Costa
“Gaiteiros dos Olhos
de Água – Pinhal
Novo
►António Bernardo
“Toniber” “Gaiteiros
de Fonte da Vaca”–
Pinhal Novo
►Porfírio Cardoso
Almeida, "Gaiteiros
da Carregueira" –
Palmela
►José Negreiros,
Ana Pereira,
“Gaiteiros do Grupo
Bardoada” - Pinhal
Novo
►Porfirio Cardoso
Almeida, “Gaiteiros
da Carregueira” -
Pinhal Novo
►Manuel Jones,
“Gaiteiros de
Palmela” – Olhos de
Água, Pinhal Novo.
Quadro 4 – Grupos de gaiteiros que participaram no E.N.G. entre 2001 e 2004

119
3. Transcrições musicais

120
Nota explicativa:
As transcrições em notação musical convencional que seguem referem-se a
algumas das composições apresentadas pelos três grupos descritos no capítulo V.
Estas pretendem representar de forma aproximada a melodia tocada na gaita-de-
foles, e têm apenas como objectivo servir de apoio à análise da melodia. Assim, são
omitidas oscilações na afinação, bem como a ornamentação. A tonalidade
apresentada não corresponde necessariamente à que foi executada.