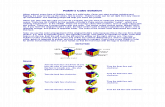2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
-
Upload
nathaniel-wolfson -
Category
Documents
-
view
214 -
download
0
Transcript of 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
1/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
2/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
3/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
4/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
5/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
6/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
7/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
8/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
9/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
10/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
11/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
12/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
13/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
14/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
15/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
16/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
17/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
18/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
19/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
20/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
21/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
22/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
23/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
24/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
25/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
26/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
27/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
28/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
29/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
30/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
31/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
32/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
33/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
34/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
35/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
36/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
37/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
38/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
39/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
40/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
41/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
42/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
43/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
44/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
45/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
46/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
47/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
48/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
49/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
50/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
51/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
52/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
53/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
54/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
55/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
56/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
57/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
58/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
59/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
60/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
61/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
62/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
63/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
64/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
65/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
66/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
67/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
68/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
69/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
70/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
71/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
72/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
73/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
74/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
75/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
76/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
77/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
78/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
79/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
80/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
81/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
82/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
83/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
84/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
85/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
86/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
87/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
88/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
89/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
90/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
91/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
92/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
93/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
94/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
95/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
96/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
97/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
98/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
99/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
100/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
101/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
102/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
103/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
104/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
105/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
106/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
107/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
108/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
109/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
110/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
111/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
112/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
113/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
114/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
115/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
116/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
117/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
118/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
119/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
120/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
121/417
121
Para o comentador, ainda que haja, em Cabral, a repetio do
clculo da estrutura, da matria-prima, e do modo de fazer, asingularidade de cada um de seus poemas, fruto de uma tensoconstante no poeta (frieza geomtrica vs. tematizao dasubjetividade 213), impediriam que os poemas sejam classificadosunivocadamente. Essa tenso constante na obra de Cabral gerariaaformulao de pares antagnicos e/ou complementares que podematuar em um ou mais poemas, mas que no, obrigatoriamente,
permitiriam distinguir longas sries a ponto de construir umavertente 214. Baseia-se nisso a crtica do autor tradicional tese quesepara a obra de Cabral em duas guas , uma metalingustica(deconcentrao reflexiva ) e outra mais participativa (para auditriosmais largos ).215
Uma outra estudiosa de Cabral, Thais Mitiko TaussigToshimitsu, em sua tese de doutorado216, tambm relativiza a metforado poeta-arquiteto, ao limitar seu alcance e eficcia. Com respeito aoalcance da arquitetura cabralina, diz a autora queas contas e asdescries matemticas resultantes das anlises das construesgeomtricas feitas por diversos estudiosos da obra do poeta, norepresentam verdadeiramente formas em si217. Com relao eficciado procedimento arquitetnico em Cabral, Thas Toshimitsu afirma que
a arquitetura de Cabral, enquanto ordenadora do mundo do caos e da213 Idem, ibidem, p. 182.214 Idem, ibidem, p. 184. 215 As expresses entre aspas so do prprio Cabral apud CAMPOS, Haroldo, Metalinguagem e outras metas, op. cit. p. 84. Ver tambm a definio de Haroldo deCampos de cada uma das duas guas de Joo Cabral: Poesia crtica e poesia quepe o seu instrumento, passado pelo crivo dessa crtica, a servio da comunidade ,idem, ibidem, pp. 84 85.216 TOSHIMITSU, Thas Mitiko Taussig,O rio, a cidade e o poeta. Impasses e contradiesna poesia de Joo Cabral de Melo Neto. Tese: Teoria Literria e Literatura Comparada,Universidade de So Paulo, 2009.217 Idem, ibidem. p. 184
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
122/417
122
pobreza 218, parece dar a iluso de ordem ao absurdo219. O exemplopor excelncia dessa contradio seria o livro A educao pela pedra, ao
qual a autora se refere nestes termos:o poeta cria padres de organizao dos poemas e das estrofes,fazendo com que o conjunto parea organicamente coeso e coerente.No entanto, o contedo parece querer rebentar cada um desses limites,seja com a memria, com o passado, com a morte, ou com oimprevisvel. Enfim, a realidade: do serto, do mangue, da cidade doRecife ou de Sevilha, do canavial, do mar, do rio...220
Ou seja, o projeto arquitetnico de Cabral seria limitado, poistentaria dar um arranjo, que, segundo a autora, essencialmentedualista, a uma realidade que transborda tal estrutura.
O conceito principal na constituio da metfora do poeta-arquiteto ou do poeta-engenheiro o de projeto. Foi o crtico literrio Joo Alexandre Barbosa quem refinou de maneira mais consequente talconceito, a ponto de considerar a unidade da obra do poeta a partir
dele. Tal projeto assim apresentado pelo crtico:Quando se diz projeto o que se quer dizer , sobretudo, a direoassumida por uma certa potica em relao tanto ao conjunto daliteratura praticada anteriormente, ou concomitantemente, quanto emrelao s solues perseguidas pela prpria obra em jogo. Dizendo deoutro modo, trata-se de saber em que medida o novo cdigoinstaurado pelo poeta responde no apenas a transformaes operadassobre um cdigo anterior quanto formulao nova a partir de umaproblematizao dos dados por ele oferecidos.221
O projeto de Joo Cabral inserido, pelo crtico, em dois nveishistricos: o geral (comoresposta ao conjunto da literatura praticadaanteriormente , tanto brasileira quanto ocidental) e o individual, (comodirecionamento das solues perseguidas pela prpria obra em jogo).
218 Idem, ibidem.219 A expresso de Pedro Fiori Arantes, citado por Thas Toshimitsu,ibidem, p. 185.220 Idem, ibidem, pp. 185 186.221 BARBOSA, Joo Alexandre. A imitao da forma, op. cit., p. 17.
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
123/417
123
O projeto cabralino, de um ponto de vista do tempo histrico local,segundo Joo Alexandre Barbosa, seria uma resposta poesia ento
produzida no Brasil, portanto Gerao de 45 (os primeiros livros deCabral datam do incio da dcada de 40), como se pode depreender daseguinte passagem:
V-se [...] como a leitura de Murilo Mendes que realizava Joo Cabralsugeria uma ruptura para com a atividade mdia do que ento serealizava no momento em que publicava o seu primeiro livro,atividade em que, de acordo com Alfredo Bosi, as imagens vm a sero correlato de sentimentos e, numa fase mais avanada decondensao, os smbolos vm a ser o vu que oculta e ao mesmotempo sugere esses mesmos sentimentos222
Essa influncia de Murilo Mendes e tambm a de CarlosDrummond de Andrade, como o crtico no deixa de mencionar223 teria levado Joo Cabral a uma concepo de imagem diversa da de umcorrelato dos sentimentos. Qual seria essa concepo de imagem? O
prprio crtico responde:[A imagem em Cabral] muito menos temtica , como ocorria com os jovens poetas de ento, do que um procedimento tcnico, de ordemconstrutiva, apontando antes para o abstrato [...] do que para amensagem.224
Tratar-se-ia, portanto, de uma imagemconstrutivista, que,segundo o crtico, caracterizaria a poesia de Joo Cabral como o
resultado de um esforo compositivo e no como uma espontaneidadeexpressiva, j que a imagem , em sua obra, de natureza plstica, e noo veculo de uma mensagem. De modo geral, e no somente comrelao poesia brasileira de meados dos anos 40, esse projeto
222 Idem, ibidem, p. 23. A citao de Alfredo Bosi, feita por Joo Alexandre Barbosaencontra-se emHistria concisa da literatura brasileira. So Paulo: Editora Cultrix, 1970,p. 518223 Idem, ibidem, p. 22.224 Idem, ibidem, p. 22.
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
124/417
124
construtivista , nas palavras do prprio Joo Alexandre Barbosa, umprojeto de possvel eliminao do lirismo como escrever mais tarde
o crtico225
. Nesse caso, lirismo entendido como uma caracterstica detoda poesia centrada na expresso de estados subjetivos, sejam dadosemocionais conscientes, como no caso da poesiaromntica, ouinconscientes, como no caso da poesia onrica dos surrealistas; a esselirismo sempre se associaria a atitude psicolgica da espontaneidade,da inspirao, da irreflexo do ato criativo, qual Cabral se oporia226.
No que diz respeito constituio desse projeto construtivista naprpria obra de Joo Cabral, encontraramos sua primeira formulao
225 BARBOSA, Joo Alexandre. Alguma crtica, op. cit., p. 259.226 O atributo anti-lrico usado para caracterizar a poesia de Cabral se deve,sobretudo, a Luiz Costa Lima (LIMA, Luiz Costa,Lira e antilira. Mrio, Drummond,Cabral. Rio de Janeiro: Topbooks,1995.), e significa que a poesia de Joo Cabral no lida com estados subjetivos , que, no seu caso,o sentimentono mais serve palavrapotica , que o poema passa a dependermenosdo estado psicolgico em que concebido (Idem, ibidem, p. 221, 223 e 224) (os grifos so nossos). No anti-lirismo sealocaria toda reao da potica cabralina potica romntica, centrada na funoemotiva e tendo como resultado ficcional os estados ou percepes particulares de umEu que os exprime. Luiz Costa Lima, no entanto, mais tarde, ir estabelecer umarelao menos conflituosa ente o romantismo e a poesia de Joo Cabral (LIMA, LuizCosta, Joo Cabral: poeta crtico , inIntervenes. So Paulo: Edusp, 2002). Trata-se,nesse ensaio, de mostrar como a atitude crtica do poeta com respeito a sua prpriapoesia foi inaugurada pelas reflexes do primeiro romantismo alemo representadopor Novalis e Schlegel.Lembremos, porm, que o antilirismo do poeta viria a ser relativizado por WaltencirAlves de Oliveira em sua tese de doutorado (OLIVEIRA, Waltencir Alves de,O gostodos extremos. Tenso e dualidade na poesia de Joo Cabral de Melo Neto dePedra do Sono aAndando Sevilha. Tese: Teoria literria e Literatura comparada: Universidade de SoPaulo, 2008.), onde o autor analisa o tema do feminino e da autobiografia,intrinsecamente subjetivos, na poesia de Cabral. Segundo o pesquisador, atematizao do amor e da mulher, em Cabral,est fincada na concretude da terra, dacasa e da cidade e est configurada, em maiorou menor escala, em qualquer livrodo poeta (Idem, p. 102.) O eu autobiogrfico , por seu turno, na interpretao deWaltencir Alves de Oliveira, se inscreve tanto na dimenso social e histrica como narepresentao de traos da histria singular do poeta (Idem, p. 19). Portanto, para opesquisador, a onipresena do tema amoroso e o desvio subjetivo da autobiografiadevem levar concluso que no h em Cabral um antilirismo, se isso significaexcluso do lrico-amoroso e do Eu. H, sim, e esta a tese, umaredefinio dolirismo (Idem, p. 102): a mulher amada inscrita na concretude da imagem ,desvestindo-se da carnadura abstrata e da aura romntica e idealizada (Idem, p.100), e o sujeito se descentra na medida em que sua tematizao remete a umacontextualizao social e histrica (Idem, ibidem).
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
125/417
125
explcita, segundo Joo Alexandre Barbosa, numa fala do personagemRaimundo de Ostrs mal-amados (1943), como se pode ler no seguinte
comentrio feito pelo crtico:[...] o que se persegue a lucidez [...] como nesta ltima fala deRaimundo: Maria era tambm o sistema estabelecido de antemo, o fimonde chegar. Era a lucidez, que, ela s, nos pode dar um modo novo ecompleto de ver uma flor, deler um verso Construo, preciso, lucidez: o projeto que se torna mais explcitocom a publicao deO engenheiro [...] que, embora contendo textos que ovinculam s suas origens onricas [...], dominado, de fato, por umestrito senso de composio que faz justia ao ttulo do livro.
Construo, preciso , lucidez , a proposio de umsistema estabelecido de antemo , so os elementos do estrito sensode composio de Cabral, e que qualificam seu projeto, segundo JooAlexandre Barbosa. Algumas anlises feitas pelo crtico de poemas dolivroO engenheiro, detalham ainda mais essa conduta arquitetnica. Sejaobservado que o parti-pris analtico de Joo Alexandre Barbosa ,digamos, alm de temtico, estrutural, procedendo o autor por umaespcie de endognese, na medida em que pensa o processo criativo deCabral a partir da relao entre os elementos formais do poema, ou, deoutra maneira, a estruturao atravs da estrutura227. o que sedepreende da seguinte passagem:
[...] a meu ver, nem sempre nos textos mais explicitamentemetalingusticos (como O poema , ou A lio de poesia ), que, nestelivro, [O engenheiro], vai encontrar-se a discusso interna do prprioprocesso criador potico efetuada a partir de um ngulo em que os
227 Tal princpio analtico, pensar a estruturao a partir da estrutura final, tem limitesem termos genticos, pois deixa de lado certo aspecto do processo compositivo. Namaioria das vezes, a estrutura do texto final apenas uma a ltima das diversasformas que possivelmente um texto assumiu no processo compositivo. Como saber oque ocorreu nas outras etapas? Nesse sentido, Almuth Grssillon tem razo ao dizerque le texte final ne relve rien de sa gense tant que lon ne pentre pas danslembrouillamini des brouillons. Il ne donne voir lpaisseur et la polyphonie de sagense, la face nocturne et les clairs de son invention, qu celui qui va ladcouverte des traces qui lont prcd. GRSILLLON, Almuth,La mise en oeuvre, op.cit., p. 24).
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
126/417
126
elementos de realizao postos em jogo revelam, desde j, e por simesmos, o grau de lucidez atingido pelo inventor.228
No retomaremos aqui as anlises empreendidas por JooAlexandre Barbosa. Basta-nos referir que seus resultados mostram quea imagem, em Joo Cabral, no encontrada, sentida, dada, mas que ela resolvida em relao aos outros elementos que fazem parte do objetoconstrudo 229 Esse sentido de composio teria sido seguido riscapelo poeta, segundo Joo Alexandre Barbosa, j que haveria em suaobra uma insidiosa, persistente e vitoriosa lucidez de seu projeto230,calcado na clarividncia da concepo e no rigor da realizao.
228 BARBOSA, Joo Alexandre. A imitao da forma, op. cit., p. 46. 229 Idem, ibidem, p. 46.230 Idem, ibidem, p. 274.
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
127/417
127
1. 2. A mineralizao da palavra
A imagem do fazer potico de Joo Cabral como um processoguiado pela lucidez (do projeto) e pelo rigor (da realizao), ou seja,como uma conduta arquitetnica, vai junto com outra imagem a elaintimamente ligada. Trata-se do que Benedito Nunes e Antonio CarlosSecchin nomearam depotica negativa231 ou poesia do menos232,ambas identificveis com a metfora demineralizao da
linguagem 233. A metfora da petrificao da linguagem , de certaforma, o complemento da metfora do poeta-arquiteto. Nesta, est em jogo a concepo lcida do projeto da obra; naquela, atransformaoda palavra em pedra que torna o material lingustico propcio construo rigorosa do poema-edifcio.
A potica negativa ou mineralizao da palavra definida por
Benedito Nunes exatamente nestes termos:
luz da depurao e do esvaziamento, tpicos de uma poticanegativa, o que antes era resduo, produto de criao misteriosa,transplantado superfcie mineral da folha em branco, naturezaprpria das coisas quando em estado de palavras e das palavrasquando em estado de coisas. Atinge-se na mineralizao reconhecidada linguagem, que d nova direo vontade de petrificar, aequivalncia entre imagem e palavra ou entre palavra e coisa, que omistrio sem mistrio da poesia234
Atravs da negatividade ou da mineralizao, o ato de escrita,segundo Benedito Nunes, seria guiado, em Cabral, por uma certa
231 NUNES, Benedito. Joo Cabral de Melo Neto, op. cit., p. 51.232 SECCHIN, Antonio Carlos. Joo Cabral: a poesia do menos. So Paulo: Duas Cidades,1985.233 NUNES, Benedito.Op. cit., p. 48 e SECCHIN, Antonio Carlos,op. cit., pp. 64 -65.234 NUNES, Benedito.Op. cit., pp. 54 55.
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
128/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
129/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
130/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
131/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
132/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
133/417
133
dizer de Antonio Carlos Secchin,pela amputao de seu excessosemntico. Em suma, o que se afirma, na crtica literria, como valores
fundamentais do fazer cabralino a previsibilidade da obra a fazer e aestabilidade do material lingustico.
Acreditamos, porm, que diversos textos de Cabral levam relativizao da definio do fazer como um processo inteiramentecontrolado. Esses textos so, por um lado, justamente aqueles nos quaisa crtica literria haure as metforas do poeta-arquiteto e damineralizao da palavra:o livroO engenheiro e os poemas Fbulade Anfion e Psicologia da composio . Veremos que, nessas obras,as noes de imprevisibilidade e instabilidade so inerentes representao feita por Cabral da criao literria, expressas, porexemplo, nas metforas vitalistas utilizadas pelo poeta. Por outro lado,veremos que alguns de seus textos tericos ( Joan Mir e Poesia ecomposio ), alm de diversos poemasmetalingusticos, escritos em
sua fase madura (principalmente a partir de Museu de tudo (1974), pormeio da noo de refeitura contnua (ou de inacabamento)problematizam em seu fundamento a ideia de uma condutaarquitetnica. So esses textos que gostaramos de analisar noscaptulos que a seguir.
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
134/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
135/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
136/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
137/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
138/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
139/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
140/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
141/417
141
Os pares de oposies remetem o fazer e o no-fazer a duas
naturezas perfeitamente distintas. O no-fazer associado naturezados quatro elementos, o mineral (esttua da praa259, pensamento dapedra, areia), o aqutico (guas [do mar]), o gneo (calor) e o areo(vento); e o fazer est associado natureza humana (carne dos homens,vida, sonho, palavra). Os quatro elementos, que representam o no-fazer, por sua vez, so associados:
1) ideia de imobilismo. o caso do elemento mineral. A esttua
da praa a mesma,diferentemente da carne dos homens, que cresce ecria ; o pensamento da pedra permanece idnticoa si, contrariamenteao pensamento humano que se altera.
2) ideia do nada. Os outros elementos, alm do mineral, estoassociados a operaes negativas: o calorevapora, as guasdissolvem, ovento dispersa. E o que tanto o fogo, quanto a gua e o ar nadificam justamente o que mutvel, a vida, a criao, a palavra futura.
A noo de identidade, ligada ao no-fazer, e a noo demudana, ligada ao fazer, so modalizadas axiologicamente na medidaem que associado ao primeiro um valor desejvel (a tranquilidade) eao segundo um valor indesejvel (a inquietude). Tal modalizao fezcom que os crticos interpretassem o poema como uma escolha dosilncio feita pelo poeta, como se l neste comentrio de Joo Alexandre
Barbosa:
[...] o silncio conquistado vai ser o ncleo essencial da apreenso deValry (Doce tranquilidade/do no-fazer; paz,/equilbrio perfeito/doapetite de menos ou a inaudvel palavra/futura,- apenas /sada daboca,/sorvida no silncio.)
259 Evidentemente, a esttua no um objeto natural, mas o poema remete mais matria da esttua do que a ela mesma.
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
142/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
143/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
144/417
144
Porm, a noo vitalista presente nesses versos no aponta parauma espontaneidade do brotamento do poema. Porque atravs da
contraposio do brotar a um solo que no lhe propcio, o chomineral , pode-se ler a passagem como uma afirmao do cultivo do eno da espera pelo verso. A forma interrogativa, de qualquer forma,modaliza epistemicamente o propsito do Eu enunciador (o sujeitocriador), fazendo-o tender antes para a incerteza do que para a certezasobre o processo criativo que leva do branco da pgina (cho mineral)ao verso (ser vivo). O incio do poema prope talvez uma resposta:
A tinta e a lpisescrevem-se todosos versos do mundo.
O enunciado parece, primeira vista, inteiramente banal. Masatrs dessa banalidade se pensarmos na remisso aos instrumentos detrabalho do escritor (tinta, lpis) est a expresso do esforonecessrio que se deve fazer para romper a mineralidade da folha embranco e fazer com que nela nasa o verso263.
263 A leitura de textos revelados recentemente por Flora Sssekind (SUSSEKIND, Flora(org.). Correspondncia de Cabral com Bandeira e Drummond. Rio de Janeiro: EditoraNova Fronteira, 2001), pode confirmar essa interpretao. Trata-se da primeira versodo poema que estamos comentando (O poema ), que se intitulava, ento, Lio de poesia , publicada no suplemento Autores e livros de 3 de outubro de 1943. Nessaverso, o poema possui uma parte a mais que citamos e comentamos a seguir: A moque escreve/ conservada em sal/Como a memria//(Lembrana da cidade/De todas asguas:/Mar, rios, pntano;//Lembrana do amor/gua de chuva, alegre/E logo morta)//Mas amo carne/Viva, suando:/Em sal, sua morte,//Em tinta, o impulso/De vida, rumoroso/Comona semente. A mo que escreve sua , ou seja, ela agente de um esforo fatigante;dessa forma, ela pode tranformar Em tinta o impulso/De vida . O impulso de vidaque se transforma em tinta representado mais uma vez pela noo de natureza vital(rumoroso como na semente ), o que confirma o procedimento do cultivo comonecessrio para o florescimento do poema.
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
145/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
146/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
147/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
148/417
148
Esse duplo aspecto retomado na terceira e ltima parte dopoema, da qual transcrevemos trs estrofes:
A luta branca sobre o papelque o poeta evita,luta branca onde corre o sanguede suas veias de gua salgada..........................................
E as vinte palavras recolhidasnas guas salgadas do poetae de que se servir o poetaem sua mquina til.
Vinte palavras sempre as mesmasde que conhece o funcionamento,a evaporao, a densidademenor que a do ar.268
A ferida do poeta (suas veias esto abertas), resultante da lutacontra a pgina, ressalta o carter agnico da criao literria (contra obranco da pgina e contra a morte do poema) e o aproxima damodalidade axiolgica que representa o fazer como intranquilo, logo,como sendo de uma dificuldade incontrolvel, passvel tanto de sucessoquanto de fracasso. A segunda estrofe do trecho transcrito acima,atravs de uma visada prospectiva (as vinte palavras [...] de que seservir o poeta), sugere o sucesso possvel, a construo da mquinatil . Mas tal sucesso de fato somente possvel, como mostra a leiturada ltima estrofe. Nela, as palavras tanto podem funcionar como orgosde um poema-mquina, mas ao mesmo tempo podem evaporar-se269,quer dizer, retornar ao silncio da pgina, o que reafirma a
268 Obra completa, op. cit., pp. 78-79.269 Lembre-se que a noo de evaporao representa, no poema A Paul Valry (ocalor evapora [...] os lquidos da vida), o no-fazer, portanto um estado a-poitico talcomo, de certa forma, a evaporao das palavras durante o processo de composiono poema A lio de poesia.
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
149/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
150/417
150
escrever com a inquietude da mudana e do fracasso possvel repetem aassociao j feita, no poemaA Paul Valry, do no-fazer com a
tranquilidade e, logo, do fazer com um estado de pertubao. Esse tipode representao do estado psicolgico do sujeito criador ocorre cominsistncia nos poemas deO engenheiro. Sob o risco de repetio,citemos ainda um outro poema. Trata-se deA rvore , cuja segundaparte citamos a seguir:
(O frio olharvolta pela janelaao cimento friodo quarto e da alma;
calma perfeita,pura inrcia,onde jamais penetraro rumor
da oculta fbricaque cria as coisas
A calma perfeita , a pura inrcia , estados psicolgico e fsicosubsumveis, ambos, s noes de constncia e imobilidade soassociados a uma situao que exclui a poiesis: o rumor da criao jamais penetrar no frio silncio da alma petrificada. Por outro lado, a fbricada criao rumorosa, e, logo, associada no perfeita calma, mas inconstncia, no pura inrcia, mas ao movimento. Qualificadatambm como oculta , a criao se modalizatambm como algoignorado, no completamente permevel lucidez controladora dotrabalho calculado.
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
151/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
152/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
153/417
153
poeta dada a Clarice Lispector, que indaga se, na vida, Cabral totranquilo quanto o engenheiro em que se transforma quando escreve:
[...] algum que me visse escrever, veria que trabalhar tranquilamentecomo um engenheiro [de forma calculada e mais fria possvel] , emmim, uma aspirao, somente uma coisa que nunca pude alcanar eque j desisiti de alcanar.273
Acreditamos que a construo desse ideal arquitetnico decontrole absoluto do processo compositivo, bem como a renncia a ele,podem ser lidos nopoema Fbula de Anfion , que analisamos a seguir.
273 PastaPi. Original de entrevista dada Manchete.
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
154/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
155/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
156/417
156
pelo poeta Eucana Ferraz em seu ensaioAnfion , arquiteto 278. Para oautor do ensaio, naFbula de Anfion Joo Cabral teria retomado o
ideal esttico presente no poema O engenheiro , onde o poeta j seservira do edifcio racionalista para definir os prprios instrumentos detrabalho 279. A fbula enfatizaria ainda mais a centralidade doracionalismo arquitetnico como princpio tico e formal em Cabral.Nas palavras de Eucana Ferraz:
o poeta [Joo Cabral] encontrou no racionalismo arquitetnico aproposio tica e formal capaz de renovar o verso e garantir ocontedo social do poema280
Mas o que esse racionalismo arquitetnico, e quais essesprncipios ticos e formais? Trata-se, como afirma o poeta portugus, darazo projetiva-construtiva, a que concebe a obra em sua perfeio, acidade ou o poesia justa, isenta de qualquer obscuridade, leve etransparente. Esse ideal anfinico de previsibilidade e controle aproximado, por Eucana Ferraz, do prncipio construtivo daarquitetura moderna, legvel, por exemplo, naCarta de Atenas, escrita edivulgada pelo CIAM (Congresso Internacional de ArquiteturaModerna, de 1933), que citamos conforme Eucana Ferraz:
A cidade adquirir o carter de uma empresa estudada de antemo esubmetida ao rigor de um planeamento geral. Sbias previses tero
esboado o seu futuro, descrito o seu carter, previsto a amplitude dosseus desenvolvimentos e limitado, previamente, o seu excesso. [...] Acidade no ser mais o resultado desordenado de iniciativasacidentais.281
278 FERRAZ, Eucana. Anfion, arquiteto.Colquio-Letras. Paisagem tipogrfica.Homenagem a Joo Cabral de Melo Neto, ns 157/158, julho/dezembro 2000, pp. 81 98.279 Idem, ibidem, p. 82.280 Idem, ibidem, p. 96.281 apud FERRAZ, Eucana, ibidem, p. 96.
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
157/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
158/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
159/417
159
Desejei longamenteliso muro, e branco,puro sol em si
como qualquer laranja;leve laje sonheilargada no espao.
Onde a cidadevolante, a nuvemcivil sonhada?287
Em sua retrospeco Anfion constata a dessemelhana entre o
que projetara e o que foi realizado. A sua fala lamenta, como escreve Joo Alexandre Barbosa, a distncia insupervel entre inteno eobjetivao288. Mas o que constitui a dessemelhana entre o desenhodo arquiteto Anfion e a produo do canteiro de Tebas? SegundoEucana Ferraz, trata-se de umaoposio entre duas linguagensconstrutivas 289, especificamente arquitetnicas. Citando KennethFrampton (que por sua vez remete a Gottfried Semper), o autor as
designa uma como tectnica e outra como estereotmica. Ambas soassim qualificadas pelo crtico com os seguintes termos:
[Na] tectnica da armao [...] peas de comprimento variado soarticuladas para circundar um campo espacial; a estereotomia damassa compressiva [...] embora possa corporificar o espao, construda por meio do empilhamento de unidades idnticas [...] isto ,[...] a armao tende no sentido do areo e da desmaterializao,enquanto a massa tende no sentido do telrico; uma pressupondo aluz, a outra, a escurido.290
Essa diferena entre a linguagem tectnica do projeto deAnfione a linguagem estereotmica do canteiro de Tebas aponta para
287 Obra completa, op. cit., pp. 91 - 92.288 BARBOSA, Joo Alexandre. A imitao da forma, op. cit., p. 68.289 FERRAZ, Eucana , art. cit. p. 88.290 apud FERRAZ, Eucana,ibidem, pp, 92 93.
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
160/417
160
uma diferena fundamental entre a forma e o material prescritos pelodesenho e a forma e o material da realizao da cidade. A diferena est
em que Anfion planejara uma cidade area, construda a partir de cima,do ar (cidade volante/nuvem civil), feita de liso muro e leve laje :
Desejei longamenteliso muro, e branco,.................................leve laje sonheilargada no espao.291
Mas o resultado foi uma construo no area, mas trrea, que seagarra ao cho; no uma cidade de leves lajes e lisos muros, mas feitade rugosos tijolos, de vermelha argila:
Esta cidade, Tebas, no a quisera assimde tijolos plantada.................................como distinguironde comea a hera, a argila,ou a terra acaba?292
Eucana Ferraz interpreta a diferena hierarquicamente: haveriauma superioridade do projeto de Anfion com relao ao resultadoobtido. Essa superioridade se traduziria pela filiao moderna dodesenho anfinico(Quando Anfion fala [...] sua utopia [...] descrita
por imagens que legendam poeticamente as formas e o contedoutpico da arquitectura moderna 293) em contraposio ao cartertradicional da cidade que foi erguida.
Mas Anfion fracassa. O fracasso de Anfion no to grave assimpara Eucana Ferraz: o arquiteto, verificando a assimetria entre projeto
291 Obra completa, op. cit., p. 91.292 Idem, ibidem, p. 91293 FERRAZ, Eucana. Anfion, arquiteto,art. cit., p. 91.
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
161/417
161
e realizao, joga fora sua flauta (A flauta, eu a joguei/aos peixessurdos-/mudos do mar ), mas, ao faz-lo, na verdade teria lanado ao
mar a falha294
de seu empreendimento, pronto para uma novatentativa.
Mas como Anfion pde fracassar? No seria justamente por tercado na iluso da pr-viso projetual de toda a obra, independente docanteiro, de ter por demais se fiado nas promessa de perfeio de umdesenho separado? Uma certa arrogncia arquitetnica est na base desua falha. Essa arrogncia Srgio Ferro a denuncia nos casos mais
emblemticos da modernidade arquitetnica. Seria o caso, por exemplo,de Le Corbusier e seu convento de La Tourette. Na concepo dessaobra, Le Corbusier seguia prncipios idnticos ao de Anfion arquiteto (ocarter volante da construo), como se pode ler nessa passagem doarquiteto de origem suia onde comenta seu prprio projeto:
Aqui, nesse terreno, que era to mvel, to fugidio, descendo,escorregando, eu disse: no vou tomar por base a terra porque elaescapa. Tomemos por base, no alto, a horizontal do prdio no topo,mediremos todas as coisas a partir da e atingiremos o cho nomomento em que o tocarmos.295
O comentrio que Srgio Ferro faz desse fala de Le Corbusier preciso, como se l nesta passagem:
Curiosa posio para um construtor : partir do teto. A edificao real,coitada, tem sempre que sair do cho. O oxmoro, o teto a base,
anuncia o quiasmo das relaes entre o desenho e o canteiro: l, oandamento vai da fico construo, aqui, da construo fico.Quase todos os comentaristas do convento o olham assim, de cimapara baixo, pondo de cara a construo real de lado.296
O caso de Le Corbusier, tal como mostrado por Ferro, semelhante ao de Anfion, ou seja, h um desequilbrio entre a estrutura
294 Idem, ibidem, p. 97.295 apud FERRO, Srgio. Arquitetura e trabalho livre, op. cit, p. 220.296 Idem, ibidem.
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
162/417
162
fictcia, desenhada, e estrutura real, realizada. Anfion concebe umacidade nas nuvens (assim como Le Corbusier concebeu seu convento
para ser construdo a partir do teto), mas os homens constroem as suasplantando-as na terra. H mais, com respeito a Le Corbusier. SegundoSrgio Ferro, o convento de La Tourette d a impresso decorresponder a uma lgica forte, bem pensada e segura de si297, isto ,d a impresso que foi realizado conforme as prescries precisas desua concepo. Nada disso. Tal como o de Anfion, o projeto de LeCorbusier era irrealizvel e teve que se render s evidncias do canteiro.
Srgio Ferro quem o afirma:
O que parece bem pensado frequentemente obra do acaso. Algumasvigas e as lajes do piano e da sacristia, perfuradas por canhes deluz (no piano ) e por metralhadoras de luz (na sacristia) [...] eramirrealizveis. O que surpreendente da parte de um construtor . spressas foi convocada uma empresa de construo de pontes, queresolveu o impasse recorrendo ao concreto pretendido numa de suasprimeiras aplicaes em edifcio na Frana, soluo cara e ento
insegura. E o fruto do acaso [...] foi apresentado pelo mestre comocontribuio ao avano tecnolgico.298
O fato de Le Corbusier inventar uma retrica de perfeio doprojeto e de sua preexcelncia com relao ao canteiro, e seus acasos,no repetido por Anfion. Ao contrrio, comove sua sinceridadeconstatando seu fracasso de no ter conseguido bem projetar o quedeveria ser feito e tudo controlar durante o processo de edificao:
Como antecipara rvore de somde tal semente?..........................
297 Idem, ibidem, p. 215.298 Idem, ibidem, p. 216.
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
163/417
163
Uma flauta: como preversuas modulaes,cavalo solto que louco.299
O fazer imprevisvel humilha a inteno desptica300. E humilhado, ferido em sua asctica lucidez, que Anfion lana sua flautaaos peixes. Assim renunciar flauta no simplesmente, pensamos,atirar ao mar a falha , como afirma Eucana Ferraz, mas talvez atirarao mar a prpria tentativa de um procedimento que sobrepe odesenho e subestima o canteiro. No dizemos que Anfion desiste da
Cidade justa, mas que desiste da Cidade que existe somente navirtualidade do projeto. Para que chegue realizao, o desenho dessaCidade, apesar de querer permanecer o mesmo, tem de ser ajustado ou,muitas vezes, completamente transformado nos trabalhos do canteiro.
Podemos retomar diferentemente, agora, a metfora do poeta-arquiteto consagrada pela crtica literria. Como vimos, ela representaum fazer controlado que realiza rigorosamente um projeto pr-concebido. Porm, na medida em que, como vimos, a imprevisibilidadee a instabilidade so, em Cabral inerentes ao processo criativo, seguardarmos a metfora arquitetnica, preferimos representar o fazercabralino no por meio de uma po(i)tica do projeto, como prefere JooAlexandre Barbosa, mas a partir de uma po(i)tica docanteiro. Issosignifica dizer que o desenho deixa de prescrever a obra completamente
(como bem queria, tendo fracassado, Anfion), que ele deixa para trsseu autoritarismo (a expresso de Srgio Ferro301) e se rende,finalmente, evidncia de que o canteiro o lugar onde, afinal, tudo se
299 Obras completas, p. 92.300 Semelhantemente ao que j afirmou Michel Gurin ao discorrer sobre o fenmenode criao: limprvu humilie peut-tre lide nave de lintention, en tantquvoluant, du dbut la fin de lacte, dans le milieu matris de la transparence(GURIN, Michel.Lartiste ou la toute-puissance des ides. Provence : Publications del'Universit de Provence, 2007, p. 72.)301 Arquitetura e trabalho livre, op. cit., p. 429.
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
164/417
164
resolve (ou no). Ou seja, que a suja pgina da construo do poema onde o homem investe a energia de seu corpo-prprio na difcil tarefa
de materializar sua inteno e de transform-la, e at mesmo perd-ladurante o processo o espao especfico e efetivo do criar literrio. Aarquitetura cabralina, se arquitetura h, seria, dessa forma, prximadaquela que expe Srgio Ferro nos seguintes termos:
[...] na arte, a concepo pouca se isolada como dizia Mallarm aDegas que, apesar de ter muitas ideias, no conseguia escrever umsoneto. O desenho s conta quando se perde na matria e volta outro,transformado pelo trabalho que o redescobre transubstanciado.302
esse movimento de ir e vir do desenho (da inteno) quandoencontra a matria (a linguagem), que o faz transformar-se (ou mesmoser abolido, trocado por outro), desviando-se de si mesmo, ou sendoretificado, que gostaramos de reter para caracterizar o processo criativode Joo Cabral.
302 Idem, ibidem.
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
165/417
165
2. 3. Sujeito criador e obra em processo no poemaPsicologia da composio
Vimos nos dois subcaptulos anteriores que as metforasvitalistas (entre outros aspectos) dos poemas metalingusticos deOengenheiro, e a problematizao da relao entre desenho e canteiro naFbula de Anfion , implicavam uma relativizao da previsibilidade eda estabilidade da conduta arquitetnica. Em Psicologia dacomposio , as coisas no so diferentes. O imprevisvel e o instvelso tematizados nesse poema a partir da relao entre factor e opus (emprocesso de instaurao), como o prprio ttulo j o indica: sendo
psicologia , o sujeito criador centralmente visado pelo poema, e sendo
psicologiada composio, ele representado em plena atividade de criar.Ou seja, trata-se aqui da psicologia do sujeito criador em sua relaocom a obra que faz. No podemos concordar, portanto, com JooAlexandre Barbosa quando afirma:
Na verdade sendo uma psicologia da composio , e no do poeta, a persona, em que se transforma o poema, que permite as afirmaesem primeira pessoa que o texto encerra.303
Ao dizer que o Eu do texto o da persona em que o poema setransforma, o crtico entende composio como designandoo objetoresultante da conduta criativa, que seria, assim, personificado edissecado pelo texto. Preferimos, porm, lero termo composio como designando aatividade de compor . Enquanto atividade criativa, a
303 BARBOSA, Joo Alexandre, A imitao da forma, pp. 71 72.
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
166/417
166
composio implica necessariamente umsujeito criador do qual se faz justamente, no poema, a psicologia s voltas com o processo de
instaurao do poema. Teremos oportunidade de tratar maisdetalhadamente do sentido do termo composio como designandouma atividade e no um objeto no captulo seguinte304.
Por ora, observe-se que o comeo do poema representa o Eu, quedesigna o sujeito que cria, diante da obra terminada, numa visadaretrospectiva, tal como Anfion na terceira parte da Fbula . Masdiferentemente deste, que se lamenta diante da cidade imperfeita
(porque no conforme ao desenho que projetara), o factor , naPsicologia da composio, descreve o processo, entre controlado eimprevisvel que o levou realizao do poema:
Saio do meu poemacomo quem lava as mos.
Algumas conchas tornaram-se
que o sol da atenocristalizou; alguma palavraque desabrochei, como a um pssaro.305
J a ambiguidade do sintagmalavar as mosmostra o duploaspecto de finalizao do processo compositivo, pois tanto podesignificar o esforo do trabalho de composio (o poeta lava as mos
304 Uma palavra sobre a estrutura compositiva dopoema Psicologia da composio .Diferentemente de Fbula de Anfion , onde as partes estavam coesas por um ncleonarrativo comum, a construo de Tebas, no podendo ser lidas separadamente, sob orisco de perda de sentido (se se desconhecem as outras partes),Psicologia dacomposio se constitui de partesindependentes entre si, justapostas, podendo serlidas, sem prejuzo, em separado. Essa independncia se confirma se notarmos que,por exemplo, o poema n 2 no era originalmente destinado aser parte da Psicologiada composio . Tratava-se, na verdade, de um poema autnomo, intitulado O papel em branco , publicado em 3/10/1943, no jornal A Manh , poema que Joo Cabralreformula, e inclui,posteriormente, como uma parte de Psicologia da composio .Ver SUSSEKND, Flora (org.),Correspondncia de Cabral com Bandeira e Drummond, op.cit., p. 265. Assim, se um poeta-engenheiro o projetou, transformou o desenho duranteos trabalhos do canteiro.305 Obra completa, op. cit., p. 93.
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
167/417
167
que sujou trabalhando o poema), como tambm um gesto de rennciaou abandono da obra (como se o poeta desistisse de continuar otrabalho, mesmo que esse pudesse continuar). A visada retrospectivarecupera o processo criativo a partir de duas operaes distintas,metaforicamente expressas, na segunda estrofe, ao mesmo tempo pelamineralizao e pelo desabrochamento . Mais uma vez misturam-seos reinos naturais na descrio do fazer. O poema foi, a um tempo, feitopela lucidamente controlada mineralizao de algumas palavras(conchas ), e pela surpreendente ecloso (desabrochamento ) deoutras. Assim, a primeira parte de Psicologia da composio mostra ocarter hbrido da conduta criativa, em que concorrem controle esurpresa, domnio sobre a linguagem e manifestao inesperada dosentido.306
Pensamos que esse carter hbrido do fazer, entre controle esurpresa, previsibilidade e imprevisibilidade, repetidamente refletidopelo poema. Para mostr-lo, faamos uma leitura conjunta das duaspartes seguintes (2 e 3), pois ambas tm o mesmo objeto, o papel ondese escreve, estando este ainda branco na parte 2, e j sujo pela escrita naparte 3.
Na parte 2 o poeta est diante da folha branca, ou seja, na puravirtualidade do poema (diversamente da primeira parte quando estavadiante da obra realizada):
Esta folha branca
me proscreve o sonhome incita ao versontido e preciso.307
306 Joo Alexandre Barbosa interpreta diferentemente (assim como Antonio CarlosSecchin) a primeira parte do poema. Para Barbosa, tanto o operao de mineralizaoquanto a de desabrochamento (que no entanto so nocionalmente opostas) seriamcontroladas pela ateno: O pssaro em que desabrocha a palavra [...] somente agora possvel, depois da experincia calcinante e calcinada pela ateno . (BARBOSA, Joo Alexandre, A imitao da forma, op. cit., p. 73).307 Obra completa, op. cit., p. 93.
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
168/417
168
A pgina em branco aqui guarda sua face negativa e positiva308:ela proscreve o sonho e incita ao verso ntido. Abolindo o sonho, ela
(tal como o deserto de Anfion) o lugar de uma lucidez solar, de umestado de viglia. E aulando o poeta palavra precisa, ela ndice deuma finalidade esttica, que renega o obscuro e o vago e busca a clarezae a exatido. Mas ainda que a folha branca concite a um certo fim, oprocesso at ele no est de antemo garantido. o que se pode ler naparte seguinte (3) onde se retoma o tema da pgina, no branca, massuja , daquela que suporte do processo j comeado de
composio,309 representando-a novamente por meio da negatividadeque, dessa vez, ameaa o prprio xito da conduta:
Neste papelpode teu salvirar cinza
pode o limovirar pedra;o sol da pele,o trigo do corpovirar cinza.310
A modalidade do possvel, associada noo de transformaoda vida em morte (o trigo do corpo/virar cinza ), representam ainstabilidade prpria do processo compositivo. J emLio de poesia ,de O engenheiro, vamos o poeta diante do papel tentando salvar damorte suas palavras. Aqui tambm, a cinza, em que podem se
308 Essa dupla face do papel em branco j se constatava emO engenheiro. Porm, nestelivro, a face negativa correspondia ao carter infecundo da folha, ao fato derepresentar a impossibilidade de criar o que quer que seja.309 Antonio Carlos Secchin nota perspicazmente que a parte III focaliza outromomento do processo criador: nem a folha branca (II), nem a obra concluda (I), mas osalto de um a outro, e as metamorfoses que podem intervir no intervalo entreambos. . Se bem entendemos, para o crtico, a parte III representa o processo do fazerem sua durao. (SECCHIN, Antonio Carlos, Joo Cabral : a poesia do menos, op. cit., p.62.).310 Obra completa, op. cit., p. 94.
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
169/417
169
transformar o sal e o trigo, representa a ameaa de retorno do poema aonada. A que se deve esse fim possvel? A resposta talvez esteja na
sequncia do texto:
(Teme, por isso,a jovem manhsobre as floresda vspera)311
Ou seja, aquilo que se escreveu na vspera (floresdesabrochadas ) pode se revelar nulo quando, na manh seguinte, seretoma o trabalho de composio.312. O que se criou em um certomomento corre sempre o risco de virar cinza em outro momento doprocesso criativo. Ao mesmo tempo, o retornar constantemente aotrabalho de escrita, o reformular continuamente, essencial se se recusaa execuo apressada, ou de outra forma,a revelao das flores dopoema s possvel atravs de uma suspenso momentnea do
trabalho e de sua retomada posterior. o que se l na seguintepassagem:
Neste papellogo fenecem........................todas as fludasflores da pressa;.........................
311 Idem, ibidem.312 Antonio Carlos Secchin, diferentemente de ns, l as transformaes (sal, trigo,limo em cinza e pedra) como fruto do acaso, mas de um acasodominado . Citemoso crtico: Embora temida, a ao do acaso equacionada e resolvida na prpriaproduo textual [...]. O acaso, uma vez incorporado, passar pelo mesmo crivo dedepurao a que todos os elementos (e no somente os onricos) se devem submeter .(SECCHIN, Antonio Carlos, Joo Cabral: a poesia do menos, op. cit., p. 62). Mas se ajovem manh/sobre as flores/da vspera a causa das transformaes aniquilantesdurante o processo de composio, difcil aqui identific-la com o acaso. Porque emCabral,manh antes smbolo de um controle lcido do que de uma eventualidadecausal. Lembremos os versos deA mesa: E o verso nascido/de tua manh viva,/deteu sonho extinto (Obra completa, op. cit., p. 74).
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
170/417
170
(Espera, por isso,que a jovem manhte venha revelaras flores da vspera.)313
Nas trs primeiras partes do poemaPsicologia da composio,o fazer representando por meio de um domnio nocional hbrido, quemescla controle e instabilidade. Na primeira, a visada retrospectiva doprocesso compositivo atesta o que foi resultado da cristalizao pelaateno (controle) e o que foi fruto do desabrochar, retomando-se umanoo vitalista que, em Cabral, se associa ao imprevisvel. Na segunda,
representa-se o sujeito criador diante da folhaainda branca, sendo talespao negativo (com relao ao contedo onrico), e positivo, comolugar de uma prospeo do verso a fazer(ntido e preciso ). E,finalmente, na terceira, representa-se o sujeito criador diante da obraque j foi iniciada e que ele retoma; essa reescrita (a jovem manhsobre as flores da vspera ), ao mesmo tempo em que exigida para aobteno do verso sem restos onricos, pode pr em xeque a obra que se
efetua(pode teu sal virar cinza ).Na quarta parte, o estado de coisas semelhante. A instabilidade
do processo exposta explicitamente, seja da perspectiva do poema quese faz, que ameaa romper a forma que tenta lhe impor o sujeito quecria, seja do ponto de vista do prprio sujeito criador, cujos estadospsicolgicos so variveis, indo da ateno ao descuido:
O poema, com seu cavalos,quer explodirteu tempo claro; romperseu branco fio, seu cimentomudo e fresco.
(O descuido ficara abertode par em par;um sonho passou, deixando,fiapos, logo rvores instantneascoagulando a preguia.)314
313 Obra completa, op. cit., p. 94.
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
171/417
171
A relao dessa passagem comFbula de Anfion notvel e jfora explicitada por Joo Alexandre Barbosa. Afirma o crtico:
No poema [...] recorre [a] imagem equestre que j estava na descriodo acaso [em Fbula de Anfion ]. No s ela, est claro. Quer otempo, quer o cimentomudo e fresco , com que sonhara a construodos muros de sua cidade volante , ressurgem no poema.315
E poderamos acrescentar, tambm,que o descuido abertoguarda relao com a alva distrao de Anfion316, em cujas dobras seesconde o acaso. Assim, tal como na Fbula , onde, apesar do mudocimento prescrito, a cidade se faz de tijolos , e onde, apesar de sualucidez asctica, o acaso surpreende surgindo dasdobras dadistrao, aqui tambm o cimento est sob o risco de ser rompido,surpreendemente,pelos cavalos do poema, eo processo compositivoameado pela instabilidade psicolgica do sujeito criador.
Dessa forma, vemos que, se por um lado, a obra por fazer reserva
sempre suas surpresas, o prprio sujeito criador, por outro, representado a partir da variao de seus estados, que pode interferirdrasticamente no processo. uma imagem similar a proposta na 6parte do poema:
No a forma encontrada.................................mas a forma atingida
como a ponta do noveloque a ateno, lenta,desenrola,aranha; como o mais extremodesse fio frgil, que se rompeao peso, sempre, das mosenormes.
314 Idem, ibidem, pp. 94 -95.315 BARBOSA, Joo Alexandre, A imitao da forma, op. cit., p. 76.316 Obra completa, op. cit., p. 90.
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
172/417
172
Observa-se que h uma desproporo entre aleveza do fio daforma que a ateno desenrola (tal como uma aranha ) e o peso
das mos do poeta, responsveis pela realizao material dopoema317, de tal maneira que estas rompem aquele, fazendo-se perder oque o puro pensamento lcido havia concebido e cuja realizao queriacontrolar.318 No seria, aqui, retomado mais uma vez o descompasso, jtematizado em Fbula de Anfion , entre a que se produz no esprito eo que se realiza na matria?
Por fim, na ltima seo, o cultivo do deserto como um pomar
s avessas 319, enquanto metfora do processo de criao, guarda, maisuma vez uma dupla face, entre estabilidade e instabilidade. De umlado, o cultivo do deserto significa um trabalho demorado e reiteradode composio:
A ateno destilapalavras maduras.320
Por outro lado, esse mesmo cultivo do deserto pode implicar nouma destilao , ou seja, uma evaporao que condensa as palavras,fazendo com que pinguem puras no papel, mas o contrrio, umaevaporao que dispersa o material lingustico, fazendo-o desaparecer,o que significa o retorno ao vazio da pgina em branco.
317 Basta relembrar o incio do texto: Saio do meu poema/como quem lava as mos . 318 Antonio Carlos Secchin no deixou de notar o risco que corre a forma quando emprocesso de realizao pelas mos do poeta. Citemos: Na ltima estrofe, aranha ,imagem da ateno , corrobora o ideal de controle, ao mesmo tempo em quesublinha um risco. Mos enormes: a intromisso dos excessos do sujeito; aimprevisibilidade da matria viva. (SECCHIN, Antonio Carlos, Joo Cabral: a poesia domenos, op. cit., p. 64.)319 Os versos iniciais da ltima parte Cultivar o deserto/como um pomar s avessas ,retomam, uma vez mais, termos da Fbula de Anfion . A diferena entre um poemae outro porm existe e bem comentada por Joo Alexandre Barbosa: Na inversoest a caracterizao daquilo que se pretende comunicar: no mais o silncioparalisante para o qual apontava a desiluso de Anfion ante os muros por eleconstrudos em torno de Tebas, mas um deserto pelo qual seja possvel ler umpomar. (BARBOSA, Joo Alexandre, A imitao da forma, op. cit., p. 79.)320 Obra completa, op. cit., p. 79.
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
173/417
173
Ento, nada maisdestila; evapora;
onde foi maa,resta uma fome;Onde foi palavra........................................... resta a severaforma do vazio.
Esta interpretao se diferencia da de Antonio Carlos Sechhinque no distingue destilao e evaporao, reduzindo ambas ao
processo de lcido e controladoesvaziamento semntico quecaracterizaria o procedimento cabralino. Citemos o crtico:
O final do texto [Psicologia da composio ] explora, mais um vez, otema do esvaziamento atingido pela depurao.A depurao do vegetal s se formaliza se admitir, pela escrita, suapassagem a uma condio tambm mineral: no deve vigorar comoalgo incontrolvel, que reluta em se submeter ateno.321
De nossa parte, porm, pela anlise da representao que aPsicologia da composio faz do sujeito criador em relao com aobra que faz (ou fez), preferimos no ver o processo de criao de umaforma to limpa, de reduo controlada ao essencial (depurao) ou,como afirma o crtico,como uma mineralizao . Pois,tal como alemos, o fazer na Psicologia da composio se representa sempre por
dois domnios nocionais opostos, havendo variao de jugo de umsobre o outro e, mesmo, por vezes, concomitncia. Lembremos algunsde tais pares: cristalizao e desabrochamento (1 parte); a folhabranca que incita ao verso ntido (2 parte), ao passo que nesta mesmapgina, o trigo vira cinza (3 parte);o rompante dos cavalos dopoema contra o cimento que lhe impe o sujeito que cria (4 parte); o
321 SECCHIN, Antonio Carlos, Joo Cabral: a poesia do menos, op. cit., p. 66.
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
174/417
174
fio da forma, inventada pelo esprito, que se rompesob o peso dasmos que realizam o poema (6 parte); a destilao que condensa, e a
evaporao que dissipa as palavras (8 parte). Essa dualidade tensionalimpede a caracterizao do fazer como um processo inteiramentecontrolado.
Essa dualidade pode levar ao uso de uma outra metfora, queno a arquitetnica, para a representao do fazer cabralino: a datauromaquia322. Pois, por diversas vezes, Cabral fez referncia ao fazer e os pares opostos de Psicologia da composio so um exemplo
disso como um esforo por domar uma grande fora, representando-avitalistamentecomo cavalo , touro , potro .Relembremos algumaspassagens da Psicologia da composio:
O poema, com seu cavalos,quer explodirteu tempo claro; romperseu branco fio, seu cimentomudo e fresco.
Ou ainda:
................. palavra(potros ou touroscontidos)
Os exemplos mais evidentes desse tipo de representao so ospoemas que tematizama arte de tourear, aproximando-a do fazerliterrio. o caso, por exemplo, do poemaAlguns toureiros , do qualcitamos as trs estrofes finais:
322 O que ser brevemente desenvolvido a seguirsobre a literatura comotauromaquia (conforme a expresso de Michel Leiris La literatura considerada comouna tauromaquia. Barcelona: Tusquets Editor, 1975) retoma as discusses levadas acabo no cursoEstudo Analtico da Poesia de Joo Cabral de Melo Neto, decorridono primeiro semestre de 2009, na Universidade de So Paulo, e ministrado peloprofessor Ariovaldo Jos Vidal, a quem devemos a sugesto.
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
175/417
175
sim, eu vi Manuel Rodriquez,Manolete, o mais asceta,
no s cultivar sua flormas demonstrar aos poetas:
como domar a explosocom mo serena e contidasem deixar que se derramea flor que traz escondida,
e como, ento, trabalh-lacom mo certa, pouca e extrema,sem perfumar sua flor,sem poetizar seu poema.323
Mas se o gesto preciso do toureiro exemplo para o poeta, naarte de tourear h um risco que tambm deve servir de exemplo. Esserisco o da morte. Manolete, objeto do trecho logo acima citado, ,nesse caso, paradigmtico, pois morreu toureando. A morte, alis, deManolete tocou profundamente Cabral, e a ela o poeta fez referncia
numa carta a Manuel Bandeira de 4 de setembro de 1947:
Faz hoje uma semana que um mira matou Manolete, considerado omelhor toureiro que j aparecera at hoje Seja dito de passagem queera um camarada fabuloso: vi-o algumas vezes em Barcelona eimaginei que era Paul Valry toureando. 324
Em outros textos, Joo Cabral no deixa de notar esse risco queque corre o toureiro no exerccio de sua arte, j que quando toureia ofaz no extremo do ser,/no limite entre a vida e a morte325. H assimna arte de tourear o gesto preciso e o perigo de perder a vida; que talgesto, por mais preciso que seja, no consegue evitar (e, mesmo, quanto
323 Obra completa, op. cit., p. 158.324 Ver SUSSEKND, Flora,Correspondncia de Cabral com Bandeira e Drummond, op. cit.,p. 34. 325 Versos do poema Manolo Gonzlez ,Obra completa, op. cit., p. 671.
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
176/417
176
mais preciso, aproxima o toureiro do risco mortal). o que se l nosversos finais do poema A morte de Gallito:
Ele tinha tal sabedoriaque seu toureio era geometria
e sabia tudo de touros,de seus defeitos, de seus gostos.
Surpreende ento a Espanha toda, j em bombas, a maior bomba:
A Jos , e h quem no creia, matou um touro em Tavalera326
Esses dois elementos da arte do toureiro, a preciso regrada e operigo da morte, so exatamente os que so postos em destaque porMichel Leiris na comparao que faz da tauromaquia com a arte deescrever, afirmando que o perigo tanto maior proporo que sebusca a aplicao exata da regra:
Para este ltimo [lo torero], es evidente que la regla, lejos de ser unaproteccin, contribuye a ponerle en peligro: asestar la estocada en lascondiciones requeridas implica, por ejemplo, que expone su cuerpo,durante un tiempo considerable, al alcance de los cuernos; existe, pues,ah una unin inmediata entre la obediencia a la regla e al peligrocorrido.327
No caso do fazer literrio, no h exatamente o espetculo damorte (tanto do touro quanto do toureiro) que a tourada nos oferece.H a, porm, o que poderamos chamar de tauromaquia ntima. MichelLeiris, referindo-se a seu prprio exemplo, afirma que essa touradasolitria a tentativa dese equilibrar entre a regra de decir toda la
326 Idem, ibidem, p. 625. 327 LEIRIS, Michel.La literatura considerada como una tauromaquia, op. cit., p. 21.
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
177/417
177
verdad y nada ms que la verdad328 e o perigo de desacreditarsesocialmente329, j que o texto em questo so suas confisses
(publicadas sob o ttuloLge de lhomme) que se querem autnticas,mas, ao mesmo tempo, para chegar a tanto, implicam pessoas prximasque podem se feridas e impelidas a atacar a veracidade do relato doautor. Quer dizer, quanto mais o autor se aproxima da preciso daveracidade, mais prximo est de sua morte social .No caso de Cabrala regra o controle absoluto do fazer literrio contra uma variabilidadeintrnseca ao sujeito criador e matria lingustica, de tal maneira que
se encontra sempre sob o risco (efetivo) de ver seumudo cimento rompido pelosloucos cavalos do poema. Os outros pares de opostosque esto na base da representao poitica de Psicologia dacomposio tambm exemplificamessa tenso entre regra e risco.
Acreditamos que a poesia-canteiro, tratada no subcaptuloanterior, e a poesia-tauromaquia, que acabamos de tematizar, so maisprecisas para a representao do fazer cabralino que a poesia-arquitetura, pois incluem tanto a previsibilidade e o controle, quanto oimprevisvel e o instvel. Outras representaes menos metafricas daarte potica, presentes na obra de Cabral, vo no mesmo sentido. Nocaptulo seguinte trataremos dessas representaes ao explorar oconceito de reescrita incessante, atravs do qual ser afirmada, demaneira inequvoca, a incerteza essencial ao fazer literatura.
328 Idem, ibidem, p. 21.329 Idem, ibidem, p. 22.
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
178/417
178
Captulo 3. A reescrita contnua
3. 1. O gosto pelo fazer
Nos dois captulos anteriores desta parte vimos que ao lado deum ideal de conduta criativa (o poeta arquiteto ),que representa deum completo controle do processo criativo, h, na obra de Joo Cabral
de Melo, uma representao do fazer que inclui nele o imprevisvel e oinstvel e que reclama um esforo transtornante e nem sempre eficazpara a sua per-feio . O espao da pgina branca, com seu estatutoambguo ao mesmo tempo imagem do nada e solo onde o versoaparece e se transforma, o domnio nocional vitalista com que JooCabral representa a criao, e, finalmente, a modalizao do processocriativo comointranquilo, (a desordem ou torta viso da alma no
estertor de criar , como dir Joo Cabral em poema de Museu detudo330), mostram um fazer potico bem diverso daquele no qual apgina branca o espao de uma antecipao projetual da obra,constituindo-se, assim, uma conduta caracterizada pela previsibilidade,pela constncia e pela tranquilidade. Nesse sentido, tanto a imagem deum processo onde o canteiro sobreposto ao projeto, quanto a de umatauromaquia, em que concorrem regra e risco, seriam maisconvenientes para figurar o fazer cabralino.
Neste terceiro captulo, gostaramos de aprofundar o tema daimprevisibilidade e da instabilidade do processo criativo atravs de
330 No poema Exceo: Bernanos, que se dizia escritor de sala de jantar , Obracompleta, op. cit., p. 413. Citamos a estrofe do poema qual pertencem os versosreferidos: Escrever estar no extremo/de si mesmo, e quem est/assim se exercendonessa/nudez, a mais nua que h,/tem pudor de que outros vejam/o que deve haverde esgar,/de tiques, de gestos falhos,/de pouco espetacular/na torta viso de umaalma/no pleno estertor de criar.
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
179/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
180/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
181/417
181
Da mesma maneira que a contemplao esttica, instantnea, aconveno a que se submete o contemplador desta pintura, o
estatismo, nascido daquela conveno, o que se poderia chamar seuestilo, o esprito de sua organizao. [...]Esse estatismo, imposto pela presena e pelos interesses da terceiradimenso [a profundidade], define a pintura renanscentista, que (aomenos a chamamos), hoje, a Pintura.334
Qual a resposta de Joan Mir a esse paradigma baseado sobreuma disposio e uma contemplaoestticas? Segundo Joo Cabral, emum primeiro momento, tratar-se-, no caso de Mir, de estabelecer umanova relaoentre objeto e moldura , abandonando-se o ponto focalda pintura renascentista. Nesta, o trabalho do pintor seria ummovimento pictrico que vai dos limites do quadro (de sua moldura)at um ponto focal principal, tendo como contraparte o movimentoinverso da contemplao que se concentra nesse ponto focal jestabelecido e se vai diluindo at a beira da superfcie pintada335.
Abandonando, portanto, em um primeiro momento, esse ponto decentralizao como medida, Mir teria, se noainda inventado umdinamismo (que acabaria por inventar), oposto ao estatismo da pinturarenascentista, teria ao menos descoberto o que Joo Cabral chama deuma certa forma de energia . Nas palavras do poeta:
Nessa poca, ainda distante do dinamismo posterior, o que Mirexplora no um ato temporal do espectador. mais bem uma formade energia, at ento no descoberta: a que pode advir da colocao deum figura numa posio tal, dentro da superfcie, que produz noespectador uma sensao de que ela vai se precipitar, mudar delugar336
334 Obra completa, op. cit., pp. 693-694.335 Idem, ibidem, p. 698.336 Idem, ibidem.
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
182/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
183/417
183
Assim, no primeiro momento de sua inovao pictrica, quandoabandona o ponto focal, carregando a figura com uma energia de
movimento, Joan Mir havia conseguido somente uma iluso dedinamismo. Porm, num segundo momento, segundo Joo Cabral, coma explorao da linha dentro de um espao de liberdade maior,soltando-a, o pintor espanhol logra um dinamismo perfeitamente real,na medida em que corresponde a umasensao que pode serverificada 340.
Tanto o abandono do ponto focal, quanto a explorao da linha
solta somente foram possveis, e essa a tese de Cabral que nosinteressa mais de perto aqui, devido ao fato de Joan Mir ter assumidouma atitude psicolgicadiferente das dos pintores renascentistas. Aexplicao dessa atitude psicolgica torna-se fundamental para acompreenso da inovao mironiana, conforme as palavras do poeta:
Mir parte, portanto, de uma atitude psicolgica. Se conseguirmosentend-la, teremos, a meu ver, a explicao de sua originalidade emrelao pintura posterior ao Renascimento.341
Qual a psicologia da composio renascentista e posterior a ela, equal a psicologia mironiana que a elas se ope? A atitude psicolgicados pintores da Renascena estava intrinsecamente ligada, segundoCabral, a um comportamento de reatualizao de um sistema pr-estabelecido de convenes. Exceto pelos primeiros pintores doRenascimento, diz o poeta, que eram obrigados a inventar soluespara problemas que lhes eram postos e o mnimo detalhe de suacomposio significava problema342 os outros que se lhe seguem no
340 Idem, ibidem, p. 703.341 Idem, ibidem, p. 711.342 Idem, ibidem, p. 707.
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
184/417
184
mais pesquisavam, mas aplicavam regras. o que se depreende daseguinte passagem:
O trabalho de criao era reduzido, da pesquisa de uma soluoconveniente, para a aplicao do que se sabe ser a soluao conveniente.A lei desintelectualizava o trabalho de criao, j que foi formuladapara que esse trabalho no tivesse de se repetir sempre.343
Ocorreu, ento, como afirma o autor, uma automatizao dogesto na composio renascentista, no somente entendida comorepetio das maneiras de fazer o gesto costumeiro da mo, mastambm como automatizao da sensibilidade a visualidadehabitual ao olho. O trabalho criativo de Joan Mir distingue-se justamente por se firmar em uma atitude psicolgica que nega talautomatizao, uma atitude psicolgica que reinventa, na liberdade, ogesto e o olho naturalizados pelo procedimento compositivorenascentista que estabeleciaa priori um espao (o esttico) e uma
relao (o equilbrio) para os elementos pictricos. Joo Cabral o dizexplicitamente, quando caracteriza a psicologia da composiomironiana:
Ela [o obra de Mir] me parece nascer da luta permanente, no trabalhodo pintor, para limpar seu olho do visto e sua mo do automtico. Paracolocar-se numa situao de pureza e liberdade diante do hbito e dahabilidade.344
Essa atitude psicolgica de Mir, que umesforo de desabituaoem relao a procedimentos naturalizados, se apia em um valor tornadocentral, o gosto pelo fazer , como afirma ainda Joo Cabral de Melo Netoem outra passagem do texto:
343 Idem, ibidem.344 Idem, ibidem, p. 711.
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
185/417
185
Em Mir, mais do que em nenhum outro artista, vejo uma enormevalorizao do fazer. Pode-se dizer que, enquanto noutros o fazer um meio para chegar a um quadro, para realizar a expresso decoisas anteriores e estranhas a esse mesmo realizar, o quadro, paraMir, um pretexto para o fazer. Mir no pinta quadros. Mirpinta.345
A atitude psicolgica de Mir, quer dizer, o negar a repetio dohbito visual e gestual e o afirmar a diferena de um gesto e um olholivres, calcada, portanto, na posio de um valor, o fazer pelo fazer . Essefazer intransitivo346 valoriza a efetuao indefinida, o inacabamento
perptuo e no a realizao completa, teleologicamente guiada, daobra. Ele, assim, esvazia o trabalho pictrico de uma finalidade objetualpr-determinada, diferentemente da prtica compositiva daRenascena, onde o paradigma de um quadro esttico e equilibrado aser realizado funcionava como norma. Na verdade, o pintar intransitivode Mir implica uma maior radicalidade:toda e qualquer norma anterior suprimida em prol de uma liberdade absoluta. Em Mir, no h,
segundo Cabral,nenhuma exigncia de uma substncia cristalizadaanteriormente , no existe nenhum sistema estabelecido de antemo queimplicaria um problema e uma resposta pictrica j dados e apenas re-atualizados no ato de pintar. o que se l na seguinte passagem:
No trabalho de Mir, [...] [uma] norma fixa de julgamento no existe.Nada existe exterior sua atividade. Nada a que ele confie seuproblema permanente, nenhuma frmula qual ele deixe a misso debuscar tal soluo, com a qual ele compara sua criao.347
345 Idem, ibidem, p. 711.346 preciso distinguir o fazer pictrico intransitivo de Mir (Mir no pinta quadros.Mir pinta ) da poesia intransitiva de Ren Char (Anti-char in Obra completa, op. cit.,p. 397). Na primeira trata-se de caracterizar a conduta do pintor espanhol como umfazer que tem como finalidade produzir estendendo ao mximo o processocompositivo. No segundo, trata-se de uma qualidade semntica da poesia de RenChar: sua poesia no diz a coisa, diz vazio;/nem diz coisas, balbucio. Quer dizer,nem define as coisas, nem as descreve: intransitiva.347 Idem, ibidem, p. 715.
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
186/417
186
Mir trabalha assim como um pintor despido de todo hbito, detoda norma, de todo projeto ou plano de obra pr-concebido. Pintar,
para Mir, segundo os termos cabralinos, inventar a pintura e isso acada instante de criao348.
O estado psicolgico preponderante dessa atitude, afirma ainda Joo Cabral, o de lucidez, entendida como um estado de julgamentopermanente 349. Mas tal julgamento no a avaliao do resultado emsua conformidade ou no com uma determinao anterior, quer dizer, acomparao do realizado com a norma ou lei prescribente. Em Mir,
escreve Cabral, cada gesto j um resultado(cada milmetro de linhatem de ser avaliado350), e a lucidez do julgamento e o rigor daexecuo incidem sobre cada momento do trabalho considerado por sis a fim de assegurar-lhe a liberdade de inveno.
No fim de seu ensaio, Cabral, por sugesto do prprio Mir, fazuso da noo vitalista por excelncia para caracterizar o trabalho dopintor catalo: a noo dovivo. Tal noo, segundo Cabral, indica bemo que busca sua [de Mir] sensibilidade, e por ela, sua pintura351 (p.718). O objeto dessa busca, o autor o explicita ligando-o a um espao-tempo completamente permeado pela imprevisibilidade, pelainstabilidade e pelo esforo permanente de assegurar a criao semamarras. Trata-se da descoberta de um territrio livre , assimcaracterizado pelo autor:
[um] territrio livre, onde a vida instvel e difcil, onde o direito depermanecer um minuto tem de ser duramente conseguido e essapermanncia continuamente assegurada.352
348 Idem, ibidem p. 717.349 Idem, ibidem, p. 716.350 Idem, ibidem, p. 717.351 Idem, ibidem, p. 718.352 Idem, ibidem.
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
187/417
187
Vimos, portanto, que dois tipos de trabalho criativo socaracterizados no ensaio sobre Mir, ou melhor, dois tipos de atitudes
psicolgicas. Primeiro, a renascentista, caracterizada por uma maneirahabitual do fazer, guiado por sistema normativo anterior e cujoresultado se avalia a partir de sua correspondncia ou no com o quefoi normatizado. Segundo, a mironiana, que caracteriza um fazerdespido de toda pr-determinao e cujos resultados so avalidos em simesmos, conforme seu grau de liberdade. No primeiro, o fazer teleolgico, j que tem como fim a atualizao do paradigma dado pela
lei, seguindo-se um trajeto j conhecido. No segundo, o fazer ilimitado, repetindo-se (na medida em que produz diferenas)continuamente, em direo a um no-sabido, a um resultado indito esempre provisrio.
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
188/417
188
3. 2. A ausncia de regras compositivas e oinacabamento da obra
O ensaioPoesia e composio (1952), por sua vez, trata dacomposio, no pictrica, como no ensaio sobre Joan Mir, maspotica, como o prprio ttulo informa. Na medida em que no definido, o conceito de composio nesse texto, tal como no ensaiosobre Mir, pressuposto, significando o ato de inventar e dispor vrias
partes em um todo, numa palavra, fazer . O objetivo principal do texto determinar as atitudes psicolgicas prprias ao trabalho de criaopotica, que o autor classifica em dois tipos, o trabalho inspirado e otrabalho de arte.
Antes de abordar, detidamente, as diferenas entre as duasfamlias de poetas, Joo Cabral considera o que h de comum emambas: o individualismo353. O individualismo , na verdade, umsintoma da condio histrica dos poetas contemporneos ao ensaio de Joo Cabral, escrito em 1952. Nessa condio, h uma dissociao entrecriao potica e valores artsticos sociabilizados, valores, no entanto,
353 Abel Barros Baptista,em seu ensaio O cnone como formao: a teoria daliteratura brasileira de Antonio Candido (in O livro agreste. Campinas: Editora daUnicamp, 2005), d o devido valor a esse individualismo sob uma perspectivadiferente da nossa. O autor reflete sobre o quanto tal posio individualista contrastacom a ideia de constituio de uma literatura propriamente brasileira, na medida emque apenas um conjunto de poticas individuais no basta para constituir umasensibilidade mais geral , e na medida em que o imperativo poitico de tal posio a emancipaocada vez maior de sua mensagem particular, em ruptura, portanto,com a tradio, mesmo modernista. Citemos uma passagem que contm o essencial dareflexo do crtico: A teleologia cabralina no nacional, individual a formaodo poeta no visa a prossecuo do Modernismo estabelecido rumo homogeneidadeda poesia brasileira: visa libertar-se dele tendo, porm, consequncias, e radicais,sobre a teleologia nacionalista: a descrio herica da vitalidade do Modernismoabriga o princpio da prpria runa, e no ponto programtico, aqui expressamenteaceito por Joo Cabral, da configurao duma poesia homogeneamente moderna ebrasileira. O herosmo do poeta inventivo, lutando pela prpria libertao, por si sprova do carter ilusrio dessa homogeneidade e testemunho da inexorabilidade desua destruio. (p. 54).
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
189/417
189
vigentes nas felizes pocas em que possvel circularem poticas eretricas354. pocas tais como o renascimento, tratada pelo autor no
ensaio sobre Mir. pocas em que vigoram normas que orientam tantoa produo dos poemas, quanto a sua recepo. Com respeito a estaltima, e para bem caracterizar o tempo das normatizaes, sua funo inequvoca, segundo os termos de Cabral:
A ele [o crtico] cabe verificar se a composio obedeceu adeterminadas normas, no porque a poesia tenha de ser forosamenteuma luta com a norma, mas porque a norma foi estabelecida para
assegurar a satisfao da necessidade [de comunicao]. O que sai danorma energia perdida, porque diminui e pode destruir a fora decomunicao da obra realizada.355
A composio contempornea, por individualista, isenta de todaregra universal, orienta-se por valores contrrios: no a comunicaosocial, mas a expresso original, no o preceito, mas a autenticidade.Aos valores sociabilizados, substituem-se os valores pessoais. Nas
palavras de Joo Cabral:
Ele [o poeta contemporneo] no est obrigado a obedecer a nenhumaregra, nem mesmo quelas que em determinado momento ele mesmocriou, nem a sintonizar seu poema a nenhuma sensibilidade diversa dasua. O que se espera dele, hoje, que no se parea a ningum, quecontribua com uma expresso original.356
Se a socializao do poeta, nas felizes pocas das rtoricaspassava por sua sintonia com um gosto universal , hoje suaautenticidade passa por sua fidelidade sem ser cega ao seu gostosubjetivo, nico. Antes, o poeta tinha modelos, reconhecidos por todos,que imitava. Hoje, ele modelo de si mesmo, e deve ser original. A
354 Obra completa, op. cit., p. 724.355 Idem, ibidem.356 Idem, ibidem.
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
190/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
191/417
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
192/417
192
O principal valor para o poeta inspirado , portanto, o estadopotico a exprimir, no o objeto poemtico a fazer. No h qualquer
motivo ou esquema pr-concebido, neste caso, no h tema objetivoposto. Assim, no interessa ao poeta inspirado a elaborao dalinguagem, nem a constituio de um referente, sejam objetos, sejamfatos sociais. Sua linguagem, na medida em que traduo o maisdireta possvel de uma experincia que acontece, no denotativa,antes evocatica, segundo Cabral, pautada mais notom , namusicalidade do que na apresentao analtica ou snttica,
intelectual , de um objeto qualquer362.No h, dessa forma,trabalho, nem arte na conduta criativa do
poeta inspirado, segundo Joo Cabral, se se entende por trabalho dearte o esforo de construir um poema a partir de uma auto-determinao refletida, quer dizer, intencionalmente.
Tal auto-determinao refletida o que caracteriza oscompositores de poesia pertencentes outra famlia. Para estes,conforme Joo Cabral, o comeo da composio voluntrio,deliberado. Nas palavras do autor, eles [os trabalhadores de arte] seimpem o poema e o fazem geralmente a partir de um tema, escolhido,por sua vez, a partir de um motivo racional363. Tais poetas, portanto,no valorizam um estado involuntrio a exprimir, mas um objeto opoema que se busca fazer, ainda que muitas vezes tal objeto
poemtico exprima uma certa experincia. Mas tal experincia serve dematria mediata, a ser expressa atravs de um trabalho lento deelaborao. Essa elaborao a da prpria linguagem de apresentaodo tema ou do objeto fixado refletidamente. O trabalho, o esforo decompor o valor fundamental na conduta criativa de tais poetas.
362 Idem, ibidem, p. 729.363 Idem, ibidem, p. 733.
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
193/417
193
H no ensaioPoesia e composio uma certa valorizao dafamlia dos trabalhadores de arte com relao ao poetas inspirados.
Prova-o, por exemplo, a avaliao feita pelo poeta, da fatura artstica dopoemas provindos seja de uma, seja de outra famlia. No caso dospoetas inspirados, segundo Cabral, a qualidade artstica seriainsuficiente:
literatura contempornea essa atitude [dos poetas inspirados] veiotrazer um desprezo considervel pelos aspectos propriamenteartsticos da poesia. Ela completamente incapaz de dar obra de arte
certas qualidades como proporo, objetividade.364
Esses mesmo elementos proporo, objetividade etc so, poroutro lado, encontrveis nos poemas dos poetas trabalhadores de arte,que valorizam, mais que os inspirados, a fatura artstica:
[...] no se pode negar que essa atitude [dos trabalhadores de arte]pode contribuir para uma melhor realizao artstica do poema, podecriar o poema objetivo, [...] e, ao mesmo tempo, pode fornecer dohomem que escreve uma imagem perfeitamente digna do ser quedirige sua obra e senhor de seus gestos.365
No entanto, pode-se depreender do texto de Cabral, que essaimagem do poeta que trabalha com arte comodiretor de sua obra esenhor de seus gestos , seja ilusria, devido a duascontradies queenvenenam tal conduta criativa.366
A primeira contradio tem a ver com a inexistncia, de fato, deleis que orientem a execuo do poema, e que lana o poeta numacompleta ignorncia de seu fins. o que se pode ler na seguintepassagem:
364 Idem, ibidem, p. 729.365 Idem, ibidem, p. 733.366 Idem, ibidem, p. 734.
-
7/25/2019 2011_FranciscoJoseGoncalvesLimaRocha
194/417
194
[as] leis que ele [o poeta trabalhador de arte] cria para o seu poema notomam a forma de um catecismo para uso privado, um conjunto denormas precisas que ele se compromete a obedecer. Ao escrever eleno tem nenhum ponto material de referncia. Tem apenas suaconscincia, a conscincia das dices de outros poetas que ele querevitar, a conscincia aguda do que nele eco e que preciso eliminar, aqualquer preo. Com a ajuda que lhe poderia vir da regrapreestabelecida ele no pode contar ele no a tem. Seu trabalho assim uma violncia dolorosa contra si mesmo, em que ele se cortamais do que se acrescenta, em nome ele no sabe muito bem do que.367
Na passagem acima, o fazer dos poetas trabalhores de arte serepresenta atravs do domnio nocional da negatividade e da reduo:
o poeta quereliminar os ecos de outras dices, elese corta mais do quese acrescenta. H aqui, evidentemente, indcios de umapoticanegativa , ou poesia do menos bem descritas, respectivamente, porBenedito Nunes e Antonio Carlos Secchin (videsupra 1 captulo desta2 parte). Mas preciso atentar tambm para a modalidade epistmicado enunciado: o poeta, no tendo um ponto material de referncia,uma re