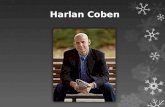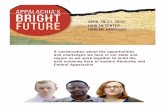HARLAN, David. A história intelectual e o retorno da literatura
-
Upload
darcio-rundvalt -
Category
Documents
-
view
304 -
download
0
Transcript of HARLAN, David. A história intelectual e o retorno da literatura
-
A HISTRIA INTELECTUAL E O RETORNO DA LITERATURA
David ~ a r l a n *
Havia um tempo em que os historiadores pensavam haver escapado ao "meramente literrio", um tempo em que eles haviam estabelecido os estudos histricos no slido fundamento do mtodo objetivo e do argu- mento racional. No entanto, os recentes avanos em crtica literria e em filosofia da linguagem solaparam esta confiana. Agora, aps uma ausn- cia de cem anos, a literatura volta histria, montando seu circo de met- fora e alegoria, interpretao e aporia, trao e signo, exigindo que os his- toriadores aceitem sua presena zombeteira bem no corao daquilo em que, insistiam eles, consistia sua disciplina prpria, autnoma e verdadei- rahente cientifica.'
* Professor do Departamento de Histria da California State University, San Lus Obispo. Traduo do ingls de Jos Antonio Vasconcelos.
Este artigo foi escrito para John Patrick Diggins. Eu no estou certo se ele concorda com o argumento que desenvolvi aqui, mas todas as questes so dele. Eu tambm gostaria de agradecer S.A.M. Adshead, George Cotkin, Robert Fitz- simmons, Allan Megill e Leonard Wilcox, por terem despendido tempo lendo este ensaio, por me ajudarem a melhor-lo, e por me salvarem de inmeros erros crassos.
I A descrio clssica da volta da linguagem a Grarnatologia, de Jacques Derrida. Como Derrida observou no captulo inicial, "nunca tanto como no pre- sente [a linguagem] tem invadido, como tal, o horizonte global das pesquisas mais diversas e dos discursos mais heterogneos, diversos e heterogneos em sua funo, mtodo e ideologia". Of Grainmatology. Baltimore, 1974, p. 6. Para uma discusso provocativa sobre a volta da literatura especificamente para a
-
16 A histria intelectual e o retorno da literatura
O retomo da literatura mergulhou os estudos histricos numa pro- funda crise epistemolgica, questionando nossa crena num passado fixo e determinvel, comprometendo a possibilidade de representao histri- ca e abalando nossa habilidade de nos localizarmos no tempo. O resulta- do disso tudo, acredita-se, tem sido uma reduo do conhecimento hist- rico a um tecido de tramas e retalhos, constituindo uma ausncia essenci- al. Este ensaio descreve a volta da literatura histria, examina as respos- tas de alguns historiadores de destaque, e sugere caminhos a serem toma- dos a partir daqui.
O retorno da literatura foi preparado, a princpio, por Ferdinand de Saussure, com sua insistncia em que a linguagem constitui e articula a realidade, ao invs de refleti-la ou express-la. Depois de Saussure, o significado tornou-se uma funo do sistema lingustico, com suas regras fixas e pares de oposies, ao invs de algo a ser descoberto na natureza ou no passado. O ps-estruturalismo apareceu no final dos anos 60 como uma tentativa de substituir o sistema lingustico de Saussure, firme, est- vel e fechado, por uma concepo de linguagem instvel, aberta e proti- ca. Os ps-estruturalistas atacaram primeiramente o entendimento saussu- remo do signo como a unio entre uma palavra (o significante) e a idia ou objeto por ela representado (o significado).' Para Jacques Derrida, Roland Barthes e outros, esta unidade presumida no passa de uma fic- o: os significantes no esto ligados aos significados; eles meramente apontam para outros significantes. No lugar de um sistema estruturado, gerando significados fixos, ficamos com uma cadeia infinita de signifi- cantes, nos quais o sentido sempre postergado, e finalmente ausente. No h um ponto de refernc4extern0, no h uma ltima palavra, no h um "significado transcendental" que estabelea o sentido, garantindo- o de uma vez por todas. H somente a atuao incessante e no mitigada
histria, CJ Linda Orr. "The revenge of literature: a History of History". New Literary History, 18, Autumn 1986, p. 1-22.
A crtica de Demda e dos lingistas estruturalistas pode ser encontrada em seu "Structure, Sign and play in the discourse of the Human Sciences", em Jac- ques Derrida. Writing and Difference. Chicago, 1978, p. 278-93; e em Derrida, Grammatology, p. 27-73.
-
dos significantes - significantes libertos da tirania do significado, signifi- cantes no mais acorrentados ao esquema estruturalista de regras e oposi- es. Desligadas de fundamento e aliviadas de seus fardos referenciais, as palavras tornaram-se proticas e incontrolveis. Como explicou Derrida, "isto, estritamente falando, resulta na destruio do conceito de 'signo' e de toda sua
Se o signo e a referncia foram as primeiras vtimas do ps- estruturalismo, a narrativa foi a segunda.4 Os historiadores sempre toma- ram por princpio que uma narrativa, especialmente uma narrativa hist- rica, continha um sentido fixo e determinvel: a viso do autor sobre este ou aquele tpico, uma expresso de personalidade ou carter, alguma representao do mundo no qual o autor vivia, e assim por diante. Eles geralmente tentavam capturar o sentido "sentindo-se dentro" da narrativa, tentando nela experienciar toda a concretude e particularidade do autor, da idia ou do perodo por ela supostamente representados. Mas esta no- o tradicional de narrativa foi fatalmente comprometida pela fuga dos significantes de seus significados controladores e de seu sistema de opo- sies subjacente. Como resultado desta fuga, as palavras tomaram-se proticas e prolficas. / Na histria de Donald Barthelme, A Picture History of the War, o general exclama: "Existem vermes nas palavras. Os vermes nas palavras so como feijes mexicanos saltitantes, agitados pelo calor da b ~ c a ! " . ~ Pelo fato de que as narrativas so feitas de palavras, tambm
Derrida. Grammatology, p. 7. Eu exagerei a oposio estruturalismo/ps- estruturalimo de modo a destacar as diferenas cruciais entre ambos. Na verda- de, a fuga possvel dos significantes, sua tendncia em decolar e assumir uma vida prpria" tem preocupado os acadmicos pelo menos desde o Renascimento. C$ Adena Rosmarin. "On the Theory of "Against Theory"'. Critical Inquivy, 8, Summer 1982, p. 778-79.
4 CJ: Hayden White, The Content of the Form: narrative discourse and his- torical representation (Baltimore: 1987); Paul Ricoeur. Time and Narrative, 3. vols. (Chicago: 1984-88); com J.T. Mitchell. On narrative. Chicago: 1981, uma importante coleo de artigos que apareceu originalmente em Critical Inquiry; e Wallace Martin. Recent Theories of Narrative. Ithaca, 1987.
Donald Barthelme. "A picture history of the war", em Barthelme. Unspeak- able Practices, Unnatural Acts. New York: 1968, p. 142. Antes, nesta mesma
-
18 A histria intelectual e o retorno da literatura
elas comeam a gerar leituras mltiplas e sentidos divergentes. Aquilo que havia sido consistente, unificado e auto-suficiente, torna-se subita- mente "diversificado, mltiplo e repleto de contradies". A narrativa coerente, sustentando um sentido nico, determinado e constatvel, torna- se "dispersa em nuvens de partculas lingsticas ... cada uma com sua prpria valncia pragmtica".6
Historiadores so pessoas cticas. Para eles cada um deveria guiar- se confiando no prprio nariz, como um co de caa. Eles receiam que, uma vez deixando-se distrair por uma teoria, eles passaro seus dias a vagar por um labirinto cognitivo do qual no encontraro o caminho que os conduza sada. A crtica literria certamente o pior destes labirin- tos, especialmente em sua verso ps-moderna.7 Os historiadores desviam seus olhos, mas o pouco que vem confirma seus mais terrveis temores: a teoria literria esotrica, subversiva, anarquista - algo que se deveria evitar como uma questo de higiene intelectual. Como o editor do Criti- cal Inquiry explicou recentemente, pessoas de senso comum tipicamente consideram a teoria literria como profissionalmente indecorosa, politi- camente sem efeito, moralmente niilstica, cognitivamente inconseqente, estilisticamente hedionda e intelectualmente perigosa. Ela percebida como uma inveno estrangeira (especialmente francesa), uma moda passageira, uma sacola de truques facilmente domesticvel, e. uma tenta- o inexplicvel para os j o ~ e n s . ~ histria, Barthelme apresenta o exasperado general inquirindo a ningum em particular: "Por que a linguagem me subverte, subverte minha alta posio, mi- nhas medalhas, minha idade avanada, sempre que tem uma chance? O que a linguagem tem contra mim - eu que te o sido bom para ela, respeitando suas P pequenas particularidades por sessenta anos?" ibid. p. 139-40. ' Jean-Franois Lyotard, The Postrnodern Condition. Minneapolis: 1984, p.
xxiv. Para uma breve mas interessante discusso sobre porque o ceticismo lin-
gustico vai muito alm do ceticismo ideolgico, e por que os historiadores se sentem to pouco vontade com "a coisa da linguagem", Cf Hans Kellner. "A bedrock of order: Hayden White's linguistic humanism". History and Theory, 19, 1980, p. 12 e seguintes.
Tom Mitchell, 'The golden age of criticism: seven theses", ensaio lido na Universidade de Canterbury, em julho de 1987. Richard Rorty atribuiu a obser-
-
Duvid Hurlan 19
Contudo, a crtica literria ps-moderna tornou-se to poderosa e influente numa srie tal de disciplinas,' e levantou um nmero to grande de questes perturbadoras acerca dos fundamentos conceituais da prpria histria, que os historiadores no podem mais ignor-la. Especialmente historiadores intelectuais. Como disciplina responsvel por manter viva nossa memria cultural e nossas tradies intelectuais, a histria intelectual que mais tende a perder na anlise ps-moderna da representao e da narrativa.
A mais influente tentativa recente de reconstruo da histria inte- lectual foi feita por Quentin Skinner e J. G. A. Pocock. Skinner escreveu diversos estudos importantes sobre o pensamento poltico nos primrdios da Idade Moderna, e uma srie de ensaios metodolgicos. Estes escritos tm sido largamente influentes, as crticas a eles geralmente ineficazes, e suas tentativas de reconstruo da histria intelectual aparentemente bem sucedidas; tanto que talvez devssemos ceder ante sua alegao de haver estabelecido "uma nova ortodoxia" entre os historiadores das idias.'' Esta nova ortodoxia foi erigida sobre dois alicerces. O primeiro o reco- nhecimento por parte de Skinner de que os recentes avanos em filosofia da linguagem e em filosofia da cincia - especialmente os trabalhos de
vao acerca da higiene intelectual a um "filsofo analtico de distino"; Rorty. Consequences ofpragmatism: essays, 1972-1980. Bringhton: 1982, p. 224.
~ ~ u i J. Hillis Miller est descrevendo o "triunfo" contemporneo da filoso- fia: "A teoria agora to dominante em todo lugar na escrita e no ensino das humanidades e das cincias sociais que seria melhor falar de um triunfo univer- sal da teoria ao invs de qualquer resistncia efetiva a ela. Isto verdade a des- peito das denncias que continuam a aparecer, por exemplo, na media ... O que eu quero dizer com "triunfo da teoria"? Eu quero dizer o que bvio de todos os lados, no somente a atenio agora dada teoria literria mesmo pela media, mas a imensa proliferao de ensaios, livros, teses, novas coletneas, novos I peridicos, disciplinas, currculos, programas, corpos docentes, conferncias, simpsios, grupos de estudo, institutos, centros e "centros de pesquisa focaliza- da" tudo dedicado teoria crtica. uma parafernlia gigantesca de esforo intelectual coletivo". Miller. "But are things as we think they are?Times Liter- ary Supplement, 4410, October, 9-15, 1987, p. 1104.
'O Quentin Skinner, "Hermeneutics and the role of history". New Literay History, 7, 1975-76, p. 214.
-
20 A histria intelectual e o retorno da literatura
Willard Quine, Thomas Kuhn, Paul Feyerabend e outros - solaparam a possibilidade de construo de uma estrutura de conhecimento emprico sobre qualquer base que se pretenda independente ou anterior interpre- tao. O resultado tem sido um retrocesso macio do empirismo - um retrocesso ocorrido em praticamente todas as cincias humanas."
O segundo alicerce consiste numa hermenutica essencialmente romntica.I2 Desde suas origens na mitologia grega at seu refinamento na erudio bblica do sculo XIX e sua emergncia como uma especiali- dade acadmica, o principal objetivo da hermenutica romntica tem permanecido constante: a recuperao da inteno do autor. A apropria- o por Skinner da hermenutica levou-o a insistir em que a primeira responsabilidade do historiador reconstituir as "intenes primrias" do autor, onde a mensagem real do texto ser encontrada.13
' l Quentin Skinner (ed.). The Return of Grand Theory in the Human Sci- ences. Cambridge: 1985, p. 1-20.
12 "No pode haver dvida que a influncia da tradio hermenutica em ge-
ral desempenhou um papel esclarecedor na ajuda da propagao da idia'de interpretao como essencialmente uma questo de recuperar e apresentar o significado de um texto". Skinner. "Hermenuticas and the role of history", p. 214.
l 3 Skinner considerava o "conhecimento de tais intenes" como "indispen- svel"; "Hermeneutics and the role of history", p. 21 1. Isto a que Martin Jay se referiu como "a iluso de que os textos sejam meramente intencionalidades con- geladas esperando para ser re-experienciadas em uma data futura"; Jay. "Should intellectual history take a linguistic turn? Reflections on the Habermas-Gadamer debate". in: Dominick LaCapra and Steven Kaplan, (orgs.) Modern European Intellectunl History: reappaisals and /;w perspectives (Ithaca: 1982) "p. 106. Esta abordagem dos textos primeiramente sofreu o ataque dos New Critics nas dcadas de 1930 e 1940. Para uma defesa recente, cJ: Steven Knapp e Walter Benn Michaels, "Against Theory". Critical Inquiry, 8, Summer, 1982, p. 723-42; as rplicas crticas no vol. 9, June, 1983 e vol. 11, March, 1985; e Steven Knapp c Walter Bcm Michaels, "Against Theory 2: hermeneutics and deconstruction". Critica1 Inquiry, 14, Autumn, 1987, p. 49-68. Os seguidores de Leo Strauss naturalmente nunca desistiram da esperana de recuperar a inteno do autor. C$ a discusso de Gordon Wood a respeito dos esforos de Strauss em recuperar a "inteno original" dos Fundadores em "The fundamentalists and the constituti- on". New York Review ofBooks, 25, February 18, 1988, p. 33-40.
-
David Harlan 21
De modo a recuperar a inteno do autor, os historiadores devem reconstruir o mundo mental no qual o autor escreveu seu livro - todo o conjunto de princpios lingusticos, convenes simblicas e suposies ideolgicas nas quais o autor viveu e pensou. Somente fixando o texto do autor neste contexto elaboradamente reconstrudo que os historiadores podem esperar recuperar "tudo o que pode ter sido tencionado". Em "Hermeneutics and the role of history", Skinner condensou suas prescri- es num nico silogismo:
"1 Ns devemos recuperar as intenes do autor ao escrever, de modo a entender o significado aquilo que ele escreve. 2. Para recuperar tais intenes ... essencial cercar o texto da-
do com um contexto apropriado de suposies e convenes a partir das quais o exato significado pretendido possa ser de- codificado.
3. Isto leva crucial concluso de que um conhecimento destas suposies e convenes deva ser essencial ao entendimento
9, 14 do sentido do texto .
As prescries de Skinner podem ter-se tornado a "nova ortodoxia" entre os historiadores intelectuais, mas como todo homem de igreja sabe, ortodoxias geram hereges. Neste caso os apstatas parecem ser, no dizer de Skinner, "os formalistas de Yale e seus vrios aliados filosficos", ou seja, os ps-estruturalistas. E eles parecem estar ganhando adeptos entre as fileiras dos prprios aliados de Skinner, "um recente nmero de teri- cos em hermenutica", abertamente exibindo "uma curiosa tendncia" para adotar "os pressupostos dos forma~istas."'~ Em "Hermeneutics and the role of history", Skinner atacou os ps-estruturalistas diretamente, condenando sua "anlise crua", descartando-os como "confusos".
O que Skinner repudia nos ps-estruturalistas, naturalmente, sua teoria da linguagem. Para Denida, Michel Foucault, Paul de Man e ou- tros, a linguagem um sistema autnomo que constitui mais do que refle-
14 Skinner, "Hermeneutics and the role of history", p. 216. l 5 Skinner, "Hermeneutics and the role of history", p. 213.
-
22 A histria intelectual e o retorno da literatura
te; um mecanismo de auto-transformaes no intencionais e auto- notificaes irrestritas, e no um conjunto de significados estveis e refe- rncias externas.16 E intertextual, ao invs de intersubjetiva, escrevendo seus prprios significados acumulados sobre os desejos e intenes do autor. O paradigma da linguagem para os ps-estruturalistas , portanto, no a fala, mas a escrita, com o seu autor, ausente, sua audincia desco- nhecida, e seu texto sem regras vomitando suas mltiplas significaes, conotaes e implicaes.
Este entendimento de linguagem tem pelo menos duas implicaes imediatas para a histria intelectual. Primeiramente ele sugere que o su- jeito desta disciplina, um sujeito que pensa, deseja, tenciona - o autor de textos clssicos, como na teoria poltica - desapareceu, sua biografia reduzida a no mais que um outro texto, a autoridade na qual ela repousa em ainda outro texto, a autoridade deste em novamente um outro texto, e assim por diante, ad infinitum. Donde, portanto, "a morte do autor".17 Em segundo lugar, se o autor desapareceu, o texto tambm; como uma enti- dade autnoma e discreta, com um significado determinado e discernvel, este tambm foi dissolvido pela intertextualidade. Para os ps-
'%u no pretendo sugerir que no existam diferenas significativas entre Derrida, Foucault e De Man acerca da natureza da textualidade. Para uma dis- cusso sobre as diferenas entre Derrida e Foucault a este respeito c$ Edward Said. "The problem of textuality: two exemplary positions". Critica1 Inquiuy, 4, 1978, p. 673-714. Paul de Man estava especialmente preocupado em preservar algo da capacidade referencial da linguag ; c$ de Man, Allegories of Reading: F' Jigural language in Rousseau, Nietzsche, Rilke and Proust. New Haven: 1970, para sua tentativa em identificar os limites da desconstruo. Os captulos sobre Rousseau so especialmente importantes a este respeito.
" C$ Roland Barthes, "The death of the author", em Stephen Heath (org.) Zmage, Music, Text: Roland Bauthes, London, 1977. "Os nomes de autores e doutrinas no tm aqui valor substancial. Eles no identificam nem identidades nem causas. Seria frvolo pensar que 'Descartes', 'Leibniz', 'Rousseau', 'He- gel', etc. so nomes de autores, dos autores de movimentos ou deslocamentos que ns assim designamos. O valor individual que eu atribuo a eles primeira- mente o nome de um problema"; Derrida. Of Grammatology, p. 99.
-
estruturalistas, o texto permanece significante precisamente porque eclip- sa e transcende as intenes do autor.''
Mas Skinner acredita poder escapar disso tudo pensando a lingua- gem como fala ao invs de escrita, isto , utilizando a teoria dos atos da fala.'' A teoria dos atos da fala afirma, primeiramente, que a fala o mo- delo paradigmtico para todo uso da linguagem; em segundo lugar, que os atos da fala so intersubjetivos, e no intertextuais; em terceiro lugar, que os atos da fala so atos sociais, que eles ocorrem em situaes sociais concretas das quais derivam seu significado; em quarto lugar, que os atos da fala so atos nos quais os agentes propositadamente manipulam a lin- guagem de maneira a realizar certas aes - eles comandam, eles afir- mam, eles prometem. Em outras palavras, os atos da fala (e por extenso, todas as sentenas) so aes humanas intencionais que ocorrem em situ- aes sociais especficas.
Se a teoria dos atos da fala pudesse ser aplicada histria intelec- tual, como acredita Skinner, ela poderia prover o fundamento conceitual a partir do qual o nosso entendimento tradicional de histria pudesse ser defendido contra o massacre do criticismo ps-estruturalista. A teoria dos atos da fala poderia defender a histria intelectual de quatro diferentes maneiras.
Primeiramente, a importncia que a teoria dos atos da fala d ao contexto no qual as expresses vocais so feitas significa que os textos e os seus significados seriam ancorados no alicerce de situaes histricas
l 8 E porque ele transcende e eclipsa o discurso no qual foi escrito. Derrida argumentou que "o texto constantemente vai alm desta representao [a repre- sentao do historiador acerca do 'prprio' discurso do texto] por todo o sistema de suas fontes e suas prprias leis". Alm disso, "a questo da genealogia [do texto] excede de longe as possibilidades presentemente dadas por sua elabora- o"; Derrida. Of Gvammatology, p. 101.
l9 ~ a n t o quanto Pocock. Cf: Pocock, "An appeal from the new to the old whigs? A note on Joyce Appleby's ideology and the history of political thought". Intellectual History Newsletter, 3, 1981, p. 47. Os trabalhos clssicos sobre a teoria dos atos da fala so J.L. Austin. How to Do Things With Words. Cambridge: 1963; e John Searle. Speech acts: An E s s q in the Philosophy of Language. London : 1972.
-
24 A histria intelectual e o retorno da literatura
especficas; isto poria um fim aos significantes livres e flutuantes e a toda a incerteza por eles trazida. Em segundo lugar, a linguagem reassumiria sua anterior natureza transparente e uma vez mais se colocaria ao dispor do olhar objetivo do historiador. Exatamente como estvamos acostuma- dos a fazer antes da chegada dos ps-estruturalistas, ns podamos ler um texto histrico e perscrutar atravs de sua linguagem como se estivsse- mos olhando atravs de uma janela, descobrindo todo tipo de coisa sobre o autor e o mundo no qual o autor vivia, quase como se tivssemos nos tomado um dos espies de Deus. Em terceiro lugar, pelo fato de que a teoria da fala focaliza os sujeitos intencionais fazendo algo (falando ou escrevendo) - porque intersubjetiva ao invs de intertextual - ela pro- mete resgatar os autores do esquecimento ao qual o ps-estruturalismo os consignou. Em quarto lugar, e derivando diretamente do que foi dito aci- ma, se a teoria dos atos da fala pudesse ser aplicada histria intelectual, ela reinstalaxia a inteno autoral como primeira preocupao dos histori- adores. Mas isto tudo daria certo?
A resposta no. Basicamente, a teoria dos atos da fala trata da fala e no da escrita. Os atos da fala so eventos localizados em pontos especficos no tempo e em contextos scio-culturais concretos. Aquele que fala e aquele que ouve esto imediatamente presentes um ao outro, e partilham uma realidade comum qual os significantes podem se referir e se incrustar instantaneamente. Por estas razes, a referncia nos atos da fala no tida como problemtica.20 Skinner considera que o mesmo
20 Mas precisamente este "fonocentrismo", este privilgio da fala sobre a escrita, que Derrida atacou to vociferadamente. Derrida quer reduzir a fala a uma espcie de escrita, uma "archi-criture". Ele quer formular "uma nova situao para a fala", para obrigar "sua subordinao dentro de uma estrutura da qual ela no mais ser o arconte". De fato, em Gramatologia, ele chegou a de- clarar "a morte da fala" (8). Seu ataque mais expltcito a Austin e teoria dos atos da fala foi em "Signature Event Context". Glyph, I, 1977, p. 172-97. Mas cf: a defesa de John Searle em "Reiterando as diferenas", Glyph, I, 1977, p. 198- 208; e a resposta de Derrida, "Limited Inc abc, Glyph, 2, 1977, pp. 162-254. Este debate levantou um grande interesse. Comentrios podem ser encontrados em Gayatri Chakravorty Spivak, "Revolutions that as yet have no model", Dia-
-
David Harlan 25
verdade para a escrita, que esta pode ser considerada anloga fala, e que a escrita meramente transcreve graficamente a fala, ou que escrita fala, um tipo de fala congelada, uma fala graficamente fixada. Claramente, porm, este no o caso: fala no o mesmo que escrita, escritores no so o mesmo que pessoas falando, e leitores no so a mesma coisa que ouvintes; o leitor do escritor no anlogo ao ouvinte daquele que fala. No h dilogo entre escritor e leitor: o leitor no interroga o escritor, e o escritor no responde ao leitor. Como explicou Paul Ricoeur em Herme- neutics and the Human Sciences, "o leitor est ausente do ato de escrever; o escritor est ausente do ato de ler. O texto produz portanto um duplo
3 , 21 eclipse de leitor e escritor . E se a realidade comum partilhada pelo que fala e pelo ouvinte no pode ser transferida ao escritor e leitor, e signifi- cantes no podem, portanto, ser fundamentados no ato da sugesto, da insinuao (como se d nos atos da fala), ento a referncia e a represen- tao tornam-se altamente problemticas. Uma vez que o texto encontra- se liberado da referncia autoral, ele tambm liberado da inteno auto- ral. Dessa maneira o autor se desvanece, suas intenes desaparecem, e o texto comea a oferecer possibilidades que seu autor pode jamais sequer ter imaginado.
exatamente nesse ponto que o trabalho de Hans Georg Gadamer torna-se importante para os historiadores. Conforme vimos, a hermenu- tica da qual Skinner apropriou-se era basicamente uma hermenutica romntica do sculo XIX, concebida e dirigida num nico sentido: o res- gate da inteno do autor. Ela requer que os historiadores se aproximem do texto com as mentes to abertas e livres de preconceito quanto poss- vel, e tentem entender o texto em seus prprios termos, e no nos termos peculiares s suas prprias situaes. Em outras palavras, ela requer que os historiadores se transportem para dentro da cultura e da mente do au- tor. Em Truth and Method, Gadamer oferece uma crtica devastadora de
critics, 10, 1980, pp. 29-49; e Christopher Norris Deconstruction: theory and practice. London: 1982, p. 108-15.
21 Paul Ricoeur. Hermeneutics and the Human Sciences. Cambridge: 1981, p. 146. Nas palavras de Derrida, "a escrita o nome destas duas ausncias"; Of Gramatology, p. 40-41.
-
26 A histria intelectual e o retorno da literatura
todo este projeto.22 Gadamer mostrou primeiramente que os historiadores no podem despir-se de seus preconceitos e parcialidades de modo a pro- jetar-se nas mentes de seus autores porque os preconceitos do historiador so o que faz o entendimento possvel em primeiro lugar. Estes precon- ceitos no so simplesmente obstculos a serem superados ou descarta- dos; eles constituem os pr-requisitos para o entendimento, ainda que simultaneamente limitem seu potencial de alcance. Os historiadores esto incrustados em suas prprias tradies histricas; seu entendimento de um documento em particular faz-se possvel pela (e circunscrita a) sua posio nesta tradio. "A histria no nos pertence", escreveu Gadamer, "ns pertencemos a ela." "A conscincia do indivduo no passa de um piscar nos circuitos fechados da vida histrica. Eis porque os preconcei- tos do indivduo constituem a realidade histrica de seu ser."23 Ns nos aproximamos do passado ento, no num estado de virgindade histrica, mas com todas as suposies, pressupostos e preconceitos que no s fazem de ns pessoas reais, localizadas numa tradio histrica particular, mas tambm toma possvel uma aproximao imaginativa a outros tem-
24 pos. -, I A segunda questo em Gadamer que o texto a ser interpretado
tambm est incrustado numa tradio histrica particular - no a tradi- o na qual o texto foi escrito (jamais poderemos recuper-la) mas a tra- dio de interpretao que cresceu em tomo do texto desde que ele foi escrito.25
22 Para uma crtica humorstica mas mordaz deste projeto, cJ: a histria "Pier- re Menard, Author of Don Quixote", de Jorge Luis Borges, em Fictions. New York: 1962, p. 42-51.
23 Hans Georg Gadamer. Truth and Method. New York: 1975, p. 245. " Gadamer reconheceu que a identificao de preconceitos "legtimos" um
dos problemas "fundamentais" da hermenutica. Gadamer, "Prejudi-as condi- tions of understanding", que compreende a Parte Dois de Truth and Method. CJ: a primeira parte desta seo, "The rehabilitation of authority and tradition". pp. 245-253.
25 Gadamer referiu-se a isto como "sua realidade de ser experienciada cons- tantemente renovada"; Truth and Method, p. xix. A posio de Gadamer, como destaquei aqui, , em algumas maneiras, uma extenso da insistncia de Martin
-
David Harlan 27
Skinner, em contraste, argumentou que podemos despir o texto de seus significados acumulados, reconstruir a situao histrica em que ele foi inicialmente escrito, reinserir o texto em seu contexto reconstrudo, e ali discernir seu sentido inerente. Ele queria "repristinar" o texto. Mas a anlise de Gadamer mostra ser isso impossvel; o texto no pode nunca ser separado das interpretaes atravs das quais ele chegou a ns, inter- pretaes que agora "constituem a realidade histrica de seu ser". Enten- der um texto significa entender sua histria efetiva. Pretend-lo de outro modo transformar o texto, que "cresceu e foi transmitido historicamen-
,r 26 te" em "um objeto de fsica . Gadamer consegue ser bastante incisivo a esse respeito:
"a reconstruo das circunstncias originais, como toda restau- rao do tipo, consiste numa realizao sem sentido, tendo em vista a historicidade de nosso ser. O que reconstrudo, uma vida trazida do passado perdido, no a original. Em sua con- tinuao num estado alienado, ela adquire comumente uma e- xistncia cultural secundria ... mesmo a pintura retirada do museu e recolocada na igreja, ou uma construo restaurada sua condio original j no so mais o que eram antes - tor- nam-se simplesmente atraes tursticas. De modo semelhante, uma hermenutica que considera o entendimento como a re- construo do original no seria mais que a recuperao de um
7 , 27 significado morto . _j
A crtica de Gadamer foi a ponta de lana daquilo que Skinner agora reconhece como uma "recusa crescente ... a recuperar o significado
Heidegger sobre a historicidade do texto, sua insistncia de que tanto o texto quanto nosso entendimento deles so irremediavelmente histricos. C$ a discus- so de Richard Rorty sobre Heidegger em "Overcoming the tradition: Heidegger and Dewey", Consequences of Pragmatism: essays, 1972-1980. Bringhton: 1982, p. 37-59.
26 Rorty, Consequences of Pragmatism, xxi. 27 Rorty, Consequences ofPragmatism, 149. David Hoy fez a mesma obser-
vao: o significado no algo dado, um em-si-mesmo, que somente precisa ser desdobrado7', isto , ao invs, "condicionado por sua histria de recepo e in- fluncia"; Hoy. he Critical Circle. Berkeley: 1978, p. 103 e 93. T
-
28 A histria intelectual e o retorno da literatura
3, 28 pretendido como qualquer parte da tarefa do intrprete . Em meados dos anos 80, Skinner encontrou-se chamado a defender uma posio que no mais que dez anos antes ele havia intitulado de "a ortodoxia emer- gente." Como se pode esperar, suas declaraes recentes tm tido um tom progressivamente defensivo sobre suas posies. Ele parece sitiado, como se tivesse armado uma barricada em tomo de seu escritrio, escrevendo detrs de seus arquivos virados de ponta-cabea. Ele acusa "subversivos com propsitos diversos", que "procuram demolir as alegaes da teoria e do mtodo de organizarem os materiais da experincia", de terem planta- do "as dvidas filosficas proliferantes", e "as objees morais que tm sido levantadas em anos recentes." E ele previne que estas "ameaas aos fundamentos das cincias humanas" confrontam-nos com nada mais que
9, 29 "o espectro do relativismo epistemolgico .
A situao crtica na qual a histria intelectual agora se encontra ainda mais aparente no recente trabalho de J. G. A. Pocock. Tal como Skinner, ele tem realizado grandes contribuies tanto para a prtica co- mo para a teoria da histria. Tambm como Skinner, ele comeou sua carreira como integrante do grupo da Universidade de Cambridge que inclua Peter Laslett e John Dunn. Numa srie de livros e artigos brilhan- tes que comearam a aparecer em meados dos anos sessenta, o grupo de
28 Skinner, Return of the grand theory to the human sciences, p. 8. 29 skinner. Return of the grand theory to the hurnan sciences, p. 1-20, pas-
sim. Ouve-se historiadores verbalizando este tipo de reao alarmista cada vez mais hoje em dia. James Kloppenberg recentemente preveniu seus colegas que os desenvolvimentos em crtica literria ameaam "por fim a todo intercmbio crtico", que o significado em si mesmo - "todos os significados" - iro breve- mente "desmoronar na ininteligibilidade". A teoria literria contembrnea sim- plesmente "faz a escrita da histria impossvel"; Kloppenberg, "Deconstruction and hermeneutic strategies for intellectual history". Intellectual Histoly Newslet- ter, 9, April 1987, p. 7, 10. Stantely Fish discutiu tal "medo da teoria" em "Con- sequences", Critical Inquiry, 11, 1985, p. 439 e seguintes. Para uma sugesto de que o "medo da teoria" possa estar espalhado entre os historiadores, cf: Domi- nick LaCapra, "On grubbing in my personal archives: an historiographical expo- s...". Boudary 2: A Journal of postmodern Literature and Culture, 13, Winter- Spring 1985, p. 43-68.
-
David Harlan 29
Cambridge afirmava que os historiadores deveriam prestar mais ateno funo, ao contexto e aplicao volteis das linguagens conceituais ...
7 , 30 encontradas em sociedades particulares e em momentos determinados . Uma vez que as linguagens conceituais de uma sociedade em particular tenham sido recuperadas e descritas, os historiadores teriam ento acesso ao menu de significados que estas linguagens tornam possvel (ou impos- svel) aos escritores e leitores vivendo naquela cultura. Esta foi uma idia imensamente poderosa, que permitiu que os historiadores de Cambridge reescrevessem enormes sees da histria do pensamento poltico britni- co. Analisando a linguagem conceitual da Inglaterra no sculo XVII, eles foram capazes de mostrar, por exemplo, que a classe latifundiria con- tempornea no tinha a possibilidade de perceber as implicaes revolu- cionrias que as geraes seguintes leram no Segundo Tratado de John Locke. Em outras palavras, estudando a linguagem conceitual de uma cultura em particular, poderamos descobrir o que era ou no possvel s pessoas daquela cultura terem pensado. Pois, como comentou Pocock, "os homens no so capazes de fazer aquilo sobre o que eles no tenham meios de dizer o que tenham feito; e o que eles fazem deve ser em parte
77 31 algo que eles possam dizer e conceber . O historiador tenta "encontrar convenes e regularidades que indiquem o que poderia ou no ser dito na linguagem, e de que maneiras a linguagem qua paradigma encoraja,
7 , 32 obriga ou probe seu usurio de pensar ou falar . E disto, o que os escri- tores vivendo numa cultura em particular poderiam (ou no) ter dito pelas palavras por eles escritas. E o que os leitores (os leitores de Locke, por exemplo) poderiam ou no ter entendido por suas palavras.
Skinner queria que os historiadores se voltassem ao estudo da lin- guagem como um meio de recuperar a inteno do autor, mas Pocock esperava interess-los pela linguagem por si mesma, especialmente pela evoluo de sistemas de linguagem, em particular durante longos pero-
30 Pocock tal como citado por Joyce Appleby, "Ideology and the history of political thought", Intellectual History Group Newsletter, 2 (1980), p. 11.
3' POCOC~ tal como citado por Appleby, ibidem, p. 15. 32 J.G.A. Pocock, Virtue. Commerce and History: essays on political thought
and history, chiefly in the eighteenth century . New York: 1985, p. 10.
-
30 A histria intelectual e o retorno da literatura
dos de tempo. Nisso ele tem sido muito bem sucedido. J em 1971 ele era capaz de descrever e celebrar "a emergncia de um mtodo verdadeira- mente autnomo, um mtodo que oferea um meio de tratar os fenme-
,, 33 nos do pensamento poltico estritamente como fenmenos histricos . De fato, em ambos os lados do Atlntico, os historiadores intelectuais agora se ocupam, como esperava Pocock, com "a investigao de lingua- gens polticas inteiras, incluindo a questo de como elas se interagem e
,r 34 ganham predominncia umas sobre as outras . Como Femand Braudel, Franois Furet, Emmanuel Le Roy Ladu-
rie e outros membros da escola de Annales, Pocock enfatizava lu longue dure, as continuidades duradouras de pensamento e percepo ao longo de extensos intervalos de tempo. Em The Machiavellian Moment, por exemplo, ele descreve como a linguagem do humanismo cvico se desen- volveu durante um perodo de 500 anos, desde a Itlia do sculo XV at a Amrica do sculo XIX. Mas aqui chegamos ao problema central da a- bordagem de Pocock: o foco nas linguagens ou discursos que se desen- volvem, se expandem, se contraem e se substituem ao longo de grandes intervalos de tempo tende a obscurecer as contribuies de pensadores individuais, o que certamente no a inteno dos historiadores de Cam- bridge. Mas, ainda que em seu prprio campo da histria do pensamento poltico britnico, seu trabalho enviou Thomas Hobbes, Locke e os outros
9 , 35 gigantes do pensamento intelectual ingls a um "limbo conceitual . Vistos a partir da perspectiva de sistemas lingusticos desenvolvendo-se gradualmente ao longo de centenas de anos, os indivduos - sejam eles camponeses franceses ou escritores ingleses - simplesmente desaparecem no arrolar-se do tempo.
33 POCOC~. Politics, Language and time, p. 3, 11. Pocock modestamente re- conheceu que ele mesmo "aparentemente estava preocupado com esta transfor- mao desde um estgio anterior", p. 3.
34 David Hollinger, "Historians and the discourse of Intellectuals", in: John Hingham; Paul K. Conkin (orgs.) New directions in American intellectual his- tory. Baltimore: 1979, n. 2, p. 60.
35 Appleby, "Ideology and the history of political thought", p. 15.
-
David Harlan 3 1
Ningum sabe disso melhor do que Michel Foucault, o conhecido mestre da histria do discurso at sua morte em 1984. Leia vinte textos mdicos entre 1770 e 1780, sugeria Foucault, e ento leia outros vinte escritos entre 1820 e 1830. "No espao de quarenta ou cinqenta anos tudo mudou: o que se falava, a maneira como se falava; no apenas re- mdios, naturalmente, no apenas as doenas e suas classificaes, mas a prpria perspectiva mudou. Quem foi o responsvel por isso?' Um mun- do conceitual inteiro desapareceu, seu lugar foi tomado por um novo ''discurso", uma nova rede com suas prprias excluses e obliteraes, "um novo jogo, com suas prprias regras, decises e limitaes, com sua prpria lgica interna, seus prprios parmetros e passagens cegasv." Em outras palavras, as regras que governam a formao e transformao de qualquer discurso so invocadas sob a conscincia do escritor. A partir da deciso de Foucault, anunciada nas primeiras pginas da Arqueologia do Saber, de "abandonar qualquer tentativa de ver o discurso como um fe- nmeno de expresso", "discurso no o desdobramento da majesttica manifestao de um sujeito que pensa, que sabe e que fala, mas pelo con- trrio, uma totalidade, na qual a disperso do sujeito, e sua descontinui-
7, 37 dade consigo mesmo pode ser determinada . Pelo seu prprio objeto de estudo, por sua preocupao inevitvel
com as transformaes abruptas e sbitas rupturas que marcam a vida dos discursos, e pelo seu foco sobre a longue dure, a histria dos discursos
7 , 38 dispersa o agente histrico, "o sujeito do saber . Eis porque Foucault
36 Michel Foucault, in: Fons Elders (org.), ReJexive Water: the basic con- cerns of mankind. London: 1974, p. 150.
37 Michel Foucault, The archaeology of knowledge and the discourse of lan- guage. New York: 1972, p. 55. A perspectiva de Foucault no singular, natu- ralmente; a disperso do sujeito tem sido um elemento forte na vida intelectual francesa desde a dcada de 1960, mais obviamente o trabalho de Claude Lvi- Strauss, Louis Althusser e os historiadores de Annales, entre outros.
38 Como Foucault escreveu, "ao invs de se referir de volta para a sntese da funo unificadora de um sujeito, as vrias modalidades enunciativas manifestas sua disperso. Para os vrios status, os vrios lugares, as vrias posies que ele pode ocupar ou ser dado ao fazer um discurso. Para a descontinuidade dos pla- nos do qual ele fala". Archaeology ofknowledge, p. 54, 149.
-
32 A histria intelectual e o retorno da literatura
fala to derrisoriamente "daquilo que voc pode chamar a criatividade dos indivduos"; de fato, por isso que os indivduos tm sido virtual- mente obliterados de suas histrias. A transformao da histria intelec- tual numa histria do discurso implica uma perda que alguns historiado- res podem no querer aceitar.
Pocock um deles. Em Virtue, Commerce and History, seu ltimo trabalho, ele delineia uma distino entre a "histria do pensamento pol- tico" e a "histria do discurso poltico7', e reconhece que a corrente tradi- cional flui do primeiro para o segundo. Mas Pocock afirma-se solidarnen- te contra este movimento. -E ele assim procede por uma razo crucial e reveladora: porque ele est, em suas palavras, engajado numa escrita da
3, 39 histria "ideologicamente liberal . Com isto ele quer dizer uma histria que preserve a integridade do sujeito. Opostamente "histria do discur- so poltico", a "histria do pensamento poltico7' continuar sendo uma
7, 40 histria de "homens e mulheres que pensam . Em Virtue, Commerce and History, Pocock pede-nos para pensar
no sujeito - o escritor de teoria poltica do sculo XVII, por exemplo - como um sujeito criativo, manipulando auto-conscientemente um sistema de linguagem "polivalente". Por "polivalente", Pocock entende que as palavras individuais de um tal sistema "denotam e so conhecidas por denotar coisas diferentes ao mesmo tempo'.4' Visto deste modo, todo sistema de linguagem uma miscelnea de "sublnguas, expresses idio- mticas, retrica e modos de fala, cada um variando em seu grau de auto-
,, 42 nomia e estabilidade . O escritor pe-se do lado de fora e, dian e desta e floresta lingstica, confrontando-a como um conjunto de possibilidades verbais a serem manipuladas e exploradas de modo a realizar suas inten- es - intenes trazidas em cena pela escrita. "O autor pode mover-se por entre estes padres de polivalncia, empregando-os, e recombinando- os de acordo com a medida de sua capacidade." O texto produzido no um heterocosmo lingustico, mas o produto de uma "mente singular e
39 POCOC~. Virtue, Commerce and History, p. 34. 40 POCOC~. Virtue. Commerce and History, p. 1-2. 41 POCOC~. Virtue, Commerce and History, p. 30, nfase minha. 42 POCOC~. Virtue, Commerce and History, p. 7 .
-
David Harlan 33
poderosa", possuindo portanto toda a unidade retrica, lgica e metodo- lgica que seu autor lhe impe". Ele "uma articulao da conscincia do autor". Quando os historiadores o lem, eles entram portanto "em comu-
r, 43 nicao com a prpria pessoa do autor . Mas precisamente esta nsia pela presena do autor - uma pre-
sena que parece vislumbrar-se logo abaixo da superfcie do texto, mas uma presena que , de fato, sempre adiada, sempre em algum outro lu- gar, sempre j ausente - este anseio pela comunho com a pessoa do autor que os desenvolvimentos recentes em crtica literria e na histria do discurso poderosamente pem em dvida.44 Barthes, Derrida, Foucault e outros tornaram-nos dolorosamente conscientes dos desejos que traze- mos em nossos textos: nosso desejo de neles encontrar algum senso com- pensador de conexo e totalidade, alguma reafirmao de inteireza e am- plitude. difcil, depois de Barthes, Derrida e Foucault, continuarmos aproximando-nos de nossos textos como objetos que deveriam ser trans- parentes, como sinais de algo mais, como mscaras ocultando algo man- tido em reserva, algo se revelar no final como total, primrio e essencial, uma presena perfeita.
Herman Melville tentou dizer-nos isto h mais de cem anos. No este o significado da terrvel busca de Ahab pela baleia branca? No esta- va Ahab tentando ler a baleia do modo como lemos nossos textos, tentan- do perfurar sua brancura v, tentando penetrar em seu vazio enlouquece- dor, de modo a revelar alguma presena original? No isto que Ahab tentava explicar a Starbuck no tombadilho do Pequod?
43 POCOC~. Virtue, commerce and History, p. 9,23,25. 44 Ns no tivemos de esperar para que a crtica literria contempornea nos
dissesse isso; foi precisamente contra o desejo de encontrar no texto alguma comunho entre o escritor e o leitor que Nathaniel Hawthorne nos preveniu no prefcio de Scarlett Letter: "Quando ele atira suas folhas em direo ao vento", Hawthorne escreveu, o autor imagina estar se dirigindo aos "poucos que o en- tendero, melhor que seus colegas de escola e seus companheiros de vida ... co- mo se o livro impresso, arremessado em toda parte deste grande mundo, certa- mente encontrasse o segmento dividido da prpria natureza do autor e comple- tasse seu ciclo de existncia trazendo-o em comunho com o livro"; Hawthorne. The.Scarlett Letter. New York: 1973, p. 35.
-
A histria intelectual e o retorno da literatura
"Ouamos ainda uma vez mais - a camada um pouco abaixo. Todos os objetos visveis, homem, no so mais que mscaras de papelo. Mas em cada evento - no ato vivo, no feito indubi- tvel - l, de alguma coisa desconhecida mas ainda assim ra- cional brota a moldura de suas feies por detrs de sua msca- ra irracional. Se o homem atacasse, atravessasse a mscara! Como pode o prisioneiro atingir o lado de fora a no ser arre- metendo-se contra a parede? Para mim a baleia branca esta parede, empurrada de encontro a mim ... esta coisa inescrutvel o que eu mais odeio; e seja a baleia o agente, ou seja ela o
7 , 45 principal, eu descarregarei meu dio sobre ela .
Pocock est consciente disto tudo, naturalmente, tanto quanto est consciente dos recentes desenvolvimentos em crtica literria e em filoso- fia da linguagem. Ele sabe, como ele prprio admite, que a linguagem permite "a definio de problemas e valores polticos de certas maneiras e no de outras". Ele tem conhecimento de que as intenes no podem existir fora da linguagem, que "os modos de fala disponveis [a um escri-
99 46 tor] lhe do as intenes que ele pode ter . E ele sabe que a imagem de um escritor posicionando-se fora de seu prprio universo de discurso, anterior a ele, manipulando e explorando este universo de modo a expres- sar as intenes que o escritor de alguma maneira lhe trouxe, parecer altamente improvvel aos crticos literrios, seno aos prprios historia- dores. Em outras palavras, ele sabe que no pode mais encontrafCl'a pes- soa do autor"47, escondendo-se detrs do texto, no mais que Ahab podia esperar confrontar Deus por trs da "mscara irracional" da baleia branca. Mas Ahab esperava poder faz-lo, e do mesmo modo Pocock tambm espera.
J. G. A. Pocock o mais teoricamente sofisticado dos historiadores prticos. Por sua recusa em abandonar o sonho da presena do autor, por sua insistncia em que a histria intelectual consiste numa busca para o
45 Herman Melville, Moby Dick. New York: 1986, p. 256-57. 46 POCOC~. Virtue, Commerce and History, p. 8,5. 47 Pocock. Virtue, Commerce and History, p. 25.
-
Duik Harlan 35
rcsgate de "homens e mulheres que pensam", ele nos mostra, mais clara- il-icnte que qualquer outro, o impasse ao qual foi trazida esta disciplina.48
Os novos historiadores orientados ao discurso, os quais agora do- inina a escrita da histria intelectual americana, parecem felizes e alheios iios perigos que preocupam Pocock - que uma histria do discurso dis- solver o sujeito tradicional da histria intelectual, o autor criativo e pen- sante de tempos passados -reduzindo o autor, nas palavras de Pocock, "a
r, 49 iiin mero bocal de sua prpria linguagem . Eles simplesmente assumem, sem muita discusso, que eles podem submergir o sujeito numa histria dos discursos, e ainda, de alguma maneira, reter o sujeito como um agen- te dotado de inten~ionalidade.~~
Mas, se Pocock e os historiadores do discurso diferem acerca dos perigos em face ao sujeito, eles se unem quando se trata dos perigos do "presentismo", que eles todos consideram como a escria da historio- grafia profissional. Por "presentismo" eles entendem, nas palavras de John Dunn, "a estranha tendncia a um monte de escrita, na histria do pensamento poltico especialmente, feitas daquelas proposies daqueles grandes livros, que lembram o autor daquelas outras proposies daque-
48 Hayden White confrontou-se com este mesmo dilema: de uma lado uma aguda sensibilidade para com as maneiras pelas quais a linguagem tanto consti- tui como dissolve o sujeito; de outro lado um profundo compromisso para com o humanismo liberal, para com o sujeito humano e a liberdade epistemolgica. Hans Kellner descreveu o dilema de White com admirvel destreza: "Se a lin- guagem irredutvel, um comeo 'sagrado', ento a liberdade humana sacrifi- cada. Se os homens so livres para escolherem seus protocolos lingusticos, ento alguma fora anterior e mais profunda precisa ser colocada. White afirma como um paradoxo existencial que os homens so livres e que a linguagem irredutvel"; Kellner, "A bedrock of order", p. 23.
49 POCOC~. Virtue, Commerce and History, p. 5. 50 Nem todos os historiadores do discurso so to desatentos. Thomas Has-
kell, por exemplo, nos preveniu acerca de uma corrente "profundamente deter- minista" em grande parte da histria intelectual contempornea, embora isso no o faa reconsiderar o chamado para uma histria baseada no discurso. Cf: Tho- mas Haskell, "Deterministic implications of intellectual history". in: John Hingham and Paul K. Conkin (eds.) New Directions in American Intellectual History. Baltimore: 1979, p. 145.
-
36 A histria intelectual e o retorno da literatura
97 51 les outros livros . No h nada de novo nesta acusao; Herbert Butter- field costumava criticar seus colegas por aquilo que ele chamava de "a falcia pattica" pelo que ele designava a "abstrao de coisas de seu contexto histrico, julgando-as separadas de seu contexto - estimando-as e organizando o estudo histrico por um sistema de referncias diretas ao
7 7 52 presente . Como sugere esta frase de Butterfield, o outro lado do "presentis-
mo" o "contextualismo", a insistncia de que um texto em particular somente pode ser entendido quando colocado no "contexto historicamen- te e socialmente especifico de discusso pblica" no qual ele foi escrito.53 Em outras palavras, numa "rede de discurso intelectual" em particular. Na prtica, isto se refere aos vrios discursos especializados de intelectu- ais, uma histria das "comunidades de discurso nas quais elas funcionam, e das relaes variadas que elas manifestam com relao cultura em
,, 54 sentido mais amplo .
A histria do discurso ("contextualismo radical", como alguns proponentes a chamam) tomou-se a mais predominante e influente ten- dncia entre os historiadores intelectuais americanos - a dominante e
51 John Dunn. Political Obligation in Its Historical Context. London: 1980, p. 15, citado por Richard Rorty in Rorty, J.B. Schneewind e Quentin $kinner (eds.) Philosophy in History: essays on the historiography of philosophy. New York: 1984.
52 Citado por George Stocking, "On the limits of 'presentism' and 'histori- cism' in the historiography of the behavioral sciences". in: Stocking. Race, Cul- ture andEvolution: essayi in rhe histovy ofanthropology. New York: 1968, p. 3. O termo "falcia pattica" foi originalmente forjado por John Ruskin como uma referncia pejorativa para a atribuio de sentimentos humanos a objetos na natureza. C$ "Of the pathetic fallacy", in: John Ruskin. Modern Painters, vol. 3 , Boston: s.d., p. 200-218.
53 Hollinger, "Historians and the discourse of intellectuals", p. 54. 54 Dominick LaCapra. "Rethinking intellectual history and reading texts" in:
Dominick LaCapra; Steven Kaplan (eds.) Modern European Intellectual His- tory: reappraisals and new perspectives, Ithaca, 1982, p. 69. Mas CJ: tambm o simpsio sobre histria intelectual e a histria dos discursos, Intellectual History Newsletter, 1, Spring 1979, especialmente os ensaios de Haskell, Bruce Kuclick, Stocking, Skinner, David Hall e William R. Taylor.
-
David Harlan 37
agora convencional ortodoxia.55 New Directions in American Intellectual History, a mais recente pesquisa no campo, foi dominada pelos contextu- alistas, como tambm o a Intellectual History Newsletter. Os contextua- listas esto bem colocados, bem organizados e cada vez mais intolerantes quanto a abordagens alternativa^.^^
Mas o contextualismo encara problemas reais, problemas que esto se tornando cada dia mais evidentes. O mais bvio e premente destes problemas diz respeito 2 dificuldade de se definir a relevante "rede de discurso intelectual" com qualquer preciso.57 Alguns historiadores, con- textualistas de idia fixa, tm insistido que todo texto deve ser colocado no "contexto imediato das pessoas, instituies e questes menos impor-
,, 58 tantes nas quais [seu autor] viveu e trabalhou . Mas outros contextualis- tas sustentam que o contexto relevante pode tornar-se menos imediato, e que de fato pode tornar-se dolorosamente remoto. Em "Historians and the Discourse of Intellectuals", David Hollinger, um dos mais influentes de- fensores do contextualismo - concede que o contexto relevante possa ser definido de maneira tal que inclua todo "o conhecimento terico, as tradi- es literrias e religiosas, e outras fontes culturais que os historiadores sabem que tenham sido acessveis aos mais bem informados membros de
9, 59 uma dada sociedade em um dado momento histrico . E em Victorian Anthropology, George Stocking, um historiador da antropologia que tem desempenhado um papel predominante nos debates sobre contextualismo,
55 Tanto Hollinger quanto Haskell usam a expresso ''contextualismo radi- cal". C$ David Hollinger, "T. S. Kuhn's theory of science and its implications for history". American Historical Review, 78, April 1973, p. 377; e Haskell, "Deterministic implications of intellectual history", p. 138.
56 C$ LaCapra, "Grubbing on my personal archives"; e a discusso sobre The bard of savagery, de Diggins, abaixo.
57 EU resolvi no trabalhar aqui com um problema colateral: que o conceito de discurso implica o conceito anterior de (e identificao dos) "perodos" hist- ricos. Para uma discusso iluminativa desse problema, c$ Frederic Jameson. The political unconcious: narrative as a socially simbolic act, London: 198 1, p. 28.
58 Thomas Haskell, "Veblen on capitalism: intellectual history in and out of context". Reviews in Amercian History, 7 , 1979, p. 559.
59 Hollinger, "Historians and the discourse of intellectuals", p. 55.
-
38 A histria intelectual e o retorno da literafura
desenvolveu uma abordagem que ele chama de "contextualizao mlti- pla".60 Como notou um resenhista, "to mltiplas so as abordagens de Stocking que mesmo uma lista delas iria requerer mais palavras do que uma resenha como esta poderia conter ... Ele demonstra sensibilidade tambm para com as presses sociais, polticas e econmicas que ajuda-
,, 61 ram a moldar as idias . De modo semelhante, o historiador Dominick LaCapra identificou pelo menos seis diferentes tipos de redes nas quais os textos deveriam ser colocados para anlise contextual, cada qual "de- vendo conter no somente outros escritores e leitores contemporneos, mas tambm as tradies encobertas e at mesmo os impulsos em parte reprimidos os quais no se conformam s convenes que prevalecem
,r 62 numa comunidade qualquer . Em outras palavras, a comunidade rele- vante pode incluir toda a civilizao ocidental. E mais.
Em segundo lugar, antes que os historiadores possam colocar um texto em seu contexto putativo, eles devem (re)constituir este contexto - o que em si mesmo um ato potico - e ento interpret-lo, do mesmo modo como se ele prprio fosse um texto.63 Em outros termos, ns no podemos conhecer um "contexto" que no tenha sido j textuali&do.@ Isto no uma observao nova. Como William James explicou h trs quartos de sculo atrs, um contexto de algum modo anterior textuali-
" C$ Stocking, "On tlie limits of 'presentism* and 'historicism"'; seu ensaio na Intellectual History Newsletter (referenciada na nota nmero 55 [54?] acima); e a introduo a seu livro Victorian Anthropology. New York: 1987.
Cf: a resenha de George Levine, New York Times Book Review, March 1, 1987.
62 LaCapra, como parafraseado por Kloppenberg, "Deconstruction", 18. 63 Como LaCapra salicntou, "o prprio contcxto devcria scr visto como um
texto de espcies. "Sua 'leitura' e interpretao colocam problemas to difceis quanto aqueles colocados pelos textos escritos mais intrincados."; LaCapra, Rethinking Intellectual History: texts, contexts, language. Ithaca: 1983, p. 116- 117.
"A idade j no passado de fato constituda em todo respeito como um texto"; Derrida, Of Grammatology, lxxxix, nfase no original. Frederic Jameson argumentou do mesmo modo em The political unconscious: o contexto no "imediatamente presente como tal, no alguma realidade externa do senso comum... mas ao invs deve ser sempre reconstituda depois do fato"; p. 81.
-
David Harlan 39
zao - uma "realidade 'independente' do pensamento humano" - uma coisa muito difcil de se encontrar".
"Ele reduz a noo de ... alguma presena aborgene na experi- ncia, antes que qualquer crena acerca da presena tenha vin- do a tona, antes que qualquer concepo humana tenha sido a- plicada. o que absolutamente mudo e evanescente ... ns podemos vislumbr-la, mas no podemos agarr-la; o que ns agarramos sempre algum substituto, que o pensamento hu- mano prvio peptonizou e cozinhou para nosso consumo ... ns podemos dizer que onde quer que a encontremos, ela j uma
97 65 fiaude .
A distino bsica entre texto e contexto pode no ter entrado em colapso em todo lugar, mas mesmo entre os epistemologicarnente conser- vadores, ela parece ter se tornado um problema.66
Finalmente, o contextualismo sofre de sua tendncia, frequente- mente sujeita a reclamaes, de reduzir trabalhos complexos ao status de docnmen to~ .~~ Quando os historiadores orientados ao discurso analisam um determinado texto, eles querem saber como ele funcionava dentro de um discurso em particular, o que contribua (se que alguma coisa con- tribua) para aquele discurso, como ele influenciou ou modificou o dis- curso, e assim por diante.68 Em outras palavras, seu interesse primrio repousa no contexto e no no texto. O interesse no texto puramente instrumental: eles querem saber o que ele pode Ihes dizer sobre o discur-
65 James citado por Richard Poirier. The renewal of literature: enzersonian repexions. New York: 1987, p. 48, nfase no original.
66 Como John Toews observou depois de uma discusso acerca da inevitvel textualizao do contexto. "comea-se a perguntar-se se possvel evitar de algum modo as armadilhas da teoria referencial ou representacional sem cessar de 'fazer' histria e restringir-se a pensar sobre ela". Toews, "Intellectual history after the linguistic tum: the autonomy of meaning and the irreducibility of ex- perience". American Historical Review, 92, October 1987, p. 886.
67 Alm das reclamaes de LaCapra, citadas na nota 69 (abaixo), c$ aquelas de Norman Grabo e Patricia CaIdwell, in: Sacvan Bercovitch (ed.), The Ameri- canpuritan imagination, Cambridge: 1974, p. 26,33,36.
68 Hollinger, "Historians and the discourse of intellectuals", p. 53.
-
40 A histria intelectual e o rctor17o clrr Ilt(v-trtitra
so, do qual ele , para estes historiadores, nada mais quc iiin;i ii~itiiikslri- o, um smbolo, um d o c ~ m e n t o . ~ ~ ~ a ~ a ~ r a intitulou esta "liist6rin inte- lectual de antropologia cultural ou simblico-retrospectiva" - uinn tlisci- plina na qual os "textos complexos" so sistematicamente di ini nutlos ao serem usados como evidncia na reconstruo de um ou outro discurso histrico. Em outras palavras, uma atividade na qual os textos so, uma vez mais, abordados como algo que no eles
O contextualismo radical - seja ele na forma da histria do pcnsa- mento poltico de Skinner e Pocock, ou seja guisa de uinri hist6ria do discurso - uma das mais importantes e influentes tentativas j feitas para deter o declnio da histria intelectual. Ele tem tomado conhcciinen- to e tentado incorporar alguns dos recentes desenvolvimentos ein crtica literria, em filosofia da linguagem e em filosofia da cincia, c elc j foi - no muito tempo atrs - considerado o projeto daquilo que Pocock cha- mava de "verdadeiro mtodo histrico". Mas isso no nos d urna respos- ta efetiva s crticas, dvidas e suspeitas que os ps-estruturalisttis levan- taram acerca da histria intelectual: a crena de que a linguagcin um sistema autnomo de transformaes no intencionais, e nio u m conjunto estvel de referncias estabelecidas, uma obstinada economia cle oposi-
69 ' ' ~ atualmente uma tendncia excessiva em dar prioridaclc a abordagens sociais e socioculturais, e menosprezar a importncia de se ler e interpretar tex- tos complexos"; LaCapra, "Rethinking intellectual history", p. 83. LaCnpra criti- cou essa tendncia. Hollinger, por outro lado, quer que prossigamos ainda mais nessa dire~o. Para ele deveramos abordar textos complexos cle inoclo inteira- mente instrumental, usando-os para iluminar o discurso dos quais clcs so so- mente manifestaes. C$ Hollinger, "Historians and the discoursc of intellectu- als", p. 43-44.
70 LaCapra, "Rethinking intellectual history", p. 83. C$ Mayclen White, "The context in the text: method and ideology in intellectual history", in: White. The Content ofthe Form. Baltimore: 1987, p. 185-213, para uina discusso interes- sante sobre essa tendncia. Uma das ironias do contextualismo que em sua atrao, sua afinidade e sua cumplicidade para com o rigor cientfico, os histori- adores contextualistas parecem-se com ningum mais seno seus arqui- antagonistas, os crticos descontrucionistas. C$ Eugene Goodheart, The Skepti- cal Disposition in Contemporary Criticism. Princeton: 1984, p. 149154, para uma discusso interessante sobre o desconstrucionismo nessas linhas.
-
David Harlan 41
es e diferenas que constituem ao invs de refletir; as conseqentes dvidas sobre o referencial de linguagem e as capacidades representacio- nais; a crescente suspeita de que a narrativa possa ser incapaz de transmi- tir um significado fixo, determinado e acessvel; e, finalmente, o eclipse do autor que tenciona, um autor autnomo. Por todo seu interesse em linguagem e em discurso, o contextualismo radical no nos deu nem os meios com os quais refutar estas alegaes e dvidas, e nem quaisquer sugestes de como construir algo a partir delas.
Suponhamos por um momento que as alegaes acumuladas contra a histria intelectual so verdadeiras. Suponhamos que a histria intelec- tual realmente se ponha nua diante de seus crticos, seu cnone exposto a uma pretensiosa imposio sobre o passado, sua esperana de recuperar a inteno do autor vista como pouco mais que um anseio metafsico, seus textos tradicionais sacrificados insacivel goela da intertextualidade. A descrio que Northrop Frye faz da Nova Crtica ajusta-se histria inte-
99 71 lectual ainda melhor: "uma religio de mistrios sem um evangelho . Para onde vamos a partir daqui?
Podemos comear com o problema dos textos: com quais textos os historiadores intelectuais deveriam preocupar-se? Qualquer tentativa de privilegiar um conjunto particular de textos est fadada a tornar-se algo problemtico hoje em dia, devido s alegaes da intertextualidade, que dissolvem a identidade autnoma de trabalhos individuais. Os ps- estruturalistas querem que consideremos os textos individuais como os produtos e a conseqncia de outros textos escritos antes deles. Qual- quer texto particular, dizem-nos, meramente uma verso "decodifica- da" ou "'transcodificada" de outros textos, textos cujos antecedentes so encontrados em outros textos ainda mais antigos. Por trs do texto individual existem somente outros textos que se referem (quando no so eles mesmos auto-referenciais) a ainda outros textos, e assim por diante, num regresso aparentemente infinito. A referncia torna-se inter- textual, a origem se dissolve, e o texto dispersado. E de embalo vai
" Northop Frye citado por Jonathan Culler em sua apresentao a Tzvetan Todorov, The Poetics of Prose. Ithaca: 1977, p. 7.
-
42 A histria intelectual e o retorno da literatura
junto qualquer distino significativa entre "grandes livros" e livros de h i~ to r inhas .~~
Na realidade, entretanto, ningum, nem mesmo entre os ]ps- estruturalistas, tem qualquer dificuldade em diferenciar os "grandeis li- vros" dos livros de h i~ to r inhas .~~ Nem mesmo Barthes, que por primieiro popularizou a noo de "intertextualidade." Ele distingue textos "lleg- veis" (lisible) dos textos "escritveis" (scritible). Por textos "legveis"' ele entende textos que obedecem s convenes aceitas de leitura e interrpre- tao. Pelo fato de sabermos "como" l-los, ns os lemos passivamente, encontrando neles exatamente o significados que nossas convenes i- dentificam para ns. Textos "escritveis", por outro lado, desafiam as convenes que isolam e identificam o significado no texto "legve!l", o leitor tem de entrar pessoalmente no texto, tem de participar ativamente na fabricao de qualquer significado que ali se desenvolva. Em oiutras palavras, textos "escritveis" foram o leitor, enquanto este l, a testar tambm mentalmente compondo um texto alternativo ou "virtual". Deste modo, textos "escritveis" "iniciam produes de significado, ao invts de
7, 74 transmitir os significados por si mesmos . Eles despertam, cultivam e
72 Intertextualidade associada mais de perto com Roland Barthes e Julia Kristeva, mas a idia no nova para eles. Jorge Luis Borges, por exemplo, tem jogado com essa noo durante anos. CJ: sua histria "As runas circulares;", in: Borges, Fictions, como um bom exemplo. Para uma tentativa de salvar o texto autnomo da goela da intertextualidade, cJ: Stanley Fish, Is There a Text im This Class: the authority of interpretive communities. Cambridge: 1980; e Geofrey H. Hartman, Saving the Text: literature/Derrida/philosophy. Baltimore: 1981, espe- cialmente o captulo 5, "Words and wounds".
73 LaCapra afirma o mesmo; c$ "Rethinking intellectual history", p. 5 1. Os problemas e desentendimentos tm a ver menos com a identificao de trabalhos cannicos que em decidir como interpreta-los. Para uma discusso interessante de (e uma resposta a) ataques recentes sobre o cnone na histria literria ameri- cana, cJ: Werner Sollors, "A critique of pure pluralism", in: Scavan Bercovitch (ed.), Reconstructing Arnerican Literary History, Cambridge, 1986, p. 250-279.
74 Wolfgang Iser citado por Jerome Bruner, Actual Minds, Possible Worlds. Cambridge: 1986, p. 25. Iser declarou que esse tipo de leitura "nico em litera- tura"; Iser, The act of reading: a theory of aesthetic response. Baltimore: 1978,
-
David Harlan 43
guiam a produo de significados por parte do leitor. Eles convidam o leitor a reescrev-los, seduzindo o leitor a tornar-se um escritor. Isto o que Barthes queria dizer quando afirmou que "o texto que voc escreve deve provar que ele m e deseja."75
LaCapra provavelmente tinha alguma coisa como isso em mente ao formular a distino entre "trabalhos complexos" e "documentos". Assiin como os textos '"escritveis" de Barthes, os "trabalhos complexos" clc LaCapra distinguem-se por sua tendncia a subverter os protocolos c convenes de leitura comumente aceitos. Eles desenvolvem "a funo contestadora do ato de questionar [os entendimentos recebidos] de modo
9 9 76 a ter implicaes mais amplas para o viver . A noo de texto "escritvel", de Barthes, tambm anloga 2 clc-
finio de trabalho "cannico", de Frank ermod de.^^ Trabalhos caniii- cos so aqueles textos que tm gradualmente se revelado multidimensio- nais e "omnisignificantes", aqueles trabalhos que produziram uma pleni- tude de significados e interpretaes, sendo que somente uma pequcna porcentagem deles se faz presente numa nica leitura. Textos cannicos tm "qualidades no detectveis exceto num momento apropriado no futuro9'T Eles geram novos modos de ver coisas velhas, e novas cois:is que nunca vimos antes. No importa o quo sub-repticiamente ou o q11no radicalmente mudemos nossa abordagem em relao a eles, eles semprc respondero com algo novo; no importa quantas vezes ns os reinterprc- temos, eles sempre tm algo iluminador a dizer-nos. Sua prpria indetcr- minao demonstra que eles jamais podem ser exauridos. Como observo11 Wolfgang Iser, o texto cannico "recusa-se a ser totalmente sugado paro
p. 109. Mas em lugar algum ele explicou porque ele no pode ser aplicado taiii- bm a outras formas narrativas.
75 'Roland Barthes. THE pleasure of the Text, New York: 1975, p. 6, Ciifiisc: no original.
76 LaCapra, "Rethinking intellectual history", p. 65. Mas c$ tainbm LtiCh- pra, History and Criticism. Ithaca: 1985, p. 18 e seguintes, 38 e segiiintes.
77 Frank Kermode. Forms of attention, Chicago, 1985. 78 Kermode. Forms of attention, p. 75.
-
44 A histria intelectual e o retorno da literatura
3 , 79 depois ser atirado num monte de lixo . Textos cannicos so multidi- mensionais, "omnisignificantes", inexaurveis, perpetuamente novos e, por todas estas razes, "permanentemente valiosos". possvel, portanto, diferenciar os "grandes livros" dos livros de historinhas, independente- mente da intertextualidade. Recorrendo a Barthes, LaCapra e Kermode, podemos juntar os remendos de critrios provisrios de trabalho para a identificao dos livros pelos quais a histria intelectual possa se interes- sar. 80
Mas agora surge um outro problema: esta lista de trabalhos canni- cos, arranjados nesta linda ordem cronolgica, ela o produto de um genuno processo histrico? Ela representa verdadeiramente as vozes encorpadas de uma grande conversao que tem-se desenvolvido ao lon- go das eras pelos gigantes intelectuais da histria ocidental? Estariam os grandes pensadores de todas as pocas realmente conversando uns com os outros, numa extensa conversa histrica, sendo os grandes livros os remanescentes textualizados deste elevado dilogo?
Estas questes j tinham sido levantadas nos anos trinta, quando elas se direcionavarn contra o projeto de "Histria das Idias", de Arthur Lovejoy. E elas foram novamente levantadas, mais agressivamente, pelos novos historiadores sociais nos anos sessenta, e nos primeiros ensaios metodolgicos de Pocock e skinner." Este questionamento revelou even-
79 1ser. Act of reading, p. 7 . "Ao invs de ser capaEde apreender significado como um objeto, o crtico confrontado com um espao vazio. E este vazio no pode ser preenchido por um nico significado referencial, e qualquer tentativa de reduzi-lo desse modo leva ao disparate"; p. 8.
'O Hayden White tambm estabeleceu uma distino entre os livros de histo- rinhas e os "textos clssicos". A diferena "tem a ver com a extenso pela qual o texto clssico revela, de fato ativamente atrai a ateno para seus prprios pro- cessos de produo de significado e faz desses processos seu prprio assunto, seu prprio contedo"'. The Education of Henry Adams , portanto, um texto clssico por causa de sua "criatividade autoconsciente e auto-celebrativa"; Whi- te, The Content of the Forrn, p. 212.
" In: "The limits of historical explanation", Philosophy, 41, 1966, pp. 199- 215, por exemplo, Skinner lanou um ataque devastador sobre "o modelo de influncia" - pelo que ele queria dizer o hbito de tratar escritores anteriores
-
David Harlan 45
tualmente, como no poderia deixar de ser, que este "grande dilogo" era uma fico; ele simplesmente no aconteceu. Ao invs de uma rnaravi- Ihosa conversao, desenvolvida por sucessivas geraes de grandes pen- sadores, ela foi exposta como uma construo intelectual concebida pelos historiadores contemporneos, de modo a estabelecer uma ligao entre os vrios livros por eles considerados como cannicos. Como se percebeu mais tarde, no havia nenhuma verdadeira relao histrica entre os pr- prios livros. Como explicou John Gunnel em 1979, "Com o passar dos anos, por conveno acadmica, um repertrio bsico de trabalhos foi selecionado, cronologicamente arranjado, representado como um verda- deiro [fenmeno] histrico, infundido com um' significado evolucionrio, carregado com uma significncia derivada dos vrios temas e motivos simblicos, e oferecida como os antecedentes intelectuais dos contempo-
17 82 rneos.. . [padres de] pensamento .
Foi neste ponto que Skinner e Pocock, face a questes que amea- avam expor sua disciplina como um truque, tentaram reconstruir a hist- ria intelectual, dando a ela seus trabalhos cannicos, a partir dos quais todos poderiam perceber o que Ihes faltava: um contexto histrico genu- no. Mas as difipldades encontradas em sua tentativa, combinadas com o
como se estivessem antecipando escritores subseqentes. Trs anos depois ele ofereceu uma verso bastante expandida desta crtica em "Meaning and unders- tanding in the history of ideas", History and Theory, 8, 1969, pp. 3-56.
82 John Gunnell. Political Theory: tradition and interpretation, Lanham, 1979, p. 68. surpreendente que este construto ideal pudesse alguma vez ser tomado como uma tradio histrica genuna. Em 1919 T. S. Eliot explicou que "os monumentos existentes formam uma ordem ideal entre si, a qual modifica- da pela introduo do novo (o realmente novo) trabalho entre eles"; Eliot. Se- Iected essays. London: 1934, p. 15, nfase minha. Mesmo assim, tanto a histria da filosofia contempornea quanto a filosofia da histria contempornea tm sido largamente moldadas (ou desmoldadas) pela "revelao" que Gunnell des- creveu. Como David Hoy recentemente explicou, "a ruptura realmente funda- mental na filosofia contempornea ... entre aqueles (como Dewey, Heidegger, Cavell, Kuhn, Feyerabend e Habermas) que tomas Hegel e a histria de maneira sria, e aqueles que vem 'problemas filosficos recorrentes' sendo discutidos por todos"; Hoy, "Taking history seriously: Foucault, Gadamer, Habermas". Union Seminary Quarterly Review, 34, Winter 1979, p. 85.
-
46 A histria intelectual e o retorno da literatura
massacre do ps-estruturalismo, deixou a histria intelectual com um cnone, mas sem uma explicao histrica de sua existncia. Os historia- dores intelectuais exploram minuciosamente uma pilha de ossos, em bus- ca do que uma vez tinha sido o esqueleto associado sua disciplina. Se a histria intelectual tiver de ser reconstruda, este monte de ossos dever receber alguma forma e figura, alguma estrutura definida. Precisamos de algo para tomar o lugar de nossa antiga crena de que os grandes livros eram um produto de um real dilogo transgeracional entre os grandes pensadores. Precisamos dar ao cnone um passado, uma identidade histo- ricamente condicionada.
Ns podemos encontrar exatamente o que precisamos no argumen- to acerca da interpretao bblica que surgiu primeiramente durante a Reforma Protestante. Central para a Reforma, naturalmente, era a convic- o de Lutero de que todo homem no era mais seu prprio sacerdote, mas seu prprio intrprete. Por detrs desta convico repousam duas crenas ainda mais bsicas: primeiro, que as escrituras eram auto- suficientes e auto-interpretativas, que elas possuam um sentido claro, fixo e determinado que emergia diretamente do prprio texto, sem qual- quer auxilio do complicado aparato interpretativo que a Igreja gradual- mente desenvolveu, e que agora exigia; e, em segundo lugar, que as escri- turas deveriam ser tomadas literalmente, ao invs de alegoricamente, como a Igreja tambm insistia. "As alegorias de Orgenes no valem uma titica", dizia Lutero, "elas so o lixo da ~ s c r i t u r a . " ~ ~ Para o Protestantis- mo Reformador, a insistncia da Igreja nos procedimentos interpretativos e no significado alegrico se colocava entre os cristos e sua Bblia, pon- do uma barreira entre eles e o acesso imediato Palavra.
A proposta de Skinner e de Pocock para a reforma da histria inte- lectual essencialmente uma proposta protestante. Tal como Lutero, eles afirmam que os textos histricos transmitem significados fixos, e que estes significados so acessveis e, em ltima anlise, determinveis, se os crticos ou os historiadores simplesmente se derem ao trabalho de atra-
83 Lutero citado por Susan A. Handelman. The Slayers of Moses: the emer- gente of rabinic interpretation in modern literary theory. Albany: 1982, p. 123.
-
David Harlan 4 7
vessar as camadas de interpretao que se pem entre o texto no coi.i.o- borado e suas mentes inquiridoras. Tal como Lutero, eles consiclci:iiii estas camadas de interpretao acumulada como se fossem um impctli- mento, uma obstruo, um obstculo, uma barreira entre os historiaclorcs e as "intenes primrias" do autor. A riqueza do material interpretativo que cerca um trabalho histrico por eles tida como uma incrustaio numa escala tal que os historiadores precisam esmag-la em pedaos coiii seu "mtodo verdadeiramente histrico", de modo a obter a prola do significado autntico, aquilo que o autor "realmente quis dizer", aquilo que o texto "realmente diz".
Os problemas que este procedimento tem encontrado sugere que o que precisamos de uma tradio interpretativa construda no sobrc o anseio pela presena do autor e pelo significado invarivel, no sobrc :i iluso do texto como uma "intencionalidade congelada esperando para ser novamente experienciada", mas no reconhecimento de que todo texto, no mesmo momento em que comea a existir, j foi atirado nas guas. que nenhum texto pode jamais esperar novamente juntar-se a seu pai, quc o destino de todo texto dar incio ao caminhar errante de um filho pr6- digo que no mais retoma. bastante interessante o fato de que podemos encontrar tal ab rdagem tanto na tradio interpretativa rabnica, como na f tradio interpretativa catlica.
O Judasmo Rabnico no comea com a Palavra como a expresso imaculada da vontade de Deus, a Palavra radiante, com seu significado original, antes de qualquer ato de interpretao, mas com a Torah como n promessa de um sentido mltiplo, um convite interpretao e reinterpre- tao contnuas. No a encarnao - a Palavra feito carne - mas a inter- pretao - a palavra repleta de significado - que o ato divino central do Judasmo Rabnico. Em toda palavra brilha uma "infinita multido dc
9 , 84 luzes . Como explicou uma vez Emmanuel Levinas, " precisamentc um discurso, no encarnado em Deus, que assegura-nos um Deus vivo entre ns ... O espiritual no se apresenta como uma substncia sustent-
84 Gershom Scholem. The Messianic Idea in Judaisrn and Other Essays on Jewish Spirituality. New York: 1984, p. 295.
-
48 A histria intelectual e o retorno da literatura
vel, mas pelo contrrio, apresenta-se atravs de sua ausncia; Deus torna- se real no por meio de sua encarnao, mas atravs da Lei" - ou o que d no mesmo, atravs do texto." Este o conceito que Gershom Scholem chamou de "propenso preexistente", a idia de que a Torah implicita- mente contm toda interpretao que os comentadores posteriores even- tualmente descobririam. "Vocs devem portanto Me abandonar, desde que guardem Minha Torah." Como expressou o Rabi Joshua ben Levi, um professor Palestino do sculo trs, "Torah, Mishnah, Talmud e Agga- dah - deveras, at mesmo os comentrios que algum aluno brilhante far um dia a seu professor - j foram dados a Moiss no Monte Sinai". E, como acrescentou Scholem, "mesmo as questes que tal aluno brilhante
1xg86 far um dia a seu professor. Finalmente, h a maravilhosa histria da discusso de Rabi Eliezer com os Sbios acerca do forno de Aknai. Quando Deus gritou "Por que disputam com Rabi Eliezer, se vocs todos vem que em tudo o halachah concorda com ele!" Rabi Jeremias respon- deu, "A Torah j nos foi dada no Monte Sinai; no prestaremos ateno a uma voz vinda dos cus." Neste ponto Deus "riu prazerosamente" e ad-
7, 87 mitiu "Meus filhos Me derrotaram, Meus filhos Me derrotaram . Em The Slayers of Moses, Susan Handelman defende que toda a
histria da crtica ocidental tem sido uma discusso entre judeus e cris- tos acerca da esperana de encontrar Deus em sua Palavra, o autor em seu texto. E que "talvez haver sempre uma guerra entre judeus e gregos, uma guerra envolvendo as ~scr i turas" .~~ Mas no trabalho de Brevard Childs, professora de teologia vtero-testamentria em Yale, podemos encontrar uma estratgia interpretativa similar - embora no idntica -
85 Emmmanuel Levinas citado por Handelman. Sluyers of Moses, p. 172, n- fase no original.
" Citado por Scholem, The Messianic Ideu, p. 289. Frank Kermode fez desta noo de Torah a prpria definio de canonicidade: "Estar dentro do cnone ser creditado com nmeros indefinidamente grandes de relaes internas e se- gredos possveis, ser traado como um heterocosmo, uma Torah em miniatura"; Kermode, Forms of Attention, p. 90.
87 Seder Nezikin. Tractate Baba Metzia 58b-59b, vol. 10, pp. 351-352 de Baba Metzia na Traduo de Soncino.
Handelman. Slayers ofMoses, p. 177.
-
David Harlan 49
tradio rabnica por ela descrita. Introduction to The Old Testament as Scripture (1979) o trabalho pelo qual Childs mais amplamente conhe- cida. Esta a resposta de Childs insistncia da ortodoxia reformada em recuperar o significado aborgene das Escrituras. Como explicou Childs, "A exegese cannica moderna deve ser de natureza ps-crtica. Ela no procura repristinar a interpretao crist do sculo primeiro", mas "com- preender a macia construo interpretativa por meio da qual as tradies sagradas" foram transmitidas atravs de tantas geraes.89
Por "construo interpretativa macia", Childs entende que, no fluxo de transmisso de uma gerao a outra, os textos sagrados foram constantemente refigurados, primeiramente ao serem gradualmente afas- tados de suas referncias histricas originais, e em segundo lugar, ao serem inseridos em complexos textuais mais amplos. No desenvolvimen- to deste "processo de tradicionalizao", o significado primrio do texto fundamenta-se de trs maneiras: primeiro, por sua referncia a outros textos em complexos textuais mais amplos, nos quais foram inseridos; em segundo lugar, por sua colocao no aparato interpretativo mais amplo que cerca estes complexos textuais; e finalmente, pelas novas referncias histricas que eles adquirem de uma combinao da primeira com a se- gunda. atravs deste "processo de tradicionalizao" que os textos sa- grados adquirem s u carter multi-dimensional, sua plenitude de signifi- 2 cado - as qualidad s intrnsecas que os qualificam como cannicos.
Gadamer tambm disse algo similar em sua crtica da hermenutica tradicional. Da mesma maneira que os "preconceitos" historicamente condicionados do suposto intrprete no constituem meramente uma srie de obstculos ao entendimento, mas so, de fato, aquilo que faz o enten- dimento possvel, tambm as interpretaes que gradualmente se acumu- laram em torno de um texto em particular - ou em torno do cnone como um todo - so as nicas entradas que podemos possivelmente usar para abordar um texto ou uma coleo de textos. De acordo com Gadamer, "O entendimento no nunca um comportamento subjetivo em relao a uni dado 'objeto', mas em relao a sua histria efetiva - a histria de sua
CJ: a reviso crtica de Childs sobre James Barr, Holy Scripture: canon, authovity, criticism. Louisville: 1983, in: Interpretation, 38, 1984, pp. 69-70.
-
50 A histria intelectual e o retorno da literatura
,, 90 influncia . Em outras palavras, a interpretao forma o meio no qual o texto vive - o nico meio no qual ele pode viver. Sem o liquido amnitico que sustenta a interpretao, o texto jamais teria nascido em nossas mos, jamais teria sobrevivido imprudente perda de tempo.91 Talvez tenha sido isto que T. S. Eliot tenha falado em seu famoso artigo de 1919 sobre a tradio e o sentido da histria. Eliot afirmou que "o sentido histrico envolve uma percepo, no s da condio de passado do passado, mas de sua presena; o sentido histrico compele um homem a escrever no somente com a sua gerao em seus ossos, mas com a sensao de que toda a literatura de ... sua cultura tem uma existncia simultnea, compe
3, 92 uma ordem simultnea . A partir de Barthes, LaCapra e Kermode, podemos construir um
conjunto trabalhvel de critrios para a identificao dos livros pelos quais a histria intelectual deveria se interessar; e, recorrendo s tradies interpretativas rabnica e catlica, e a Gadamer e Eliot, podemos dar a estes trabalhos uma identidade historicamente fundamentada e historica- mente condicionada. Mas o que deveriam fazer os historiadores intelectu- ais com estes materiais? Quais so nossas responsabilidades particulares?
Foi dito uma vez que os historiadores sustentam uma responsabili- dade primria para com o passado, para com os escritores e pensadores que lemos e estudamos, se no por outra razo, pelo fato de que eles vive- ram naquele tempo, e ns no.93 Dizem que os historiadores devem levar a cabo esta obrigao ouvindo as pessoas do passado, tentando entend- 10s em seus prprios termos, contando-nos "o que eles realmente disse-
,, 94 ram . No se contesta a importncia de que se faa este esforo. Mas de
90 Gadamer. Truth and Method, p. xix. 91 Kermode. Forms of Attention, p. 36. 92 Eliot. Selected essays, p. 14. 93 E. P. Thompson. The Making of the English Working Class. New York:
1963, p. 12-13; Rorty. Consequences ofPragmatism, p. 200 e seguintes, especi- almente a pgina 202.
94 Para uma celebrao da determinao de um historiador contemporneo de fazer exatamente isso (neste caso, recuperar "o William James autntico, histri- co", "confrontar James cara a cara e estabelecer o que seus trabalhos disseram no contexto em que ele os escreveu"), c$ Kloppenberg. "Deconstruction", p. 3-
-
David Havlan 5 1
tudo que j se viu at agora, bvio que no devemos esperar realmente encontrar autores j mortos no corpo de seus textos. A liberao do texto do "claro dos olhos de seu pai", o processo de transmisso cultural, e a descontextualizao e recontextualizao contnuas que a transmisso cultural acarreta, tudo conspira para frustrar nossa esperana de que o texto esteja radiante com a presena do passado.95 Embora concedamos ao texto um status moral privilegiado, no podemos conceder-lhe um status epistemolgico privilegiado; o texto - todo texto - ser sempre epistemologicamente inadequadoag6
Uma vez aceito que os historiadores sustentam a responsabilidade por aqueles que viveram no passado, nossa responsabilidade primria deve ser para com aqueles de ns que vivem no presente. Pois, como explicou Frank Kermode, "estamos necessariamente mais envolvidos com os vivos do que com os mortos, com aquilo que o aprendizado aca-
,, 97 ' lenta e a interpretao refresca, e no com meras relquias . E por esta razo que o historiador deve pretender no somente entender os escritores do passado, mas reeduc-los, anacronisticamente, impondo "o suficiente de nossos problemas e de nosso vocabulrio para fazer deles familiares
3, 98 parceiros de conversa . O livro de P. F. Strawson, The Bounds of Sense, nos fornece um bom exemplo. Strawson despojou Emmanuel Kant de seu contexto, despiu se pensamento de tudo que, segundo Strawson, no deveria estar l, e fi! ostrou-nos que, para nossos propsitos, vivendo em nosso presente, este kantismo renovado funciona melhor que o original.99 Como comentou Richard Rorty, "a conversa de Strawson com Kant -- - - -
22, mas especialmente 18-19. Kloppenberg contrastou o compromisso tradicio- nal de Hollinger com o sujeito histrico com a abordagem desconstrutiva auto- anuladora de LaCapra. Kloppenberg receava que o mtodo de LaCapra "tomasse impossvel a escrita da histria"; p. 7.
" Anna Smith. "The death of the critic?". Untold, 3, Sptember 1987, p. 46. " A distino entre privilgio moral e epistemolgico de Rorty. Conse-
quences ofpragmatism, p. 202. " Kermode. Forms ofAttention, p. 75. " Rorty, in: Rorty, Schneewind e Skinner, Philosphy in History, p. 49. 99 P. F. Strawson. The bounds of sense: an essay on Kant 's "Critique of Pi~re
Reason". London: 1966.
-
52 A histria intelectual e o retorno da literatura
aquela do tipo que se tem com algum que seja brilhantemente e origi- nalmente certo acerca de algo querido ao corao, mas que exasperada-
,, 100 mente mistura seu assunto com um monte de bobagens ultrapassadas .
Os historiadores geralmente no condenam este tipo de coisa logo de uma vez; eles simplesmente no acham que isto seja "hist~ria".'~' Eles consideram a colocao de atores histricos em seus "prprios" contextos como a "primeira tarefa do historiador", a "prioridade de seu negcio", "uma questo de sua propriedade", e assim por diante.lo2 Para os historia- dores intelectuais, isto significa a reconstruo da mentalit de uma poca em particular, suas idias e valores centrais, seus modos de percepo, seus sistemas de discurso, suas estruturas formais de pensamento, os mo- dos como o significado produzido e disseminado, e os procedimentos usados na trad