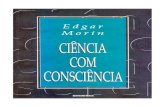Ciência com consciência
-
Upload
marlene-macario -
Category
Education
-
view
284 -
download
2
Transcript of Ciência com consciência

Marlene Macario de Oliveira
MORIN, EDGAR. CIÊNCIA COM CONSCIÊNCIA. LISBOA: PUBLICAÇÕES EUROPA-AMÉRICA, 1982.

PRIMEIRA PARTE
Na ciência nada é absoluto, mas também nada é relativo, assim, deverá se autorefletir, comportando em si mesma a incerteza, o conflito e o jogo.

Consciência sem ciência e ciência sem consciência são radicalmente mutiladas e mutilantes. Os caminhos para a complexidade são, ao mesmo tempo, os de um conhecimento que tenta compreender-se a si próprio, isto é, de uma ciência com consciência (pg. 11)”.
Citando Popper, o autor esclarece que a evolução do conhecimento científico não deverá ser encarada, unicamente, como crescimento e extensão do saber, mas também como transformações, rupturas e passagem de uma teoria para outra, na qual a consideração da dualidade incerteza-certeza constrói os percursos a serem trilhados.
A ideia de Morin é de uma ciência a serviço da sociedade e daí a necessidade de um autoconhecimento da própria ciência.

Apresenta os problemas éticos e morais da ciência contemporânea, provocando uma reflexão sobre a maneira como a ciência vem sendo trabalhada e abordada pela mídia, pelas escolas, nos ambientes de trabalho e na sociedade em geral. Diz que a ciência que hoje se faz, não tem consciência.

“vivemos numa era histórica em que desenvolvimentos científicos, técnicos e sociológicos estão cada vez mais em inter-retroações estreitas e múltiplas (p.19)”
Na prática, parece que a ciência se transformou numa espécie de joguete perante a sociedade, uma vez que ela acaba sendo controlada pelos poderes econômicos e estatais.
Sempre tem um interesse pessoal, capitalista e político por detrás de tudo o que é criado, inventado, descoberto e construído através da ciência e da tecnologia.

Para Morin a concepção de ciência diz sobre um campo sempre aberto, dialógico entre teorias e os princípios de sua explicação, isto é, as visões de mundo e os postulados metafísicos.
O conhecimento científico não é o reflexo das leis da natureza, mas traz com ele um universo de teorias, de ideias, de paradigmas, que carregam consigo todo o enraizamento cultural, social, histórico dos indivíduos que concebem essas teorias. Por isso, é necessário que toda a ciência se interrogue sobre as suas estruturas ideológicas e o seu enraizamento sociocultural.

Afirma que “nos falta uma ciência capital, a ciência das coisas do espírito ou noologia, capaz de conceber como e em que condições culturais as ideias se agrupam, se encadeiam, se ajustam umas às outras, constituem sistemas que se auto-regulam, se auto-defendem, se auto-multiplicam, se auto-programam. Falta-nos uma sociologia do conhecimento científico que seja não só poderosa, mas também mais complexa que a ciência que examina (p.26)”.
Morin aponta que o “progresso” do conhecimento científico exige que o observador se inclua em sua observação, o que concebe em sua concepção (p.29)”. Isto diz sobre a relação entre um sujeito pesquisador e o objeto pesquisado, o sujeito pesquisador deverá sempre ter uma atitude autocrítica e de autorreflexão acerca dos conhecimentos que vai produzindo, sem esquecer a complexidade que o real comporta.

Morin inicia a discussão e a definição da Epistemologia da Tecnologia, definida como a inserção do complexo de manipulação/simplificação/racionalização no âmago de todo pensamento relativo à sociedade e ao homem.
Aqui é mencionada a ideia do ciclo que envolve a ciência, a tecnologia e a indústria, porém, não com o intuito de isolar a tecnologia, e sim, unir o termo em macroconceito que reagrupe em constelação outros conceitos interdependentes.
Já não se pode separar o conceito tecnologia do conceito ciência e do conceito indústria; trata-se de conceito circular, porque, no fundo, todos sabem que um dos maiores problemas da civilização ocidental está no fato de a sociedade evoluir e se transformar exatamente no circuito ciência ->
->tecnologia -> indústria em que, aliás, é tida a impressão de que o termo "técnica", techné, polariza alguma coisa; e o que se polariza em primeiro lugar é a ideia de manipulação.

Assim, a sociedade humana está envolta nesse processo simplista e manipulador, desenvolvido entre os séculos XVII e XVIII, com a evolução industrial, que levou à evolução da técnica, vinda da ciência, e da racionalização. Nesse mesmo processo evolutivo pode ser destacado a cibernética que serviu de redução de tudo aquilo que é social, humano, biológico à lógica unidimensional das máquinas artificiais.
A grande questão sobre a adoção da lógica maquinicista é que essa apenas aceita lógicas artificiais, não tolerando a desordem, esta composta pela destruição, pela liberdade e pela criatividade. Porém, ressalte-se que o conflito, a desordem e o jogo não são escórias ou anomias inevitáveis, não são resíduos a reabsorver, mas constituintes – chaves de toda existência social: é isso que se deve conceber epistemologicamente.
A sociedade comporta porção significativa da desordem. Tudo se passa como se a sociedade se baseasse numa espécie de simbiose de duas fontes absolutamente diferentes. Então, a sociedade é bipolarizada: num polo está o conflito, a concorrência, em outro, a comunidade, e a partir dessa bipolarização a sociedade se reorganiza e se produz incessantemente.

Os Cientistas, nesse contexto servem a dois deuses completamente antagônicos: o deus da ética, do conhecimento, que manda sacrificar tudo à libido scienti, e o deus da ética cívica humana. Há certamente um limite para a ética do conhecimento; mas era invisível a priori e que o transpunha sem saber que é o limite no qual o conhecimento traz consigo a morte generalizada.
É necessário entender que a noção de responsabilidade do cientista nos obriga a ser responsáveis pelo uso da palavra responsabilidade, isto é, nos obriga a revelar suas dificuldades e complexidade.
Há um verdadeiro desapossamento cognitivo, não só entre os cidadãos, mas também entre os cientistas, eles próprios hiperespecializados, sendo que nenhum deles pode controlar e verificar todo o saber produzido atualmente.
Além disso, a pesquisa entrou nas instituições tecnoburocráticas da sociedade; por causa disso a administração tecnoburocrática reunida à hiperespecialização do trabalho produz a irresponsabilidade generalizada.

Por que se chegou a isso? O diagnóstico foi feito há cinquenta anos por Husserl, matemático e filósofo alemão, numa famosa conferência sobre a crise da ciência europeia. Ele mostrou que havia um buraco cego no objetivismo científico: era o buraco da consciência de si mesmo. A partir do momento em que, de um lado, aconteceu a disjunção da subjetividade humana reservada à filosofia ou à poesia e, do outro, a disjunção da objetividade do saber que é próprio da ciência, o conhecimento científico desenvolveu as maneiras mais refinadas para conhecer todos os objetivos possíveis, mas se tomou completamente cego na subjetividade humana; ele ficou cego para a marcha da própria ciência: com os métodos de que dispõe hoje em dia a ciência não pode se conhecer, não pode se pensar.
O que também pode ser levantado é a questão da separação sujeito/objeto, um dos aspectos essenciais de um paradigma mais geral de separação/redução, pelo qual o pensamento científico ou distingue realidades inseparáveis sem poder encarar sua relação, ou identifica-as por redução da realidade mais complexa à menos complexa.

Morin destaca também que todos os problemas de origem da ciência estão relacionados à desdogmatização da verdade. A concepção medieval da verdade não se julgava arbitrária. Não dispunha apenas, como fundamento, da revelação divina a escolástica medieval (pelo menos a que tinha integrado o aristotelismo) pensava que sua concepção era racional; todas as observações que contradiziam sua visão eram denunciadas como irracionais. É em nome daquilo que se julga ser a racionalidade — mas que não é mais do que a racionalização que se recusa o julgamento dos dados; a emergência de uma idéia nova, pelo escândalo que provoca num sistema, pela ruína que ameaça introduzir, é vista como irracional, porque vai destruir aquilo que esse sistema julgava ser a sua própria racionalidade.
Foi por isso, aliás, que as primeiras descobertas científicas pareceram inteiramente irracionais.
Após tais críticas, Morin se concentra na procura de uma razão aberta, trazendo para isso, inicialmente, as definições da razão, do racionalismo e da racionalização. Denomina razão um método de conhecimento baseado no cálculo e na lógica (na origem, ratio significa cálculo), empregado para resolver problemas postos ao espírito, em função dos dados que caracterizam uma situação ou um fenômeno. A racionalidade é o estabelecimento de adequação entre uma coerência lógica (descritiva, explicativa) e uma realidade empírica.

O racionalismo é, em primeiro lugar uma visão do mundo afirmando a concordância perfeita entre o racional (coerência) e a realidade do universo; exclui, portanto, do real o irracional e o arracional; em segundo lugar significa uma ética afirmando que as ações e as sociedades humanas podem e devem ser racionais em seu princípio, sua conduta, sua finalidade.
A racionalização é a construção de uma visão coerente, totalizante do universo, a partir de dados parciais, de uma visão parcial, ou de um princípio único. Assim, a visão de um só aspecto das coisas (rendimento, eficácia), a explicação em função de um fator único (o econômico ou o político), a crença que os males da humanidade são devidos a uma só causa e a um só tipo de agentes constituem outras tantas racionalizações. A racionalização pode, a partir de uma proposição inicial totalmente absurda ou fantasmática, edificar uma construção lógica e dela deduzir todas as consequências práticas.

A razão torna-se , assim, o grande mito unificador do saber, da ética e da política. Há que viver segundo a razão, isto é, repudiar os apelos da paixão, da fé; e, como no princípio de razão há o princípio de economia, a vida segundo a razão é conforme aos princípios utilitários da economia burguesa. Mas também a sociedade exige ser organizada segundo a razão, isto é, segundo a ordem, a harmonia.
A partir do desenvolvimento das técnicas e da visão racionalista do mundo, desenvolvem-se ideologias e processos racionalizadores, que eliminam aquilo que, no real, lhes é irredutível. Assim, o economicismo toma-se ideologia racionalizadora. Tudo aquilo que, na história humana, é "ruído e furor", tudo aquilo que resiste à redução passa pela trituradora do princípio de economia-eficácia. Donde a tendência para explicar tudo em função dos interesses econômicos. A razão fechada rejeita como inassimiláveis fragmentos enormes de realidade, que então se tornam a espuma das coisas, puras contingências. Assim, foram rejeitados: a questão da relação sujeito-objeto no conhecimento; a desordem, o acaso; o singular, o individual (que a generalidade abstrata esmaga); a existência e o ser, resíduos irracionalizáveis. Tudo o que não está submetido ao estrito princípio de economia e de eficácia. A poesia, a arte, que podem ser toleradas ou mantidas como divertimento, não poderiam ter valor de conhecimento e de verdade, e encontra-se rejeitado, bem entendido, tudo aquilo que denominamos trágico, sublime, irrisório, tudo o que é amor, dor, humor...
Só uma razão aberta pode e deve reconhecer o irracional (acaso, desordens, aporias, brechas lógicas e trabalhar com o irracional); a razão aberta não é a rejeição, mas o diálogo com o irracional.

SEGUNDA PARTE
o pensamento complexo
como o universo é concebido para que se faça ciência?

Não há nada simples na natureza, só há o simplificado, disse Gaston Bachelard, filósofo e poeta francês, ao considerar a complexidade como um problema fundamental. Um problema que ficou esquecido e não mencionado nos grandes debates da epistemologia anglo-saxônica, envolvendo grandes personalidades como Popper, Kunh, Lakatos, etc. O primeiro grande texto sobre a complexidade foi de Warren Weaver, matemático estado-unidense, onde afirmava que no século XIX reinava a complexidade desorganizada e que no século XX predominaria a complexidade organizada, o que de fato aconteceria no século XXI.
A grande queixa de Morin foi de perceber apenas um tratamento marginal da complexidade suscitando mal-entendidos fundamentais: a complexidade tida como uma receita e como sinônimo de completude.
A visão da complexidade como uma receita incita a simplificação, a uma busca por respostas, ao invés de se traduzir como um desafio ou um estímulo ao pensar. Concebeu-se a complexidade como um inimigo da ordem e da clareza e, nessa condição, aparece como uma procura viciosa da obscuridade (p. 176).. O grande problema da complexidade seria o esforço para conceber um incontornável desafio que o real lança a nossa mente (p. 176), diferente da visão já consolidada de dificuldade e acesso complicado ao saber complexo.

Um segundo mal entendido repousa na visão de completude do conhecimento. A complexidade não se traduz em completude, mas sim em incompletude: o todo não é tudo.

O pensamento complexo tenta dar conta daquilo que o pensamento mutilante faz, por isso luta contra as mutilações e não contra a incompletude. Luta contra o reducionismo e a simplificação exagerada em busca do domínio da realidade.
A ambição da complexidade é prestar contas das articulações despedaçadas pelos cortes entre disciplinas, entre categorias cognitivas e entre tipos de conhecimento (p. 176).. É um esforço para visualizar a multidimensionalidade do conhecimento e dos fenômenos existentes. Esse esforço ampara-se no pensamento sistêmico, conceito decorrente da teoria geral de sistemas, cujas bases são entender e lidar com as complexidades existentes.
A partir do enfoque sistêmico podemos: visualizar as partes que formam a complexidade e como estas se relacionam; perceber o todo formado pela relação entre as partes; resolver os problemas complexos. Fala-se que o enfoque sistêmico é uma das principais ferramentas de estudo da realidade. Nesse contexto, Morin ainda destaca que o erro das ciências humanas e sociais era o de não poder se livrar da complexidade aparente dos fenômenos humanos para se elevar à dignidade das ciências naturais (p. 177), onde reinava o determinismo e o reducionismo.
Hoje, percebe-se uma crise dessa explicação simples das ciências naturais (exatas, biológicas, físicas...). O que parecia resíduo não científico das ciências humanas e sociais, a incerteza, a desordem, a contradição, a pluralidade, a complicação, etc., compõe a problemática geral do conhecimento científico. Assim, parece que não há um caminho único para se chegar à complexidade. Questiona-se até se existem complexidades em vez de uma única complexidade. Então, Morin indica diferentes caminhos, que chama de avenidas, que conduzem ao desafio da complexidade.

1ª avenida
A irredutibilidade do acaso e da desordem.
A desordem e o acaso estão presentes no universo e ativos em sua evolução. Não há como definir o acaso, pois está presente na desordem e pode ser decorrente, ou não, da ignorância. A incerteza continua inclusive na natureza da incerteza que o acaso traz.
2ª avenida
Transgressão dos limites da abstração universalista (ciências naturais) que elimina a singularidade, a temporalidade e a localidade.
Tempo, localidade e singularidade agem de modo interconectado, de modo que não se pode colocá-los num plano universal. Eles devem ser unidos, interrelacionados e contextualizados.
3ª avenida
O problema da complicação
A descoberta que os fenômenos sociais e biológicos apresentam um número incalculável de interações e interretroações ressaltou esse problema da complicação. Cada fenômeno apresenta-se na forma de interações e não de elementos isolados, formando uma fabulosa mistura impossível de ser calculada pelo mais potente dos computadores.

4ª avenida
Relação complementar e logicamente antagônica entre ordem, desordem e organização.
Aqui está a localização do princípio “order from noise”, formulado por Heinz Von Foerster (1959), que pressupõe a organização de fenômenos a partir de uma agitação ou turbulência desordenada. Então a ordem pode nascer a partir de uma certa lógica das turbulências da desordem. Esse conceito parece relacionar-se com a teoria do caos que enfatiza a ordem como consequência do caos, este, por sua vez, possibilita a ordem em constante alternância.
5ª avenida
A organização como um sistema formado a partir de elementos diferentes.
A organização é produto das interrelações das partes que a formam, configurando-se como unidade e multiplicidade ao mesmo tempo.

6ª avenida
O princípio hologramático e a organização recursiva.
Um holograma representa um todo, onde as partes estão no todo e o todo está nas partes, assim temos a imagem do fenômeno ora representado. Por exemplo, pode-se mencionar os organismos biológicos, formados por células que apresentam informações genéticas do ser global. Assim, não se concebe estudar um sistema complexo apenas por suas partes (reducionismo) ou, o contrário, estudar um sistema apenas pelo todo, tentando deduzir as características das partes (holismo). É o abandono de uma explicação linear por uma explicação em movimento das partes para o todo e do todo para as partes, para, assim, compreender o fenômeno. A esse princípio, acrescenta-se o princípio da organização recursiva onde os efeitos e produtos são necessários à sua própria causação e à sua própria produção. Ou seja, são interações que formam um todo organizador que retroage sobre as partes para coproduzí-las num movimento dinâmico e ininterrupto.

7ª avenida A crise de conceitos fechados e claros. É a ruptura do modelo cartesiano (linear) que defende a clareza e a explicação como sinais determinantes da verdade. As demarcações absolutas são questionadas. Isolar um sistema de seu meio ambiente para se ter um conceito claro e fechado da sua significação não é mais suficiente. Aqui também se discute o conceito de autonomia: “é preciso ser dependente para ser autônomo”. Um sistema precisa se alimentar do meio para ser autônomo. As certezas e verdades absolutas cedem espaço para as contradições, as ambiguidades, a complexidade.
8ª avenida Retorno do observador à sua observação. Não é concebível eliminar o efeito do observador do fenômeno estudado, principalmente nas ciências sociais. Tanto a observação interfere no objeto estudado quanto o forma (produz). Há uma relação inegável entre o sujeito e o objeto o que forma um sistema único e complexo entre o sujeito, o objeto e o processo de observação.

Essas avenidas exibem os possíveis caminhos no universo da complexidade e formam o que Morin chama de tecido da complexidade onde sua formação se dá através da inter-relação de diferentes fios, transformando-se numa só coisa.
Um cruzamento entre avenidas que forma uma unidade da complexidade, porém esta unidade não destrói a variedade e a diversidade das complexidades que o teceram (p. 188). Num primeiro momento, a complexidade chega como um nevoeiro, como confusão, como incerteza, como incompressibilidade algorítmica, incompreensão lógica e irredutibilidade (p. 188). É um obstáculo, um desafio, um convite para abrir a caixa preta (aquela de Pandora). Alguns se acovardam e resistem, fogem do saber e preferem permanecer no porto seguro do status quo. Por isso, complexidade é popularmente relacionada à complicação.
Por outro lado, ao optar por passear pelas avenidas da complexidade começa-se a dar forma a um pensamento multidimensional, que vai na contramão dos processos tradicionais de construção do saber e determinação da verdade. Percebe-se o caminho do pensamento dialógico que configura a unidualidade do complexo, a união de preceitos antagônicos a partir de processos que os interrelacionam. Uma nova forma de dialogar com o universo, um novo modo de fazer ciência, onde os antagonismos são estimuladores e reguladores, onde os fundamentos se amparam na dialógica entre empirismo e realismo, entre imaginação e verificação.

O método da complexidade conduz ao pensamento de conceitos inacabados ou em constante construção a fim de quebrar as esferas fechadas e estabelecer relações entre o que estava separado para pensar em uma totalidade integradora. A totalidade é, ao mesmo tempo, verdade e não-verdade (p. 192) , e a complexidade é a junção de conceitos que lutam entre si.
A luta entre conceitos, mencionada anteriormente, tem por objetivo a construção de um diálogo entre os mesmos a fim de se formar o tecido que sustentará a construção da visão de mundo ou de um fenômeno específico. O desafio aqui é promover uma nova forma (modelo) de olhar a partir do relacionamento entre ordem, desordem e complexidade.

O método da complexidade conduz ao pensamento de conceitos inacabados ou em constante construção a fim de quebrar as esferas fechadas e estabelecer relações entre o que estava separado para pensar em uma totalidade integradora. A totalidade é, ao mesmo tempo, verdade e não-verdade (p. 192) , e a complexidade é a junção de conceitos que lutam entre si.
A luta entre conceitos, mencionada anteriormente, tem por objetivo a construção de um diálogo entre os mesmos a fim de se formar o tecido que sustentará a construção da visão de mundo ou de um fenômeno específico. O desafio aqui é promover uma nova forma (modelo) de olhar a partir do relacionamento entre ordem, desordem e complexidade.
Morin destaca a necessidade de pensar conjuntamente, em sua complementaridade, sua concorrência e seu antagonismo, as noções de ordem e desordem que levantam exatamente a questão de pensar a complexidade da realidade física, biológica e humana. Esse fato é negligenciado pelos modelos de processos de pesquisa científica tradicionais. Agora a perspectiva é de incluir-nos em nossa visão do mundo: o retorno do observador à observação.
Navegando pela complexidade da proposta de diálogo entre conceitos antagônicos (dialógica), o autor propôs um esquema visual para materializar essa fala que permeia o universo da metafísica.

Então, precisamos conceber o nosso universo a partir de uma dialógica entre esses termos, cada um deles chamando e precisando do outro para se constituir como uma entidade única, com partes inseparáveis. A desordem gera incerteza que ameaça a organização, ameaça que vem do ambiente externo (acidente destrutivo) quanto do interno (aumento da entropia). Essa mesma desordem coopera com a ordem para criar a organização, num processo dinâmico de interações. A ideia de desordem é não só ineliminável do universo, mas também necessária para concebê-lo em sua natureza e evolução (p. 201).

A ideia de interação é viva e permeia toda a lógica da ciência e da construção dos saberes. Conceitos anteriormente vistos de modo contraditórios e em direções opostas, são postos aqui em uma plataforma de interação em busca de um diálogo. Dentro deste contexto, o autor declara que é necessário reconhecer o campo real do conhecimento que seria não o objeto puro, mas o objeto visto, percebido e coproduzido pelos observadores (ou atores). O objeto do conhecimento não seria o mundo, pois este faz parte da nossa visão de mundo, que faz parte do nosso mundo real que pertence a um universo do qual o observador nunca poderá eliminar as desordens nem ele mesmo (p. 205)..

Nesse contexto, Morin deixa algumas mensagens (ou orientações) para que ocorra o diálogo com maestria durante o processo de descoberta do mundo:
Trabalhe com a incerteza
Dialogue com o irracionalizável do universo
Não busque fórmulas-chaves que comandem o universo
A seguir o filósofo francês segue mergulhando mais ainda na visão constituída, ora questionando, ora acrescentando mais ingredientes nessa teia de conceitos dialogicamente unidos e relacionados.

Por um lado, a ordem revelando um universo assimilável e trazendo a coerência lógica, a possibilidade de induzir e deduzir e, portanto, de prever.
Do outro lado, a desordem carregando a eventualidade e os acasos provocando a angústia da incerteza diante do incontrolável, do imprevisível, do indeterminável.
Nossa mente é impotente diante de um fenômeno desordenado! O esforço do francês em abordar esses conceitos tem o objetivo de demonstrar que o ambiente, o universo, o fenômeno a ser pesquisado é formado de modo dinâmico e sistemático a partir de processos, ou sequências de acontecimentos, que representam um movimento de evolução.
Entendemos que o desafio é despertar a consciência do pesquisador para que efetivamente se perceba essa construção, evitando deste modo, o relativismo exacerbado.

Esse mundo que Morin insiste que visualizemos é mundo porque o construímos. O campo do conhecimento não é mais o do objeto puro, mas o do objeto visto, percebido, coproduzido por nós, observadores-conceptores, sujeitos-atores histórico-sociais. Campo esse que permite, a partir da ciência moderna, um diálogo com a incerteza e a incompletude. O objetivo é dialogar com o mistério do mundo.

De uma forma geral, Morin considera que o sistema não é uma palavra-chave para a totalidade, é uma palavra-raiz para a complexidade.
Neste sentido, ao considerá-lo como teoria, a ideia sistêmica permanece no paradigma de separação/simplificação, tornando-se reducionista por redução ao todo (holismo).
Só no nível paradigmático (definido como o conjunto das relações fundamentais de associação e/ou oposição entre um número restrito de noções-chaves, relações essas que vão comandar-controlar todos os pensamentos, todos os discursos, todas as teorias), em que desabrocha verdadeiramente a sua complexidade virtual, a sistêmica poderia abrir-se para uma nova organização (complexa) do pensamento e da ação.

Ele discorre sobre o conceito de sistema, afirmando que este é um macroconceito de três faces, a saber:
1. Sistema: que exprime a unidade complexa e o caráter fenomenal do todo, assim como o complexo das relações entre o todo e as partes;
2. Interação: que exprime o conjunto das relações, ações e retroações que se efetuam e se tecem num sistema;
3. Organização: que exprime o caráter constitutivo dessas interações – aquilo que forma, mantém, protege, regula, rege, regenera-se – e que dá à ideia de sistema a sua coluna vertebral. Dá ênfase ao papel desempenhado pelo observador na construção do conhecimento, considerando que o sistema é de caráter psicofísico, caracterizando a indissociabilidade da relação sujeito observador/objeto observado– introduzindo um segundo grau reflexivo – de um conhecimento do conhecimento, onde o observador é incluído na observação – observação/percepção/concepção.

Compreendemos, então, que a questão levantada pelo autor, não é fazer uma teoria geral abrangendo as partes, mas considerar a riqueza do real, à luz da complexidade sistêmico-organizacional, unindo noções que se excluem no âmbito do princípio de simplificação/redução: uno/múltiplo; todo/partes; ordem-organização/desordem; sujeito/objeto; observador/sistema observado.
Segundo Morin, o novo paradigma consiste em fazer progredir a explicação, não eliminando a incerteza e a contradição, mas as reconhecendo, ou seja, em fazer progredir o conhecimento pondo em evidencia a zona de sombra que todo saber comporta (reconhecer a ignorância).

Morin assegura que ao aplicarmos a visão científica clássica à sociedade, só vemos determinismos, o que exclui toda a ideia de autonomia nos indivíduos e nos grupos, excluindo a individualidade, a finalidade e o sujeito.
Ao interrogar o que se passa atualmente no domínio das ciências sociais, enfatiza que na realidade há duas sociologias em uma: uma que se pretender científica (determinista) – que elimina a ideia de atores, de sujeitos, uma ciência privada da vida; e a que resiste a essa cientificação – que trata de atores, de sujeitos, de tomada de consciência, de problemas éticos, considerada pelos cientistas como destituída de fundamento científico (p. 278).

Além disso, Morin garante que para sermos capazes de pensar a realidade antropossocial em sua complexidade, precisamos de um método que saiba distinguir, mas não separar e dissociar, e que saiba promover a comunicação do que é distinto, respeitando o seu caráter multidimensional – dimensões biológica, social e individual, para enfrentar as questões do sujeito e da autonomia.

Nesse sentido, Morin propõe uma revolução de pensamento, a saber: a inserção do conceito de retroação que efetua uma revolução conceitual porque rompe com a causalidade linear, fazendo-nos conceber o paradoxo de um sistema causal cujo efeito repercute sobre a causa e a modifica, aparecendo a causalidade em anel; a constatação de que um todo organizado dispõe de propriedades, até mesmo no nível das partes, que não existem nas partes isoladas do todo, as propriedades emergentes, que uma vez produzidas retroagem sobre condições de sua formação, e entre essas propriedades as quais está a qualidade de autonomia; a noção de sistema aberto que é um sistema que pode alimentar sua autonomia, mas mediante a dependência em relação ao meio externo, trazendo à tona o pensamento-chave de autonomia/dependência que a realidade nos obriga a conhecer – quanto mais um sistema desenvolver sua complexidade, mais poderá desenvolver sua autonomia, mais dependências múltiplas terá;
outra noção para fundar a ideia de autonomia viva é a de auto-organização, que é uma organização que incessantemente se autorepara, se autoreorganiza, implicando também na dependência em relação ao mundo externo. Desta forma, conclui que os indivíduos fazem a sociedade, que, por meio da cultura, faz os indivíduos. Portanto, a autonomia da sociedade depende dos indivíduos, cuja autonomia depende da sociedade.

Com os conceitos da ciência nova em gestação no domínio físico e biológico das questões da organização, podemos reconhecer na sociedade não apenas processos, regularidades, aleatoriedades, mas também seres, entes, indivíduos, reconhecendo e ajudando as aspirações individuais, coletivas e étnicas de autonomia e de liberdade. Assim, a resposta da ciência à questão social será sua contribuição para as aspirações profundas da humanidade.
Ao tratar da auto-organização, Morin afirma que o sistema vivo possui e combina até o extremo a complexidade sistêmica, a complexidade de sistema aberto, a complexidade cibernética, mas que essas ordens de complexidade dependem de um princípio organizador diferente. Para ele, devemos captar a complexidade interna própria do autômato natural (auto-organizadora) sem eliminar a complexidade de sua relação com o externo (ecossistema), a única que lhe permite a complexidade interna, ou seja, mais uma vez, sua auto-organização. Isto porque quanto mais evoluído for o ser vivo, mais autônomo será, mas mais dependerá de seu ecossistema para extrair energia, informação, organização. É, portanto, auto-organizador sem ser autossuficiente.

Nesse contexto, Morin apresenta a diferença do autômato artificial e o autômato natural sob três aspectos diferentes:
1. As máquinas são compostas por elementos extremamente confiáveis, mas a sua confiabilidade é muito reduzida, ou seja, pára e sofre avaria logo que um dos seus elementos se degrada, enquanto os seres vivos são compostos por elementos muito poucos confiáveis, mas o conjunto é muito mais confiável do que seus constituintes, funcionando apesar da degradação definitiva de certos constituintes;
2. A máquina artificial não apenas sofre em pouco tempo desordem, ruído, erros, mas também não os pode tolerar, em contrapartida, quanto mais evoluído for um ser vivo, mais complexo ele é e mais compreende em si desordem, ruído e erros;
3. As máquinas começam a degradar-se a partir do momento em que são constituídas e o poder regenerador está no seu exterior, já as máquinas vivas são, pelo menos temporariamente, não degenerativa, porque são capazes de renovar seus constituintes moleculares e celulares que se degradam, dispondo de um poder de geratividade..

A capacidade dos seres vivos de se organizarem incessantemente por meio de desordens, antagonismos, conflitos que minam sua existência e, ao mesmo tempo, mantêm sua vitalidade é, também, destacada pelo teórico francês. Ele considera ainda que complexidade biológica traz consigo uma aptidão morfogenética, ou seja, uma aptidão para criar formas e estruturas novas que, quando trazem aumento de complexidade, constituem desenvolvimentos da auto-organização. Quanto mais complexos forem os comportamentos, mais manifestarão flexibilidade adaptativa em relação ao ambiente, os comportamentos serão aptos a se modificar em função das mudanças externas.
Morin considera o conceito autos mais rico que si, porque o autos corresponde ao fenômeno do si no nível da complexidade biológica, então o autos traz aquilo que é comum à auto-organização, à autopoese, à autoregulação, à autoreferência, e funda a autonomia própria do ser vivo, nos dois aspectos da vida: generativo (que se cristaliza na noção de espécie) e fenomenal (que se cristaliza na noção de indivíduo).

Morin tenta esclarecer que o axioma “só há ciência no geral” tende a ocultar o caráter surpreendente da individualidade viva: a existência de seres singulares, comportando cada um sua diferença empírica, cada um único para ele, cada um computando sua própria existência em função dele e para si. O para-si, a autoreferência, o autoegocentrismo são traços que permitem formular e reconhecer a noção de sujeito. O autos resume em si as condições de existência e de reprodução da vida e toma a forma do princípio de auto-geno-feno-organização, de modo que o ser vivo toma os caracteres do indivíduo-sujeito.
Quando Morin se refere à noção de sujeito, ele afirma que a estrutura egocêntrica auto-referente é a qualidade fundamental do sujeito. Ser sujeito não é ser consciente nem ter afetividade, mas tão somente colocar-se no centro de seu próprio mundo. É ocupar-se de si: “Computo ergo sum”. Morin esclarece dizendo que todo mundo pode dizer “eu”, contudo, cada um de nós só pode dizer “eu” por si próprio (autonomia). Ninguém pode dizer “eu” pelo outro. Ser sujeito é colocar-se no centro do seu próprio mundo, é ao mesmo tempo ser autônomo e dependente. Dependente do meio, que é anterior, e autônomo enquanto ocupa-se de si. Já, ser consciente é ter a capacidade de sair de si, de transcender a centralidade da subjetividade, percebendo, ao mesmo tempo, que nosso modo de ser é ser o centro de nosso mundo.

Em seguida, Morin trata dos mandamentos da complexidade, enfatizando que o paradigma da complexidade não “produz” nem “determina” a inteligibilidade.
Pode somente incitar a estratégia/inteligência do sujeito pesquisador a considerar a complexidade da questão estudada, incitando a distinguir e fazer comunicar em vez de isolar e de separar, a reconhecer os traços singulares, originais, históricos do fenômeno em vez de ligá-los pura e simplesmente a determinações, ou leis gerais, a conceber a unidade/multiplicidade de toda entidade em vez de a heterogeneizar em categorias separadas ou de homogeneizá-la em indistinta totalidade.
Estimula a dar conta dos caracteres multidimensionais de toda a realidade estudada.

Por fim, Morin conclui que na perspectiva complexa estabelece-se uma relação recorrente entre método e teoria. O método gerado pela teoria, regenera-a. O método é a práxis fenomenal, subjetiva, concreta, que precisa de geratividade paradigmática/teórica, mas que, por sua vez, regenera esta geratividade.
Assim, a teoria não é o fim do conhecimento, mas um meio-fim inscrito em permanente recorrência. A teoria não é nada sem o método, a teoria quase se confunde com o método ou, melhor, teoria e método são os dois componentes indispensáveis do conhecimento complexo. O método é a atividade pensante do sujeito.

No sentido da complexidade, reconhece-se que não há ciência pura, que há em suspensão – mesmo na ciência que se considera mais pura – cultura, história, política, ética, embora não se possa reduzir a ciência a essas noções. Mas, sobretudo, a possibilidade de uma teoria do sujeito no cerne da ciência, a possibilidade de uma crítica do sujeito na e pela epistemologia complexa, tudo isso pode esclarecer a ética, sem, evidentemente, a desencadear e comandar; e a retomar a questão da política do progresso e da revolução.
• Com o objetivo de reflexão traz-se a seguinte questão: Geralmente, as pessoas associam a ideia de “complexo” a “complicado”, difícil de ser entendido. Nesse sentido, como distinguir o paradigma da complexidade abordado por Morin, no desenvolvimento e progresso da ciência, da associação com complicação?