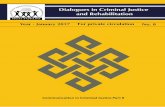A CRISE DE NOSSALINGUA DE CULTURA · 4t Jing11agma ; náo formado em Direito. Ordm. 4· 19- 7· §....
-
Upload
truongdien -
Category
Documents
-
view
218 -
download
0
Transcript of A CRISE DE NOSSALINGUA DE CULTURA · 4t Jing11agma ; náo formado em Direito. Ordm. 4· 19- 7· §....
-tb tempo brasileiro
Biblioteca Tempo Universitário 73
A CRISE DE NOSSALINGUA
DE CULTURA UNGUÀGEM, L f. 0 idioma, Lingu~ . §.
lingu11gtm ; i. ~ , no idioma m:tterno , em rcmanc~ • .§. Ling11agtm ; i. é, versão em vulgar. Eufr. 4· t. §. Mtdico dt linguagtm ; o que só ube o Portuguez. Arrats. ~· zo. §. Prc:urodor 4t Jing11agma ; náo formado em Direito. Ordm. 4· 19- 7· §. As Linguagtm ; i. é, as Conjug~· çóes doa V ~rbos na Gramm. §. Lingttagem C'Otn
mi1tMra, com md liga , mt)adO d.'brrviJhara ; i. é • com termos estrangeiros. Cam. t L. §. Modo de pensar 9 e dizer. " Linguagt~n he este ( "'""""'"bem novo., Feyo, Tflft. dt S. Diu. 4.
LINGUAINGA ' ••
l Antonio Houaiss
A /J..Lt ~, ~ ------~
-t ~kft. I dJ=._ ~
~ , J (') t ~ /1f:l
A CRISE DE NOSSA LíNGUA DE CULTURA
•• Robez:to Amaral No_ / I -Có~----~~~
Ficha catalográfica elaborada pela Equipe de Pesquisa da ORDECC
Houaiss, Antônio H835 A crise de nossa língua de cultura 1 Antônio
Houaiss. - Rio de Janeiro : Tempo Brasileiro, 1983.
94 p. (Biblioteca Tempo Universitário ; n .0 73 )
1. Língua Portuguêsa - Brasil 2. Política Lingüística 3. Sócio-lingüística I. Título li. Série
CDU 869.0 (81 ) 801 801:301.01
ANTôNIO llOUAISS (DA ACADEMIA BRASILEIRA)
A CRISE DE NOSSA LÍNGUA DE CULTURA
tempo b rasileiro
Rio de Janeiro 1983'
TÁBUA DA MATÉRIA
Prefácio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Sobre o mundo da lusofonia . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Rascunho nacional 27
A linguagem oficial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Língua e realidade social . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Politolingüística . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Trabalhos do autor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
5
PREFACIO
Meu amigo e confrade Eduardo Portella sugeriu-me que juntasse alguns trabalhos meus, recentes, sobre a situação da transmissão e uso de nossa língua como língua de cultura- isto é, língua que, por sua tradição escrita, é capaz de lidar com quaisquer temas de quaisquer tempos e lugares, temas humanos ou divinos, científicos ou poéticos, particularistas ou universalistas -, o que parece dar-lhe o direito a aspirar ao estatuto de língua de cultura de ponta. É que, com efeito, a nossa língua está entre a dezena que pode erguer-se àquele estatuto dentre os muitos milhares de línguas existentes no mundo. Mas nada garante que o acesso àquele estatuto seja uma fatalidade; ao contrário, se a cultura lusofônica não se empenhar toda inteira nessa direção, o acesso jamais se dará - e haverá prejuízo humano para todos os que falam e falarão o português.
Oriundos de situações diversas, mas unidos pelo mesmo tema, estes estudos encerram - com vantagens didáticas -reiterações de conceitos, sempre sob ângulos diferentes. Tais estudos foram pensados mais para propor indagações do que para resolvê-las ou do que para ensinar o sabido. Isso justifica o caráter que têm de ensaísmo livre, livre também das peias do status artis e do aparato bibliográfico.
Ao sugestor deste livro, este livro é amicalmente dedicado.
Rio de Janeiro, 1.0 de janeiro de 1983
ANT6NIO HOUAISS
7
Sobre o mundo da lusofonia
Parecerão estranhas as considerações que aqui pretendo tecer sobre a natureza da literatura no mundo da lusofonia.
Em primeiro lugar, desejo estimar, no lapso do tempo humano, o próprio fenômeno da linguagem e suas (a meu ver) três diversificações básicas, correspondentes a tr·ês estádios históricos-culturais fundadores. Em segundo lugar, buscarei dar uma tentativa de resposta à questão de saber em quê a emergência da literatura escrita influiu especialmente sobre certas línguas dentre milhares de línguas faladas. Em terceiro lugar, gostarei de relembrar certos procedimentos da língua portuguesa de império e de cultura, em face de línguas congêneres, para, por fim, em quarto lugar, perguntar - perguntar-me, perguntar-lhes, perguntar-nos - que política lingüístico-cultural devemos preconizar para a nossa língua comum no âmbito da lusofonia, se é que vale preconizar algo assim parecido a isso.
Vê-se logo, na proposta que me anima, a vontade de lograr uma síntese de fenômenos complexos e talvez demasiados para serem abrangidos numa exposição sucinta. Mas isso tem sentido na medida que, mesmo chegando a algo sem sentido, buscarei fazê-lo com perguntas que creio pertinentes e vejo há muito tempo subjacentes na pesquisa e pensamento científico e raramente formuladas, por causa do caráter inevitavelmente especulativo sob o qual têm de ser feitas. Os quatro tempos com que tratarei da minha matéria não são propostos senão porque não saberei réssaltar a lógica do último sem bebê-la na que o antecede, e assim até o inicial. Entremos, pois, na nossa própria questão - o fenômeno da linguagem no lapso do tempo humano. Sabemos todos que temos linguagem, que ela é especifica-
9
mente humana por mais que nela possamos ver certas raízes pré-humanas comuns a muitas espécies animais, e que ela existe conosco há muito tempo. Esse existir conosco há muito tempo é nodal para o nosso pensamento aqui e agora. Todas as tentativas de estudar as línguas dos homens sob a luz de uma especificidade funcional - línguas mais próprias para a prática, ou mais próprias para a lógica, ou mais próprias para a ciência, ou mais próprias para a poesia, ou mais próprias para a mística, ou, noutros pólos, mais próprias para o comércio, ou o amor, ou o futebol, ou a prostituição, ou o machismo, ou o chulismo - todas as tentativas feitas até agora para caracterizar uma língua ou línguas sob tal tipo de especificidade funcional revelam, na verdade, apenas certo tipo de dependência dessas línguas para com o momento cultural do povo que a fala ou a escreve: nem o povo "é" aquilo que a língua e cultura revelam, nem a língua em causa "é" assim sempre, nem a cultura em causa deixa de ser fenômeno cultural e, por isso, historicamente condicionado e, por isso, em transformação.
Por exemplo, há um momento na cultura judaica em que seus poetas reconhecem que só sua língua tradicional é capaz de dizer a poesia que lhes vive em sua alma, mas, em contrapartida e concomitantemente, só o árabe lhes parecia língua apta a exprimir o saber dos seus sábios judaicos. Estávamos entre os séculos XI e XIII, quando a ponta de lança do saber humano estava com os árabes. Por exemplo. no Brasil de hoje há cientistas ou sábios ou tecnocratas que prefeririam que todos usássemos do inglês, melhor, do americano, mesmo americanalhado, para que a internacionalização do que é nosso - como dizem ocorrer com a nossa economia na maré da internacionalização da economia universal - fosse uma internacionalização mais expedita, sem tropeços arcaicos como os são os traços culturais nacionais populares. Mas voltemos às línguas. A inespecificidade funcional das línguas parece ser .}ntrínseca às línguas: entretanto, a potencialização e atualização de suas virtualidades funcionais são fatos de sua história cultural: é óbvio que nenhuma das mil línguas usadas pelo milhão de papuásios faz pouço alçados à condição de Estado soberano membro das Nações Unidas, é óbvio que nenhuma das suas mil línguas pode, da noite para o dia, ser usada para diálogo sobre
10
a pesquisa avançada do que quer que for; mas é certo que qualquer uma delas - se, por milagre, houvesse para isso o concurso favorável de circunstâncias externas a essa língua - poderia em certo lapso de tempo (duas ou três gerações, talvez não mais) alçar-se a essa função específica. Ao chegarmos a tal hipótese, não nos furtamos a reconhecê-la de pronto: o pensamento científico moderno, que não era praticado em japonês há pouco mais de um século, em árabe há pouco mais de meio século, em chinês há pouco mais de quatro décadas, em híndi há pouco mais de três décadas -e estou dando só exemplos conspícuos -, hoje, esse pensamento científico é praticado nessas línguas com todo o rigor, às vezes até como pensamento de ponta. Mas - ponta por ponto -, do ponto de vista lingüístico houve para isso inovações linguageiras nessas línguas, de caráter tido como secundário, digamos assim, na crista de certos pressupostos de certos lingüistas: aceitou-se, por neologia, por vernaculização, por semantização conceitual, aceitou-se - dizia eu -a terminologia necessária à enunciação desse pensamento científico de ponta, quase exatamente como se dera com as línguas que pouco antes eram as só de ponta - o inglês, o francês, o russo, e fiquemos nesses exemplos.
Isso pode ser expresso de outro modo: todas as línguas do mundo são - estrutural ejou tipologicamente - aptas a exprimirem todos os fatos humanos, desde que trabalhadas culturalmente para esse fim. Isso pode ser dito de outro modo ainda: a superioridade aparente de uma língua sobre outra é uma superioridade cultural.
Ora, todos nós sabemos que há malogros e milagres. A enxúndia brasileira, por exemplo, é trombeteira de milagreira. Mas há, de fato, um milagre linguageiro por excelência: é que, hoje, conforme for o cômputo, se temos entre duas a três ou a quatro ou dez mil línguas, se todas são virtualmente iguais, se todas poderiam, por exemplo, entrar em cotejo com o francês, o inglês, o russo, o espanhol, o português, o árabe, o imenso grupo ágrafo ou apenas escrito para fins precários comparado com o pequeno grupo de alta tradição escrita passada e alta tradição escrita presente, se não difere pelo que todos têm em comum, a saber, a sistemática, a estrutura, difere por algo às vezes reputado irrelevante - difere pelos respectivos vocabulários e as pra.g-
11
máticas de seu uso. Há, assim, um milagre linguageiro humano positivo: a isonomia sistêmica de todas as línguas; e há, em contrapartida, um milagre linguageiro humano negativo: só algumas foram eleitas. O milagre positivo - a isonomia estrutural - espanta sempre o homem, por mais que lhe pertença. Vê-se que essa coisa está ligada ao que há de mais radical, de mais fundador, de mais intrínseco ao homem.
Em verdade, é muito recente o recuo no tempo com que se vem considerando a hominização. Até, digamos, ontem, supúnhamos que o homem- como tal -era de cronologia bíblica e, assim, o trabalho, a linguagem, a sociedade, a cultura, coisa de seis ou oito mil anos. De um século a esta parte tem havido também aí explooão: explodimos o genus Homo de tal modo que, num curto período de estudos e pesquisas, fomos levados a recuar o Homo sapíens sapíens para 60-100 mil anos, o Homo sapiens para 100-500 anos, o Homo faber para 2 milhões de anos, o Homo habílís para, por ora, 3 milhões de anos - e paremos por aí. Ora, afora certos caracteres somatomorfológicos diferenciais (que, aliás, subsistem aqui e acolá em reis, santos, heróis, sábios e gente do comum como eu), esses Homines todos que citei são reputados estádios ou variantes evolutivas do genus, por causa de algo comum, o sistema nervoso central, no qual, suspeita-se, está a hominização ab ínítío. Há- digamos de passagem- uma certa retórica com a palavra Homo: cada setorização do conhecimento ou do saber se compraz em dar-lhe um epíteto, insinuando com isso criar, no Homo humanus, quer dizer, no homem homem, quer dizer, no homem, uma base ou hierarquia: há, assim, por exemplos poucos, o oeconomicus, o ludens, o loquens, o psychologícus, o imagiiJ'I,ans, o logícus, ademais dos já acima citados: os de cima, estádios evolutivos; os de agora, estratos hierárquicos. De fato, o sistema nervoso central, com seus hemisférios desde sempre nos homínidas e sua massa variando no evolver do tempo para mais, é por ora avaliado implícita ou explicitamente em função da capacidade craniana correspondente: o que parece ser reduzir muito muito a muito pouca coisa.
Há barreiras metodológicas que não nos autorizam a admitir certas hipóteses. Dou um só exemplo: temos de aceitar - pelo menos por ora - a isonomia estrutural das
12
línguas e sua heteronomia cultural, vale dizer, temos que admitir que virtualmente todas as línguas são capazes de exprimir o que quaisquer outras exprimem, mas, ao mesmo tempo, temos que admitir que algumas atingiram um estádio cultural qualitativa e quantitativamente mais apto a exprimir o que outras não exprimem ainda (ou, por acasos históricos, não exprimirão jamais, pois desaparecerão antes). A isonomia estrutural postula, assim, uma heteronomia cultural. Mas, se o homem se põe a indagar sobre a axiologia ou valor das culturas humanas em confronto, esse mesmo homem, ética, estética e cientificamente, é levado a concluir que as culturas têm entre si isonomia cultural, noutros termos, nenhuma cultura humana é bastante superior, humanamente. a outra, para justificar a extinção dessa outra pelos benefícios aue lhe trará a suoostamente .superior. (Pensando bem, isso, tragicamente, cheira a uma síntese do Brasil.)
Repitamos, assim, que há barreiras metodológicas que não nos autorizam a admitir certas hipóteses. Mas há imperativos racionais que criam situações paradoxais que impõem admitir certas coisas, paradoxos que as ciências vão aos trancos e barrancos dirimindo. Por exemplo, a isonomia sistêmica das línguas - cultas ou incultas, ditas primitivas ou ditas evolvidas, registradas recentemente ou que se entremostram por documentos de 5 ou 6 mil anos atrás -, essa isonomia duplamente sistemática, porque sistêmica e porque sistemática, parece postular um processo de aquisição filogenética da linguagem que não pode ter-se consolidado no genus Homo em curto lapso de tempo. Somos, assim, quase compulsoriamente, levados a hipóteses mentais audaciosas na aparência. O estudo antropológico da cultura material, de pesquisas relacionadas com achados datados de 500 mil anos, leva recentemente à fatal necessidade de postular entre os homens conexos com esses achados relações objetivas e subjetivas complexas, só articuláveis através de línguas já altamente elaboradas. Ora, se há meio milhão de anos já se cogita de línguas altamente elaboradas, é porque essa elaboração vinha de antes - ou aparecera de repente, não mais que de repente? E por que não viria da instauração do genus na paisagem terrestre- deixando Vinícius de lado?
Aí está: para quem creia (e é difícil não crê-lo) que Homo é ser social e cultural ab origine, isso se traduz, quase
13
tautologicamene, assim: o homem é primata que para sobreviver tem de viver socialmente, trabalhando colegiada e coletivamente a natureza e a si mesmo, diferenciando-se culturalmente, o que só pode fazer com a produção de instrumentos sociais, culturais e laborais, físicos e espirituais, um dos quais ele desenvolve fundadoramente e automaticamente - a língua, na consubstanciação de todas as "suas" linguagens pré-homínidas e graças à qual o seu labor deixa de ser animalmente repetitivo, para ser criador, instaurando -além do uso dos bens da paisagem e de si mesmo - mudanças e feiçoamentos humanizados, criando isso que é só do homem e do que é humanizado, a saber, a história.
Há razões para crer que, por um longo tempo, Homo teve precárias potencialidades econômicas e instrumentais físicas e espirituais, que lhe impunham forte elo grégário homogeneizante na sincronia e fraca força heterogeneizante na diacronia: qualquer risco heterogeneizante na sincronia impunha a divisão da grei - ou grupo ou unidade social -, fazendo que o cimento gregário, condição da sobrevivência e continuidade social e cultural, supusesse um intrumental físico e psíquico comum - inclusive uma só língua-, instrumental que deveria ser pouco diferenciado sexual e etariamente, já que não se pode cogitar de diferenciação profissional ou dessa coisa moderníssima que é a diferença e subseqüente antagonis~o de· classes.
Nessa paisagem arqueolinguageira é que se vai complexificando o trabalho, a sociedade, a cultura, o psiquismo, o homem. No eixo de 3 milhões de anos, só uma fração de dois milésimos mais ou menos nos é empiricamente documentável em termos lingüísticos, embora só um milésimo seja, a rigor, documentado, com profusão crescente até os dias de hoje.
Com a complexificação gradativa - não importa se por mera acumulação ej ou se por saltos-, a hominização no planeta se foi fazendo ao impulso da divisão da grei (adotemos este termo), o que significava a conquista, pela espécie, do ecúmeno, mas fazendo prevalecer a diferenciação lingüís· tica horizontal, ao serem quebrados os elos gregários homogeneizantes. Se se leva em conta, de um lado, o tempo humano inicial, lento, e se se leva em conta o espaço físico para a sobrevivência de cada grei, compreende-se a racio-
14
nalidade que há por trás destas duas propostas: as greis, se separadas, se faziam muito pouco intercomunicantes e, ipso facto, a diferenciação interlingüística era dominante universal.
A revolução do neolítico parece ser relevantíssima por várias razões já apontadas pelos estudiosos: além de primeira explosão demográfica, de primeira explosão produtiva com aquela concomitante, é a emergência das classes e do estado primitivo e é - para o ponto de vista aqui privilegiado - o período dos primeiros impérios arcaicos, mercê da irrupção da guerra até então ignorada dos homens. Tais impérios se exprimem pelos primeiros embates glotofágicos e etnofásicos, acarretando as primeiras grandes unificações lingüísticas, efêmeras algumas, porque sustentadas apenas pela dominação predatória militar, subsistentes outras, porque convizinhas da conquista espacial, cultural, moral, espiritual, técnica e produtiva. Entre o pólo imperial em que o domínio físico · se fez acompanhar da eliminação pura e simples de etnias e o pólo imperial em que o domínio, uma vez estabelecido, se fez em cada área acompanhar do convívio cultural e, pois, lingüístico, já bilíngüe, já unilíngüe depois, entre esses dois pólos há, já agora, o predomínio das forças sociais lingüisticamente unificadoras sobre as lingüisticamente diferenciadas. E, com efeito, nesse vaivém que tem sido o jogo unificante versus o diferenciante, o diferenciante predominou sobre uma humanidade escassa, enquanto, de seis mil anos a esta data, o unificante tem prevalecido, em última análise, de forma avassaladora.
Dessas línguas imperiais, algumas perduraram (sobre as muitas que eliminaram) em forma de novas diferenciações, como é lícito supor do semítico, do camítico, do indoeuropeu, hipoteticamente de um foco emissor, ainda que de ondas irradiadas temporalmente distantes, fazendo da periferia um documental mais antigo relativamente. Mas é com a escrita - contemporânea dos eventos imperiais antigos - que se inaugura algo sem precedentes na história linguageira da humanidade, ou, noutros termos, na história da humanidade, ou, noutros termos, na história. É com a escrita que- já profanas, já sacras- algumas línguas entram para a transtemporalidade, chamando a si serem o verbo do Verbo.
lB
O fato é que o tempo encurta-se com ser, cada vez mais, tempo humano. No primeiro estádio histórico-cultural, há um primeiro tempo linguageiro que vai de 3 milhões de anos a 50 mil anos atrás apenas; há um segundo tempo linguageiro que vai de 50 mil anos a 6 mil anos atrás, período em que se define a emergência do Estado e a divisão de classes, em que um dos instrumentos básicos é a contabilidade, o deve-haver, com a mnemônica oral, mas mnemônica que, contando também fastos e feitos e origens e fins, cria tal canônica plástica com a palavra que, inventada a escrita e posta a serviço dessa mnemônica, pouco recurso literário terá que ser inventado pelos homens: já havia, antes da escrita, o ritmo querido, os apoios linguageiros mnemônicos, as formas ditas fixas , e, com elas, os chamados mitos, noutros termos, a história verbal possível à racionalidade então possível: eixada sobre recursos que alguns séculos depois serão chamados retóricos. Quando nasce, a literatura escrita já apresenta todos os expedientes formais que ainda a caracterizam - ritmos, versos, versículos, anáforas, homeoteleutos, antíteses, estrofes, paralelismos etc. -, recursos que parecem apenas "colhidos" da oralidade mnemônica: em suma, tudo leva a crer que a literatura sem letras existiu, já quase total na sua formalização, antes da literatura com letras, esse relevante evento de ontem.
Isso ocorre no limiar do terceiro estádio histórico-cultural ou terceiro tempo linguageiro (que obviamente não extingue os anteriores) e ocorre graças à grande invenção da escrita. É mister insistir em que a emergência contábil da escrita é, ao cabo de pouco tempo (dois milênios em certas áreas culturais), a emergência da literatura escrita no seu sentido de reserva dos usos, todos os usos linguageiros, sob forma preservada para os tempos futuros. Em quê esse fenômeno - que só se deu para com umas muito poucac; línguas - alterou substancialmente a capacidade de o homem ser mais homem (e, já num universo partido, de o homem ser cada vez mais inumano com o homem. . . e sobretudo com a mulher e a criança)?
Consideremos que esse fenômeno:
1) primeiro, muda, onde implantado, a memória étnica (prática, teórica, mítica, sacra etc.), que, de literatura oral, virá em breve a ser oralescrita - já pelo primeiro milênio
16
an~ de Cristo, em certas áreas-, mas com seu cânon não na oralidade, mas na escritura - a Bíblia, os homéridas, as epopéias hindus, os livros dos mortos, para, em breve, a partir de Cristo, ser memória predominantemente escrita para as culturas que emergem para a literatação, as quais, desde então, com sucessos vários, ficarão na ponta da história, não raro desconhecendo as culturas ágrafas, quando não as esmagando pura e simplesmente;
2) segundo, muda a própria reserva gráfica, que -mesmo com seus permanentes desastres de transmissão e seus episódicos de conserva, tal o incêndio da biblioteca de Alexandria, catástrofe talvez ainda não bem avaliada pelos homens -, reserva gráfica que passa progressivamente a haurir suas fontes, às vezes viciosamente, na própria reserva, às vezes fecundamente, com evitar a busca do já achado;
3) terceiro, muda a mnemônica, a memória, a cauacidade de reportar-se, de referir-se, de lembrar-se, do próprio homem: se, para as línguas ágrafas, o presente é o presente, pois o que restou do passado é presente e o que não sobreviver não existe, para as línguas escritas o presente é a soma do presente mais todos os passados escritos, na certeza de que o presente escrito será o presente escrito futuro -salvo se os senhores da guerra decidirem atomicamente que não, quando o novo incêndio da nova Alexandria será sem recuperabilidade para Honw.
Sabemos, com efeito, e já a elas nos referimos, que houve línguas imperiais no início da história, stricto sensu: seriam, antes, línguas veiculares, línguas que, não vernáculas, eram as segundas de cada etnia do império, sendo, por isso, a comum do centro político e de todas as etnias, pelo menos para os servidores comandatários do poder imperial. Mas - para atermo-nos ao Ocidente - nada houve de semelhante ao latim, nem mesmo o grego, o sânscrito, o persa. Grosso modo, o caso do latim iria repetir-se, alguns séculos depois, com o português, o espanhol, o inglês, o russo, o francês, o árabe - e fiquemos por aí -, mas com algo de extrema diferenciação, a saber, a vigência de um índice de literariedade muito mais alto no curso do processo de consolidação dessas línguas em nossos territórios. A plena
17
vigência da literatação nos segmentos sociaiS dirigentes e administrativos - até mesmo por pessoas interpostas, seja, escribas e leitores - vai dar, no concurso de outras superioridades de poder, como as técnicas, a:s científicas, as econômicas, as militares, as administrativas, vai dar a essas línguas gráficas uma arrasadora primazia sobre as línguas ágrafas, salvo onde o comportamento social dirigente for como se de língua ágrafa também.
Esse estádio histórico-cultural das línguas - de apenas algumas línguas em face de milhares de línguas que subsistem em concorrência desigual - esse estádio pode ser caracterizado por alguns traços externos, os principais dos quais me parecem ser os seguintes:
1) a literatação ou alfabetização tende a universalizar-se no centro ou nos cent ros de cada um desses impérios modernos;
2) a alfabetização das línguas periféricas é em geral caminho para o bilingüismo oral e gráfico, com integrar, através da escrita, esses literatos alofônicos na língua imperial;
3) os meios de comunicação de massa - desde os quentes, como o livro e suas diversas modalidades, até os menos quentes ou frios ou gélidos, como, segundo os graus de uso, o teatro, o cinema, o rádio, a televisão, os discos, os cassetes, os videocassetes e os futurimedia - os meios de comunicação de massa militam todas em favor da universalização das poucas línguas imperiais, que tendem a dominar sozinhas, como segunda língua via primeira língua, espaços extra-imperiais ou a se superporem em espaços bilíngües, trilíngües, multilíngües, mas provisoriamente poliglóticos, já que a previsão da unificação é quase certa.
Assim, se no cotejo de língua.s do passado podia haver diferenciais quantitativos e qualitativos, seriam diferenciais, à luz do que hoje ocorre, terrestres, em face dos cósmicos de hoje - por dizermos assim. Com efeito, a essa luz, como cotejar qualquer uma das duzentas línguas indígenas existentes entre nós com a nossa língua comum? E, antecipemos, que dizer do português em face do inglês?
18
~sse diferencial lingüístico exprime-se pela banda podre dos estudos lingüísticos, exprime-se internamente não pela diversidade segmentar ou dialetical horizontal, mas pelo fato de que tais línguas imperiais reservam, isto é, têm em reserva, registrados, usáveis ad libitum, segundo as contingências e fins de comunicação ou expressão, um vocabulário crescentemente rico, que responde não apenas à.s necessidades comuns dos seus usuários, senão que também à.s necessidades da comunicação e criação e pesquisa e avanço terminológicos. Assim, enquanto as línguas ágrafas e as recém-literatadas para fins neocolonialistas atingem repertórios lexicais de entre 3 a 6 mil vocábulos, entre os de uso ativo e os de uso passivo, as línguas imperiais gráficas, sobretudo as línguas de cultura, atingiam, já pelo V século depois de Cristo, um repertório historicamente documentado - em que o conceito de hápax ou de pouco usado ou de arcaico é extremamente relativo, quando aplicado a cada registro -atingiam um repertório, repito, de 40 mil vocábulos, repertório que, na modernidade, não é de menos que 400 mil vocábulos, para com um máximo de 40 (quarenta?) línguas, dentre as várias mil línguas que ora se falam e em maioria não se escrevem.
São essas 40 línguas as línguas que se usaram para fins universaHstas, abertas a todos os fenômenos humanos e divinos, a todos os espaços e a todos os tempos, para todos os fins, em universos físicos e mentais que seus usuários uerquiriam ou difundiam, alargando os horizontes do possível, do pensável, do praticável - o que, obviamente, nem era feito, nem podia ser feito pelas línguas ágrafas, cuias virtualidades e potencialidades eram limitadas aos níveis da memória, da quase-história e da quase-geografia a que podiam aceder.
É sabido que a dominância dos estudos lingütsticos voltados para as línguas ditas naturais teve sua razão de ser político-cultural: serviu, por exemplo, para melhor conhecer as Hnguas ágrafa.s, para melhor dar-lhes um estatuto escrito incipiente e melhor, assim, assimilá-los ao bilingüismo inicial postulado oelo ideal. inconfesso ou confesso, de monolitismo imoerial. Essa dominância, porém, se serviu a esse lado do império, desserviu a outro lado. cuja dinâmica autógena prosseguiu: desserviu no não saber avaliar a imoortância realmente sem precedentes, para a história do homem nos
19
seus 3 milhões de ano, do fenômeno singular das chamadas línguas de cultura.
Se as línguas de cultura antigas deram o molde, o modelo, o módulo, por assim dizer, das línguas de cultura modernas, há algo de novo, de permeio, que faz, destas, línguas sem precedentes mesmo em face daquelas. Lembremos esse algo: em tempo de Augusto Comte (1798-1857), faz mais ou menos 130 anos, era possível designar todas as ciências, artes, técnicas e profissões com 240 palavras, repito, 240 palavras; em 1963, um grupo de estudos da UNESCO, lembrando Comte, advertia que já então, isto é, em 1963 eram insuficientes 24 mil palavras e locuções para designarem o estado da - não direi divisão do trabalho físico e mental - o estado da pulverização do trabalho, com as terminol.ogia.s C·'Jnexas. Não sem razão, aliás, cerca de 90 % para mais dos 400 mil vocábulos das línguas de cultura modernas foram forjados do século XIX, precisemos, de meados do século XIX para cá.
Seja como for, as línguas modernas de cultura não se apresentam ante o futuro imediato e mais remoto com iguais perspectivas. Com efeito. é possível - creio mais -, é necessário agrupá-las em três situações bem distintas, a saber:
1) há línguas de cultura cujos suportes geográficos e demográficos são ponderáveis: é o que se verifica, por exemplo, com o ingl-ês, o chinês, o russo, o espanhol, o português, o árabe - mas não se verifica, ou não se verifica tão bem, com o francês, com o alemão, com o italiano, com o holandês. com o sueco, o dinamarquês, o norueguês, o hebraico;
2) há línguas de cultura cujos suportes culturais não estão sendo apoiados por uma política específica de culturalização crescente dos que as falam, lêem, escrevem, ouvemé o que se verifica com o híndi, com o urdu, com o indonésio, com- até um certo grave ponto -com o português, quero dizer, com o mundo da lusofonia.
Se a primeira situação acima referida parece evidente - línguas de cultura com horizontes territoriais e populacionais -, o mesmo não se dirá das línguas que, com igual situação, não têm tido qualificação modernizante há longo
20
tempo e apresentam a esse respeito horizontes fechados -como é o caso do português e, em menor grau, do espanhol. Para com o português, em particular, isso pode parecer uma futurologia barata, sobretudo aos olhos dos ufanistas baratos, que podem alegar que já nesta altura o português é a sétima língua mais falada do mundo, quando, há um milênio, apenas começava a ser falado, e que o ecúmeno brasileiro por si só potencializa mil milhões de habitantes - o que se diz também um bilião -, isso sem contar o potencial dos países soberanos da Africa que têm no português um instrumento de comunicação veicular e cultural, quiçá da própria língua de cultura.
Ora, nesta altura, os caracteres que a pragmática lingüística vem revestindo nas línguas de cultura levam-nos a dividi-las quase compulsoriamente em três grupos. Para sermos modernosos, chamemos-lhe grupo de línguas de cultur:t de ponta em expansão - como o inglês e o russo, para dar dois exemplos indisputáveis; grupo de línguas de cultura estáticas, como o são as línguas do tipo das escandinavas, certas línguas da ·Europa central, as quais, tentando acompanhar a pragmática das primeiras citadas, são importantes para universalizar-se e têm que recorrer, nas mensagens universalizantes, ao inglês ou ao russo - à.s vezes também ao francês e ao alemão-; grupo de línguas de cultura jiboiantes, que, por terem deglutido territórios e povos, não estão podendo dar a essa deglutição o estatuto da modernidáoe. E não será difícil de reconhecer, dentre as línguas de cultura atuais, um grupo que se apresenta já em franca retração - como é o flamengo ou holandês, com um bilingüism0 com o inglês quase total, ou como pode vir a ser o híndi ante o inglês.
A situação do português é de interesse especial para nós, sob as luzes por que tenho aqui considerado as línguas de cultura. Seu atraso na acessão da escrita é relativamente pequeno no âmbito românico. Mas logo em seguida começou a acumular atrasos quantitativos que, já hoje em dia, se exprimem por atrasos culturais quantitativos e qualitativos.
De fato, a literatação de escola vigorou das origens da escrita até meados do século XIX. Os escribas clérigos da alta Antigüidade seriam 1 sobre 10.000 habitantes, até 1 por mil na alta Idade Média; já na baixa Idade Média, é possível
21
que em certos pontos da Europa, sobretudo na França, se tenha chegado a 1 por 500 ou mesmo 1 por trezentos, quando, além dos clérigos, a literatação se estendeu às damas cortesãs. O Renascimento, porém, é logo acompanhado, graças à imprensa, de um surto sensível de literatação, que cedo atinge 2% em toda a Europa ocidental e quase toda a central: por Europa ocidental entendem-se também Portugal e Espanha. Esse percentual, pelo correr dos tempos até meados do século XVIII, sobe, na França, na Inglaterra, nas Flandres, na Suíça, nos países de lingua alemã, em alguns países eslavos, para índices que variam entre 30 a 50% - enquanto Portugal e Espanha perduram nos 2%. Os inícios do século XIX, na seqüência da Revolução industrial e da Revolução francesa, marcam, na Inglaterra, na França, nos Estados alemães, nas Flandres, na Austria, no norte da Itâlia, na Suíça, um crescimento rápido do percentual, que chega, pelos inícios do século XX, à literatação total, cerca de 95 % da população. Portugal e Espanha logram chegar a 45-50%, confirmando o declínio relativo que já vinha com os descobrimentos.
Há - reconhece-se cada vez mais esse fato - uma estreita conexão entre o progresso moderno à ocidental, com industrialização intensa, agricultura diferenciada de qualidade, setor terciário minimamente parasitário, forças armadas não predatórias, a democracia social e política, em boa parte, também, econômica, e- de outro lado- a presença universal da língua escrita, com todas as suas ricas repercussões éticas e cognitivas. Não houve, não há, é provável que não haverá- no previsível da cultura -possibilidades de as coisas serem substancialmente diferentes. A oralidade da aldeia global é uma mitologia, se não implicar prévio uso da língua literatada para fins , depois, orais. Assim, o atraso econômico, político, social, ético, cultural da península Ibérica e da América Latina têm muit<> em comum - com refletirem uma estrutura socioeconômica radicalmente desigual. aue imnede a emerg·ência de traços culturais universais equalizantes.
Não gostaria de ser pessimista - mas não posso fugir a certos dados brasileiros, já que minha última questão é a de saber como podemos superar certos atrasos que nos vêm de sempre, isto é, têm sido intrínsecos ao processo his-
22
tórico-social brasileiro ao longo de sua existência. Todas as culturas modernas tiveram duas formas conspícuas de se indagarem e duas formas conspícuas de se fazerem; indagaram-se pela palavra escrita - a só quente para mover montanhas e estar à disposição do usuário, pelo livro, pelos periódicos, e pela palavra oral pré-escrita ou condicionada pela palavra escrita, sobretudo no teatro, nas conferências politicas, técnicas, científicas, pelos comícios, com o que os homens se faziam pessoas que sabiam como reunir-se por vontade própria, sem arrebanhamentos nem encurralamentos, para ter uma opinião e vontade coletivas provindas do convívio dos confrontantes, na paciente expectativa de prevalecer através de uma regra do jogo, sob a qual tanto se podia perder quanto - porque não sujeito ao arbítrio de uns poucos - se podia ganhar e, mais, se podia alternar, em função dos méritos realizados.
O universo da lusofonia, antes mal que bem, participou desse processo de modernização cultural só por uma pequena franja, que foi Portugal: dessangrando-se para constituir um império insustentável manu militari, esbanjou-se em obras suntuárias, mas ainda assim construiu sua literatura, feiçoou sua palavra escrita, sua língua de cultura, e chegou a atingir editoração de 2-3 livros per capita per annum, enquanto no Brasil apenas agora temos indícios de que iremos talvez sair do índice do 1 livro per capita per annum e na suposição menor de que este não esteja sendo atingido em Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe- e fiquemos ai.
Na luta glotofônica a que se assiste na Terra neste momento, estão tendo perspectivas de sobreviver as culturas e línguas que não prescindem da palavra escrita - mesmo que esta tenha, em lugar dos vetores tradicionais como o livro e afins, vetores outros que culminam no computador central omnibus, isto é, para todos os fins; mas este mesmo, se bem não erro, exigirá do usuário, concomitantemente, a palavra audível e sua feição legível, para ser efetivamente oralescrita, capaz de todos os crivos, referências, armazenagens e tesaurizações e indexações. De fato, a palavra escrita, esse fenômeno moderníssimo na história das pragmáticas linguageiras humanas, é de incomparável transcendência, porque pode universalizar-se territorialmente - ser usada
23
em qualquer ponto do ecúmeno -, pode univocsalizar-se temporalmente - ser usada na forma por que foi lavrada séculos antes e continuar a sê-lo séculos depois -, pode universalizar-se para todas as profissões, disciplinas, saberes, ciências, técnicas, crenças, mitos, ficções, poesias, e, mais, por interprofissões, interdisciplinas, interciências, intertécnicas, interficções, interpoesias. Não se trata - atente-se - de uma especificidade intrínseca a algo externo à linguagem oral: trata-se, tão-somente, de ter dado à qualidade efêmera a perenidade gráfica transtemporal- que acumula todos os tempos passados num presente prenhe de passados. O gráfico, o gravado, não implica apenas o pincel, ou o cunho, ou o tipo; implica também a retentiva magnetofônica, audiomagnetofônica ou videomagnetofônica ou audiovideomagnetofônica, analisável, tradutível, armazenável e indexável: quando isso ocorrer, a palavra escrita, fisicamente considerada, poderá principiar a deperecer; mas a palavra-reserva, a que se fixa num apoio físico perdurante, seja pergaminho, papiro, papel, fita, fio, chapa, membrana ou futurum, essa palavra-reserva só poderá ser superada quando o homem deixar de aspirar a algo. É muito cedo para isso, dados os nossos desconcertos.
Mas o grave na lusofonia é que não nos estamos modernizando - a não ser automatamente (veja-se que não digo automaticamente). O meio não faz a mensagem: faz a massagem. Nossa mente, em grandes seções da lusofonia, está, pelos meios de comunicação de massas, sendo massageada para o fácil: na busca dos ibopes, gallups ou mensurações quejandas, vai-se descendo o nível informativo, criativo, educativo, instrutivo, ao mais baixo limite da inteltgibilidade comum - de uma cultura que não se modernizou e que, pior, ficou com seções ancoradas numa oralidade de campanário adstrita a três mil palavras, seções que pesam, entretanto, nas avaliações da viabilidade dos programas de massa: democratizamo-nos às avessas, isto é, em pleno século XXI, tendemos a uma oralidade paleolítica com aparências futurísticas.
Toda a técnica pacífica inventada pelo homem pode servir o homem- e pode mais, pode servir cumulativamente. A palavra escrita está, no mundo da lusofonia, em risco, pelo manos no seu epicentro - o Brasil.
24
Sabemos que não podemos dispensar normas nem gramáticas; sabemos que cada uma serve para cada fim expressionai ou comunicativo. Sabemos, também, que a mais nobre de todas, a que pode coexistir com todas sem eliminálas nem ser eliminada por elas, a mais nobre é a linguagem escrita, que humanizou o lado humanizado do homem, e que está em grave risco no mundo da lusofonia.
País que está entre os de mais baixo percentual no investimento para a educação e cultura - que podemos oferecer (sendo paradoxalmente o mais rico da lusofonia) aos nossos congêneres, em prol do soerguimento e modernização de nossa cultura linguageira?
Este seria- sinceramente - um capítulo à parte, que um dia, quem sabe, alguns saberão desenvolver e aplicar. É o meu voto.
Rio de Janeiro, julho de 1982
25
Rascunho Nacional *
Qualquer coletividade humana politicamente organizada, com estatuto de soberania, implícita umas quantas presenças: presentes devem estar os seres humanos, presente deve estar sua base física territorial, presente uma ou um mínimo de línguas, presente um arcabouço de crenças e valores morais, presente um conjunto de relações sociais, desde as que geram, pelo trabalho, a riqueza social e a individual, até as que nutrem de prazer o viver e dão qualidade - e não apenas quantidade - ao viver. Essa construção coletiva nem ~asce feita, nem é dada: é, ao contrário, uma resultante que se perfaz ininterruptamente: no nosso caso, é o Brasil.
Com quase meio milênio de história integrada nas suas relações com o Ocidente, o Brasil já era, ao ser descoberto para o Ocidente, um ecúmeno: nele viveram em diferentes estádios de cultura algo em torno de 2-3 milhões de criaturas humanas - ditos aborígenes ('desde as origens'), indígenas ('nascidos dentro do país'), selvícolas ou, melhor, silvícolas ('os que cultivavam as selvas nelas habitando'), bárbaros (entre 'selvagens' e 'civilizados'), bugres (talvez por influência dos franceses que aqui buscaram radicar-se nos inícios de nossa história, do francês bougre, de começo sobretudo 'herético', do latim de baixa época bulgarus, nome do povo búlgaro) e índios ('habitantes das índias' - mas, viu-se, ocidentais). Foram necessários muitos anos de convívio belicoso para se
• Publicado em Folha de S. Paulo, São Paulo, em 15 e 29 de agosto e 5 de setembro de 1982. Suplem. Folhetim n.0 291, 293 e 294, p. 6-7, 4-5 e 10-11, il. (0 estudo é de em volta de 1978-1979, destinado a uma obra coletiva cujo editor, só recentemente, confessou não poder publicar, por autocensura.)
27
chegar a compreender que os primitivos habitantes da terra não podiam, por sua cultura, aceder aos padrões culturais que vinham para dominar. Entre a dúvida de que sequer tinham alma (e de se, por isso, deviam ser catequizados ou meramente caçados) e sua idealização como nobres guerreiros ou bons selvagens em estado paradisíaco, chega-se, algo tardiamente, à noção de que os conflitos interétnicos baseados essencialmente na ocupação do seu habitat desmantelavam seus suportes culturais, retirando-lhes a identidade tribal e 'nacional' (eram, no conceito original, 'nações', por 'nativos' do seu território) ou integrando-os como componentes da miscigenação de que desde então o Brasil vem sendo palco.
Hoje constituem massa residual que poderá, acaso, reflorescer sob novas condições. Mas se, de um lado, giram agora em torno de 100-120 mil, com muitas línguas e dialetos, em diferentes pontos do território nacional, mormente aqueles que ainda não foram atingidos pelas chamadas frentes pioneiras, de outro lado estão presentes em tipos físicos regionais e num substrato de lendas, mitos, usanças, costumes, crenças, práticas, utensílios, mezinhas, alimentos, festividades, artesanias, artes.
Resistindo, pois, tanto quanto puderam ao trabalho escravo, constituíram desde logo um obstáculo à empresa colonizadora, visionária de riqueza abundante e fácil.
Já desde o último quartel do século XV principiara Portugal a importar africanos, sobretudo negros, para o trabalho escravo, pois que uma contradição se gestava em suas próprias terras : emigravam cada vez mais portugueses envoltos nas aventuras de ultramar e crescia já o processo de sua urbanização. Em breve, implantava-se no Brasil algo provindo desse modelo. A pouco e pouco, ao índio que faltava, substituía-o um, dois, três negros. O tráfico negreiro se foi , assim, intensificando, até meados da primeira metade do século XIX. Os depoimentos dos estrangeiros que nos visitaram pelo século anterior e aquele século (e este século) são concordes em ressaltar o fortíssimo contingente negro de nossa população. O trabalho era servido - mas as relações sociais ficavam marcadas pelo tipo de redução que implicava.
Pela mestiçagem resultante dá conta uma terminologia relativamente rica: mameluco, cariboca, curiboca, crioulo,
28
mulato, cafuzo, carafuzo, carafuz, cafuz, caburé, pardo, trigueiro.
A redução implicada punha a população brasileira polarizada entre senhores, poucos, e escravos, muitos, e de permeio uma parte livre, que apenas tangenciava o estatuto de senhores, pois que podia, ela também, ter escravos.
Desde antes da Independência se esboçam as primeiras levas de imigrantes europeus e, mais tarde, asiáticos. Poucos acederam, cedo, à condição de senhores. Em grande maioria vieram para o trabalho não servil, mas tendo-o como competidor, o que os compelia a viver em 'colônias' próprias. A Abolição, embora tardia (1888; no continente americano e, oficialmente no mundo, só Cuba a teve depois, 1889), deu seus frutos certos, criando condições legais indiferenciadas. Hoje em dia, a polarização que marcou fundo quatro séculos de nossa história já não existe. Mas a modernização das relações sociais e de trabalho está ainda em processo, pela continuidade estrutural de certos traços: a desigualdade de desenvolvimento regional, uma certa forma de relação 'Metrópole: Colônia' interna, frações urbanas de altíssimo e conspícuo consumo, áreas fundiárias expectantes, ausência secular de conservacionismo, regiões assoladas por endemias graves ou por flagelos naturais quase regulares.
O Brasil vem sendo: se sua população já é de 110-120 milhões (e superará os 200 milhões, na dobra do milênio, no ano 2000), ainda há 55 anos era em torno de 25 milhões e na Independência raiaria por pouco mais de 3 milhões; se seu território tem desde a ação de Rio Branco praticamente a configuração atual, que era efetivamente o Brasil no século XVI, e XVII, e XVIII?; se o 'tempo' de nossos transportes, comunicação e informação se precipitou apenas no que vai de século, que era ele na extensão de nossa continentalidade?; como se forjou a unidade nacional, em face de nossas grandes regiões naturais, de nossas subculturas, de nossa insulação tópica, de nossa multiplicidade lingüística? Eis alguns quesitos que só podem permitir respostas dinâmicas - no duplo sentido de que presumem sempre e como cada um apresenta uma configuração diferente no temPO.
Expostos na sua objetividade sincrônica - atual - e na sua objetividade diacrônica- através do tempo-, esses
29
são os temas cujas respostas presentes são buscadas. Mas cada problemática se articula de forma que, como qualquer outro país do mundo, temos graves problemas que, ao se resolverem aparentemente, gestam novos problemas: todos nós, brasileiros, somos chamados a ter consciência deles, es· tudando-os, para darmos a cota-parte pessoal na construção do amanhã - a supormos que quem quer apenas gozar o instante que passa nem quer saber de problemas, nem dar cota-parte.
Mas precisamente porque tinha extensão continental, população em expansão contínua, riquezas naturais ilimitadas - o atraso do Brasil, comparativo a países outros de igual idade (e em especial os E.U.A.), precisava de uma, de duas, de múltiplas 'explicações' ou justificações: buscava-se, em suma, uma teoria que desse razão do evolver brasileiro e explicasse o seu atraso relativo.
Para uns, a terra mesma era a causa do atraso, senão a culpada do atraso: situava-se em latitudes tórridas ou tropicais, tinha excessos de geografias imaturas - a Amazônia inteira, todo o pantanal mato-grossense - ou de geografias senis - grande parte dos cerrados, extensão conspícua do Nordeste -; era 'murada' logo à entrada, dificultando o acesso ao planalto; seu litoral era pouco caprichoso, criando dificuldades à navegação. Nesse meio, era 'natural' que a insalubridade vicejasse, que a mortalidade infantil fosse alta, que a média de vida fosse baixa - quaisquer que fossem os homens que habitassem a terra.
Para outros, o homem mesmo é que era culpado. OriundÓ de raças inferiores, mestiçando-se por seus traços inferiores, tinha de ser inferior: indolente, fantasista, lúbrico, imediatista, faltavam-lhe, ipso jacto, determinação, racionalidade, sobriedade, futuridade.
A alternativa era buscar traços positivos dentro desses complexos explicativos. Não se omitiu que éramos - e somos -a primeira tentativa bem sucedida de um império tropical civilizado e moderno. Não se omitiu que - apesar das incompatibilidades interétnicas ou do regime escravocrata -éramos homens cordiais, afeitos a derramamentos afetivos que podiam superar quaisquer diferenças, salvo em mementos de decisão. Não se omitiu que éramos um modelo de democracia racial num país multirracial e, mais, inter-
30
multirracial, pela mestiçagem. Não se omitiu que a história pátria era uma sucessão de conciliações, sem vencidos nem vencedores. Todos esses caracteres, fundindo-se, não parecem, porém, dar uma resposta satisfatória à realidade que, se ainda não temos, buscamos ter: a de um país próspero para todos, em que a todos caibam possibilidades sociais abertas. É lícito ufanar-se de seu país; é imperativo, para isso, ter consciência dele e buscar construí-lo àquela imagem. Na dinâmica de compatibilização dos objetivos nacionais com as instituições políticas e as Forças Armadas está a chave maior do futuro .
.Se a emergência dos Estados parece ter sido uma necessidade, vem ela sendo acompanhada de um projet-a estatal perdurante: a unificação. O Estado português, logo que implantado nas terras brasílicas, buscou-a também, ainda que tivesse havido vias transversas, como foi o regime das capitanias hereditárias ou sua bipartição efêmera. Isso não obstante, buscou uma unificação produtiva, uma unificação territorial, uma unificação de milícia, uma unificação de po· lícia, uma unificação de justiça, uma unificação de fé e -muito conscientemente desde Pombal, no século XVIII -ama unificação de língua.
Esta, porém, reflete nas suas vicissitudes algo que pode ser extrapolado, história adentro, aos outros fatos de unificação. É ela aqui referida em traços gerais, por esse motivo.
Se se reduz a característica humana da linguagem de base oral, nas comunidades políticas existentes ao longo da história sob forma estatal, a dois pólos, o do unilingüismo e o do multilingüismo, vê-se, de pronto, que nelas o unilingüismo ou ainda não existe ou apenas agora começa a esboçar-se. Nos albores do século XVI, o continente americano deveria ser um mosaico de línguas (e dialetos) inumeráveis, mesmo considerados os casos mais organizados de Estado, como houve no México e no Peru. Ao cabo de pouco mais de quatro séculos, continuando intensamente multilíngüe, o continente é, entretanto, área de três ou quatro grandes línguas ditas de cultura - o inglês, o espanhol, o português e, até certo ponto, o francês.
Mas, msmo sob esse prisma, o português - vale dizer, o Brasil - parece ter uma situação privilegiada: é por certo a língua comum da quase totalidade da população - já
31
que o contingente residual indígena heterofônico deve representar algo em torno de 1% e os aloglotas da imigração são, já em primeira geração crioula, bilíngües ou, mais freqüentemente, lusofônicos, apenas. Os casos de poliglotismo adquirido por ·escolaridade são estatisticamente pouco expressivos.
Na situação presente, convivem no Brasil, ao lado do português, cerca de 100-120 línguas indígenas (o que lhes dá uma média de usuários de 1.000 pessoas por língua, havendo~as com não mais de 50 usuários), na quase totalidade ágrafas para fins de comunicação (embora já gráficas algumas, para fins de estudos lingüísticos, etnolingüísticos, antropológicos); paralelamente, falam-se, no seio de famílias, imigradas ou em colônias mais densas, línguas de imigração, algumas das quais com imprensa e, por vezes, editoração: são o caso do inglês, do italiano, do japonês, do alemão, do árabe (sobretudo para os sírios e libaneses) e poucas mais. Na raia fronteiriça meridional e sul-centro-ocidental há interdialetação hispano-portuguesa, com linhas de penetração recíproca muito incoincidentes.
Entre esses dois extremos, o do mosaico dos albores do século XVI e a situação presente, no Brasil os confUtos interlingüísticos tenderam a aguçar-se até um momento crítico, que se coloca pelos fins do século XVIII e inícios do século XIX. É que às línguas indígenas - que resistiram por suas populações, adentrando-se ou marginalizando-se -se acrescentaram, em breve, línguas africanas. Se a prática escravista logo mostrou a conveniência de evitar escravaria unilingüe em cada empresa, engenho, fazenda ou família, nem por isso nos principais adensamentos de população se frustrou a possibilidade de intercomunicação de homoglotas. Perduraram, assim, falares negros, às vezes unificados nos quilombos mais resistentes. Na primeira metade do século XIX, quando já estava na linha do horizonte a interrupção definitiva do tráfico negreiro, devem ter florescido enquistamentos lingüísticos africanos, sobretudo no Recôncavo baiano e, quiçá, na Província do Rio de Janeiro: às chegadas, numerosas, não se pôde opor filtragem qualitativa do ponto de vista das 'nações' e línguas: daí, a intercomunicação e, também, levantes e rebeliões negras. Vestigial embora, em Salvador é possível ver um adstrato lingüístico africano, não apenas de fórmulas rituais ou refrões de cânticos, mas de
32
sentido próprio ainda, sem falar de conotações semânticas africanas no próprio vocabulário português. A notar, porém, que, não 'donos' de terras, sua influência na geonímia brasileira é notavelmente muito menor que a indígena.
O fato parece ser que, pouco a pouco, mercê das relações compulsórias de produção, de escambo, de troca, de comércio, as relações sociais gestaram duas derivas paralelas: de um lado, para as situações extensas e gerais, emergia uma como que língua franca que viria a ser língua geral, certamente de base estrutural tupi - o que explica a rica geonímia brasileira de base tupi (embora parcialmente factícia, com formas, ao que é lícito supor, forjadas já depois do declínio da língua geral) . De outro lado, o português - absoluta e relativamente minoritário no primeiro século de colonização - ter-se-á feito, ainda que absolutamente minoritário, relativamente maioritário em certos adensamentos populacionais, numa relação 'vários usuários originais de desvairadas línguas marginalizadas ou segregadas versus poucos mas coesos e dominantes falantes do português'. Essa situação de pre- , domínio relativo do português devia já estar consolidada em 11 Olinda, no Recife, em Salvador, no Rio de Janeiro, em São '>I. Paulo, em São Vicente e nos centros urbanos de mineração ~ por meados adiante do século XVIII. Para as viagens e os negócios no interior, ou se usava ainda da língua geral ou ~ dos 'línguas', intérpretes que com freqüência são referidos ..! 1 no passado. 1 ~
1 No ensino, ministrado por padres católicos, a língua institucionalizada ou era o latim ou o português à imagem do ~ latim: mas tratava-se de prática escolarizada privilegiada, ~ para a formação de sacerdotes. A catequese dos catecúmenos f índios se fez, por longo tempo, mesmo depois da expulsão ~ dos jesuítas, na língua geral. ~
A cartorialidade do Estado, entretanto, quase sem ex-~ ceção, só se fez em língua portuguesa escrita - com laivos arcaizantes até hoje -, do mesmo modo que os papéis da Igreja, em grande parte. De negros da Bahia, há vestígios de escritos em árabe ou em caracteres árabes. Papéis em outras línguas - flamengo, francês, espanhol, hebraico -houve, para fins ad hoc e situações atípicas.
Já ao emergir do século XIX, entre a chegada da família real - e o fortíssimo contingente lusofônico que a acom-
3~
{P, I
panhou e praticamente dobrou a população do 'Rio de Janeiro, impondo-lhe talvez certos traços fonológicos 'modernos', fazendo do 'carioca' modalidade dialetal em expansão - e a Independência, a língua portuguesa era indisputadamente a língua nacional, quaisquer que tenham sido os falares crioulos de base portuguesa que tivesse havido e continuassem a existir por longo tempo ainda. Em certas áreas, é admissível presumir um certo bilingüismo, português . -para as relações sociais gerais -e língua geral - para B.s familiares. Operava-se, ao que parece, uma inversão.
Nesse estádio - até a metade do século XIX - a consolidação do português como língua geral deve ter tido pelo menos três traços relevantes, se apreendida no seu conjunto: do ponto de vista 'vertical', deve ter havido no ápice uma minoria literatada bem falante (e bem escrevente), e bem falante (e bem escrevente) à imagem e semelhança do bem falar (e bem escrever) à lusitana - traço que, suavizando-se embora, perdurou longo tempo. pois até a terceira década do século XX, pelo menos, o palco foi local em que exceliam atores e atrizes cujas qualidades califásicas eram fortemente lisboetas; e deve ter havido, paralelamente, outra minoria, literatada embora, que acusava no falar sua procedência regional, sobretudo rural. São Paulo não foi exclusivamente escolhida como sede da primeira faculdade de direito do Brasil porque seu falar, mesmo entre senhores, seria~icioso'• o que se manifestava no próprio falar dos seus representantes constituintes. Na base da verticalidade algo havia que se aproximaria de um dialeto crioulo - certo tipo de linguajares reduzidos, de uma estrutura, a um mínimo de componentes inambíguos, num repertório de si reduzido às necessidades mínimas dos usos práticos.
É que, ao parecer, no trânsito de inversão da língua geral de base tupi para a língua geral portuguesa, tornada socialmente cada vez mais necessária para quase todos os tipos de relações sociais, duas ordens de fenômenos intimamente associados devem ter ocorrido: transitava de uma estrutura tupi eivada no vocabulário (e/ ou na semântica) de elementos africanos e portugueses para uma estrutura de base portuguesa, eivada de elementos vocabulares indígenas e africanos, fortemente simplificada pelo menos nos seus elementos intrinsecamente redundantes : "os meninos tra-
~~~-~~-r~~~~ ,. ''4 t1 rt-4 ~ ~ '? f'1' --~ ~ - í""'J)-1)AI
vessos" = "os menino travesso"; "as mulheres querem" = "as muié (mulé, mulhé) qué". Mas o trânsito não deve ter tido essa aparente simplicidade.
A língua geral anterior, por mais geral que o fosse como língua oral de intercurso, já devia ser matizada por pronúncias, torneios, elementos tonais, nitidez ou obscuridade vocálica ou consonântica locais; tais traços, não estruturais, podiam, de certo modo, transferir-se para a nova língua geral, o português. E isso deve ter-se dado. E dava-se, com isso, uma dialectação do português do Brasil - tanto mais que este, também, já devia ter diferenciações desses tipos entre aqueles centros em que, de antes, se fizera predominante.
É, a esse respeito, relevante notar algo: de um lado, malgrado a grande distância que separava pontos como Belém, Cuiabá, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo (para só citar alguns do Brasil), num sem-número de traços o seu português coincidia, coincidindo, mais, com traços de Macau, na China, de Goa, na índia, de Luanda e Lourenço Marques, na Africa - insinuando um evolver ultramarino como que quase unificante, ainda que discrepante da Metrópole tomada (falsamente) como unificada; de outro lado, já pelos fins do século XVIII, eram sentidas as diferenças, entre esses oontos, de cadência. tom, harmonia vocálica etc. O século XIX pre~ sencia no Brasil à tomada de consciência das diferenças internas dos falares brasileiros, não apenas quanto ao vocabulário, senão aue também na fonologia. na morfos.sintaxe. No século XX, c-hega-se a uma classificação genérica dos dialetos brasileiros: o nortista, o nordestino, o sertanejo, o oriental e o sulista. Mas era demasiado genérica: entre o gaúcho, o paulista e o carioca havia muito que distinguir. Em breve, certos matizes começaram a ser realçados: em Belém, "a canua ficava cheia de cuco de pupa a prua", no Recife, "as respostas não perdiam em ser cortantes", no Rio de Janeiro, "ox cariocax tinham ax coxtax quentex'' etc. (realce de um só traço, sem intuitos de transcrição fonética). Só bem dentro da segunda metade do século XX começaram, porém, entre nós, os estudos dialectológicos e etnográficos de campo, graças ao Atlas prévio dos falares baianos (1963-1965), de Nelson Rossi e devotados colaboradores - se se excluem as obras pioneiras de Amadeu Amaral e Antenor Nascentes, para os
.J6JiJ1 tJ-1) ~ d/.{_ ~, ~ rr .._ 35
ÍAai~ d/~ ~ 4/~ '/'I- _p' ~ u (w.-1 l-0 - (A,.._
/" ~ I dA~/-(_ t6- -ttt ~ ~ fuA ,._ .-P~~
\
1
chamados dialetos ca1p1ra e carioca, respectivamente, isso pelos inícios da década de 1920.
De outro lado, realçavam-se, nas dialectaçõe.s brasileiras, mais do que traços inovadores, traços arcaizantes em combinatórios novos, acrescentando-se que nenhum de per si necessitava de explicação evolutiva ou estrutural que não se encontrasse aqui ou ali em Portugal ou no âmbito românico- excluindo-se, assim, fora do vocabulário ('aberto', por definição), influências de substrato ou adstrato indígenas ou africanas. De novo, porém, aqui também se impõe posição prudencia.l: o que se sabe a tal respeito, por ora, é pouco ainda para qualquer afirmação conclusiva.
Já se ressaltou, de todos os modos, o fato de que, enquanto nos países românicos europeus (e isso para ater-nos ao âmbito românico), a dialectação é anterior à língua nacional (que, nacional embora, não venceu a dialectação), no Brasil - e possivelmente em muitos outros países americanos - a dialectação é como que concomitante na emergência da língua comum nacional. E., mais, que, por isso, a dialectação horizontal brasileira tem caracteres muito mais interpsíquicos, isto é, muito mais compreensíveis entre os usuários da língua nacional, quaisquer que sejam os pontos de onde provenham: o acesso a um código comum é relativamente fácil.
Eis o só (até agora) milagre brasileiro. Como, do ponto de vista normativo, vem o português
sendo escrito e, escrito, se vem impondo como ideal falado -essa parece ser uma outra história, que reflete bem o com tem sido 'realizado' o Brasil no pensamento teórico e, de correntemente, em muitas conseqüências práticas.
Do nosso século XVI um cronista disse que éramos com caranguejos, olhando para o mar, lá fora, de costas para terra, bem acolá adentro. Mentalmente europeicentrizado \ desde o início, os senhores da terra queriam dela tirar o qu lhes pudesse permi~ir lá gozar ou, alternativamente, de l' i trazer, para gozar. Levado às suas conseqüências, esse prin i, cípio consistiu em aqui produzir, para lá, monocultoramente ~ açúcar, ouro e diamantes, e café, e acessoriamente, para ,~ grande massa da população, os bens de subsistência, que a ~ longo de nossa história tiveram sempre aventurosas flutua ções de oferta e de preços. Mesmo com a modernização re
36
<~
!ativa trazida quiçá pelos proveitos do café, o chamado mer-l t cado interno continuou sendo secundário dentro dos objetivos '1. nacionais. ~
Os chamados 'dois Brasis' de certo modo existiram sem- ~ ~ pre - inclusive no fato de que a grande maioria brasileira ~l cogitava apenas do Brasil como problema seu vivo e coti- ~ ~ diano, reduzido às problemáticas da sobrevida, enquanto -~ uma minoria o pensava em termos de lhe criar uma imagem --<. ~ que se impusesse no concerto das nações, noutros termos, ~ .J uma imagem de exportação. A recíproca consistiu, nos meios ~ ... 1~
1 literatados e cultos, em propor para o Brasil a construção de ~ uma réplica de pais europeu.
Pesadas as mazelas supostamente provindas das nossas múltiplas inferioridades raciais, uma luz restava: da miscigenação emergia a branquização: a pigmentação retinta tendia a esmaecer até padrões mediterrâneos ou nórdicos, o afinamento do nariz aquilinizava-se ou, melhor, apolinizavase, os cabelos estiravam-se trigueiros - e, por que não, isso não significaria, psiquicamente, a correlata aquisição de hábitos superiores de poupança , moderação, diligência, inteligência, sobriedade, urbanidade, futuridade?
Os exemplos sem-número que nossa história nos dava de negros e negróides, de mestiços e mestiçóides de excelentes padrões morais e intelectuais, em quaisquer setores da ação ou pensação humanas, não demoviam os branquizadores do seu ideal - eram, belas embora, exceções. Ao:;; poucos, felizmente, as exceções se vão revelando regra, isto é, demolindo na prática os racismos velados ou ostensivos -que só perduram ainda porque persistem apenas os obstáculos de qualificação humana generalizada, a que chegaremos por certo : há potencialmente todas as condições para sermos uma efetiva democracia racial.
Se a oralidade brasileira apresentava na extensão do território estrutura tão afim, a literariedade nativista e nacional tendeu, de início, mesmo que através de escolarização em Portugal, a não se divorciar demasiado da oralidade: os nossos românticos, em geral, dão testemunho disso. Na medida, porém, que se incrementou - sobretudo no Brasil -o processo ·de coleta das normas do bem falar e bem escrever (das gramáticas, em suma) , foi-se criando a camisa-de-força do 'correto' e do 'que se não devia dizer ou escrever', de que
37
~~~?:i-f l ~ ~~
~\ 1 o :, do século XIX e as primeiras décadas deste deram ....t ")' tão copiosos exemplos. Algumas questões se ergueram como ~ .; parâmetro de cultura. E, embora "a crase não tenha sido
r ~ criada para humilhar ninguém", humilhava; e, embora a sínclise pronominal não devesse erguer-se como tabu, erguia
~ se. A própria simplificação ortográfica apresentava-se como ~ projeto maculado de resíduos 'históricos' caducos, criando
situações de especialização ad hoc, por exemplo, a dos ortó-~ r~ grafos circunflexólogos, aqueles capazes de dizer que nôvo ~ ou aquêle ou êsse (contextualmente jamais equívocos) de
viam ter acento circunflexo por tais ou quais motivos, que ~\ implicavam, na essência, duas coisas, de um lado, a com-~ paração do corrente com o raríssimo, de outro lado (o mais
fi~ ~ grave), um regime de instabilidade, pois que, por exemplo. > se mesa não tinha circunflexo, passaria a ter a partir do ~ momento em que se usasse do verbo potencial mesar. 'f-- Alargava-se, desse modo, o hiato entre o culto e o demó-
! tico; criava-se uma aristocracia de ortofônicos e ortográficos
~ contra a massa analfabeta, que, sobretudo quando adulta, ~ não atingia a racionalidade de homem com h inicial e de
ordem, de gesto e de jeito, de proeza e de presa, de inumano e de anti-humano etc.
Em breve, ante os rigores do purismo, poucos brasileiros se aventurariam a passar-lhe pelos crivos. Memorandas batalhas verbais foram travadas, não para saber o que se queria dizer, mas como se deveria dizer (ou escrever) até mesmo o que não se sabia.
A criação artística viria salvar-nos. 'Infringia', já com José de Alencar, com Machado mesmo, com Nabuco, com Rui (quem o diria!) , com Euclides, com José Lins do Rego, com Jorge Amado, com Guimarães Rosa (e como!), com os modernos vivos todos os cânones preceituados à força.
A transmissão da língua escolarizada - tornada, legalmente, gratuita e universal pelo menos com a República -iria, destarte, dilacerar-se entre o real e o ideal. A língua era ainda pensada como propriedade dos portugueses. Logo .. . Foi preciso que alguém tivesse o elementar bom senso de lembrar que não, que a língua não é uma propriedade privada, ainda que de um povo ou nação; que é uma res communis, um bem comum, que será tanto mais meu quanto mais for de todos, e que, sendo minha, não impede que seja
38
de todos, quando, sendo minha, é mais ainda se for de todos, pois que assim sou com todos, sem barreiras.
Mas essa convicção, rejuvenescida, não descartava a celeuma nominalista ou realista: era o que falávamos (e escrevíamos) português ou brasileiro? Saltemos o registro desse episódio, equívoco e inglória.
Como toda língua, a nossa vive entre os pólos da unidade e diversidade. Qualquer unidade mínima discreta ( discernível) nela se apresenta a cada realização fisicamente (ou psiquicamente) diferente, qualquer unidade máxima de sua intercomunicação espacial se apresenta tipicamente rea-. lizada de forma diferenciada, a tal ponto que, sempre social, comporta o idioleto, essa modalidade personalíssima com que cada usuário dela faz uso diferente do de toãos os outros usuários.
Entretanto, a unidade apresenta normas - modos consensualmente aceitos e comodamente seguidos - de dizer e escrever, não apenas na horizontalidade. Se, no passado, era possível ver um ápice ou vértice (dual, embora) mínimo e uma base imensa, a modernização vem acrescentando, às diferenciações horizontais ainda pouco conhecidas, diferenciações verticais, os chamados dialetos sociais, etários, diastráticos, profissionais. Isso não quer dizer que nos babelizemos. Mas há o risco disso. É que a memória nacional, tão verberada em tantos e tantos aspectos, é mínima no que se refere a esse instrumento essencial de unificação (na diferenciação) que é a língua, no caso, a língua nacional, em que quase tudo está por fazer, a novas luzes.
A ênfase tecnológica contemporânea corre o risco não apenas de fazer-se tecnocrática, mas, pior, corre o risco de fazer-se não intercomunicante intertecnocraticamente.
A estrutura comum, porém, aí está, talvez intacta. Repensemos fecundamente o Brasil: sua diversidade, nesse respeito, precisa ser minudentemente conhecida; muito dessa diversidade pode ser (como o vem sendo numa prática lenta) incorporada à unidade maior: esta é que terá de ser pensada e vivida em medida mais alta, dando ao instrumento a latitude com que possa sonhar todos os sonhos, fazer todos os fazeres, dizer todos os dizeres. As portas estão - para tant-o - escancaradas; cumpre não temer atravessá-las.
39
Dissemos - e cremos poder repeti-lo - que o problema político-cultural de nossa língua encerra lições extrapoláveis, em certa medida, para outros setores da realidade nacional. Vem-se apelando para a imaginação nacional; apelemos e não fiquemos nos apelos.
A revolução constituída pela imprensa e o livro - e, antes, o papel- foi extremamente retardada no Brasil, por uma política censora que, com razão, via nesses instrumentos sociais de aprimoramento espiritual germes de alta periculosidade para o estatuto colonial. Nisso, Portugal, mais débil , procedia com diretrizes bem diferentes das seguidas pela Espanha e pela Inglaterra em terras americanas. A ausência do livro, por sua vez, se associava necessariamente à literatação. Tivemos, desse modo, um espantoso índice de analfabetismo ao longo de nossa história, desproporcional em relação a quase todos os outros futuros países americanos. Ensino superior só o tivemos já pelo século XIX, quando cidades de colonização espanhola o tiveram mesmo no século XVI.
Se há episódicas referências à tipografia entre nós antes do século XVIII, são sobretudo para ilustrar, pelo seqüestro, a vigilância zelosa que contra ela exercia a metrópole. A rigor, assim, seu marco inicial é a Imprensa Régia, trazida com a corte portuguesa em 1808 em diante: e não é de estranhar que o primeiro livro estampado nela fosse uma tradução, de obra de Alexander Pope.
Nossa editoração se fez, daí em diante e por muito tempo, na capacidade ociosa de gazetas, ou em prelos de Portugal, da França, da Alemanha, logrando aqui vingar parcialmente só pela metade do século XIX.
A floração de folhas, gazetas, pasquins periódicos do primeiro quartel do século XIX, na Corte e nas províncias, atesta a importação de numerosas prensas, prelos e caixas de tipos, cuja obsolescência parece ter sido muito lenta, pois a composição de tipo móvel e impressão manual perduraram muito além do advento do linotipo. Quando as primeiras foram substituídas, na Corte ou nas capitais provinciais, devem ter sido destinadas a vilas periféricas ou remotas, para panfletos, periódicos, folhas avulsas locais; algumas delas, talvez ainda nos últimos anos do século XIX, seguramente no início deste, tiveram a glória de destinar-se a estampar,
40
no Nordeste, a poderosa literatura dita de cordel, os folhetos. cujas raízes orais, por via ibérica, deviam ser no Brasil de muito antes.
Como quer que seja, jornais e livros - salvo casos de textos didáticos excepcionais - tinham tiragens exíguas: ler deve ter sido uma capacidade que singularizava as pessoas. Ancorou-se talvez aí um fato cuja superação se vem revelando dificílima: nosso baixo índice de leitura. Parece que um concurso de fatores vem militando por esse baixo índice. É que, de fato, ingressamos na 'civilização escrita' já quando apontavam na linha do horizonte novos meios de comunicação pública: de modo que, no momento em que se preconizavam campanhas de alfabetização cujos resultados pudessem redundar num aumento sensível de público ledor, o lazer deste começava a ser, sucessiva e cumulativamente, solicitado pelo cinema, pelo rádio, pela televisão. Hoje, os esforços sociais de barateamento do livro, do jornal, da revista, mercê de grandes tiragens, esbarram ante a falta de hábito da leitura, até casos limites de pessoas de formação superior que, desde que formadas, não chegam a ler um livro.
Há um indicador dessa indigência: a pobreza da rede nacional de livrarias (já de si extremamente concentradas entre São Paulo e Rio de Janeiro), livrarias que não raro são pouco mais que papelarias com estante de alguns títulos impressos. Os editores, assim, não proliferaram, embora muitos tivessem tentado a aventura, tantos o foram de um ou dois livros apenas, criando-se uma estranha anomalia entre nós: a de que talvez tenhamos tido tantos livreiros quantos editores.
Mas por hora tudo faz permitir crer que, quaisquer que sejam os méritos dos meios ditos frios de comunicação e informação, como o cinema, o rádio (o transistor!) e a televisão (e haveremos de ter o telesistor!), e de permeio o disco, as cassetes (e as videocassetes), a matéria impressa em letra de forma, sobretudo em livro, continua a ser a fonte por excelência do enriquecimento espiritual, humanístico ou tecnológico, do homem. Se se trata de veículo fadado a deperecer, é temerário acreditar que esse deperecimento, relativo, vá precipitar-se em poucos anos por vir. Um ponto, de envolta, é capital: a língua escrita, mesmo se não lida, mas ouvida. A língua escrita - a chamada
41
_# ~ ~
- ....., ~íngua de cutura -, entendida na sua característica dife~~ 1 rencial por excelência, é a forma de reserva e de memória do
~que é pensado e criado pelo homem, mas filtrado a ponto tal ~ que é (ou deve, ou pode ser) só essencialidade. Os meios
T) públicos ou de massa ditos 'orais' ganham seu tempo graças ~I ..2 ao fato de qu~ sua 'oralidade' é precedida da condensação, ~ ~síntese, racionalização da palavra escrita. -4" A alfabetização, se levada às suas expectáveis conseqüên-~ cias, se faz, desse modo, um instrumento inarredável, pelos ~ anos futuros pelo men0s, da modernização social e da to-~ mada de consciência da nacionalidade, não apenas porque
permite ler, senão que sobretudo porque deve criar o hábit.a ..:$ de ler e, mais que o hábito de ler, a necessidade de ler livros. -~sse hábito, tornado necessidade, radicou-se apenas numa
"-' ~ fração de nossa população, ao ensejo em que a divulgação e ~f:. a informação se instauravam pelos chamados meios de co~-~ municação de massa.
A divulgação por esses meios - ainda que com pretensões a ser atualíssima - vem sendo praticada de forma diluída em extremo e, no caso brasileiro, corre cada vez mais o risco de veicular cada vez mais divulgação não brasileira - já que a adaptação de matrizes não brasileiras é muito menos onerosa que a elaboração própria. Ora, quando se postula o bom combate em defesa da cultura nacional (nela incluídas as subculturas [no bom sentido] regionais), a proposta não deriva de meros sentimentos nacionalistas ou xenófobos ; deriva do fato de que, numa cultura nacional, ainda que acaso eivada de sotoposições, se busca expandir crescente qualidade de vida, tão homogeneamente quanto possível pela trama toda da tessitura social, enquanto, do outro lado, se sente, se vê, se mede que uma cultura dominada se acompanha de regra da degenerescência quantitativa e qualitativa da vida de seus integrantes.
A divulgação em nível nacional, de outro lado, depende visceralmente da quantidade e qualidade da informação nacional. Ora, a unidade nacional brasileira - como qualquer unidade nacional - é ricamente diferenciada, tanto horizontal quanto verticalmente. Entretanto, os brasileiros sabemos ainda pouco dessas diferenciais, não apenas porque seu conhecimento é por si um repto de difícil e dispendiosa confrontação, senão porque também ficou até hoje relegado
42
ao abandono um número enorme de questões e problemas. Corremos, assim, o risco de divulgar sobre informações pouco fundadas no conhecimento objetivo de nossas realidades, transformando a diluição divulgadora em diluição de diluição. Finca-se desse modo, no cerne da defesa da cultura nacional, a pesquisa dessa cultura em sua unidade e diferenciações, a criação dos instrumentais e instituições para essa pesquisa, o amparo a essa pesquisa, enfim, um fazer coletivo consciente do saber daí provindo. De baixo a cima da verticalidade, em toda a horizontalidade, parece urgentemente impor-se, por isso, uma trama cerrada de educação e instrução que seja, concomitantemente, uma trama de produção e pesquisa em que se engajem todos os brasileiros num processo social de autodefesa cultural e de valorização recíproca. É quando se prepõem, de urgência, as exigências da nutrição, da alimentação, da habitação, da saúde - que, no conjunto, exibem quadro em que quase tudo está por fazer para com parte enorme da população nacional.
A informação, por sua vez, não se limita a pôr no interpsiquismo dos brasileiros os conhecimentos que cada um possa ter ou as criações que cada um possa elaborar. Ela apresenta, também, a forma de reserva, armazenagem e memória cuja recuperação possa ser tão expedita, segura e profunda quanto possível. Mas a memória nacional tem sido, no que há de reserva, dilapidada. Arquivos, museus, bibliotecas, melotecas, discotecas, cinematecas, glossotecas, fototecas, pinacotecas, gliptotecas, n-tecas são fonte e matéria de informação, e demandam uma estrutura de organização que funcione eficazmente em todos os recantos do território nacional, ativa e passivamente, receptiva e prospectivamente - como estímulos a novas pesquisas e como lembretes e reservas do pesquisado e feito. Teremos, em breve, que buscar um plano nacional articulador desses centros, como condição de sobrevivência cultural própria.
O que todos sabemos é que todos devemos fazer, vale dizer, trabalhar. Mas o Brasil, nacional ou regionalmente, não escapa a um imperativo negativo que pervade a humanidade quase toda. Todo fazer moderno busca ser técnico, tecnificado, tecnológico- quer dizer, racionalmente eficiente e eficaz. Nas sociedades de consumo, e para uma situação extrema mas não atipica, se pode buscar a eficácia racional
43
de qualquer objeto - seja, brutamente, um corpo belo de mulher. Um corpo de mulher bela (se ela não logra impor-se por outras qualificações) faz-se, assim, racionalmente eficaz na medida em que se insere no circuito mercadológico, para render-lhe os bens com que possa manter a beleza até o limite da plastificação. Ora, isso é factível para um número estatisticamente reduzido de mulheres belas. A13 outras, belas, foram e ainda são compelidas a opções claustrais domésticas ou a formas ãe vida ditas fáceis que as corroem prematuramente. No dizer de Gregório de Matos, o Brasil, no século XVII, teria sido o inferno dos negros, o purgatório dos brancos e o paraíso dos mulatos: em verdade, ele insinuava que o seria das mulatas. Mas que paraíso objetai seria esse? Parece ser o que liga o estatuto feminino brasileiro arcaico ao moderno consumista: em largos topos do Brasil urbano e semi-rural de há muito a sobrevida das meninas-moças tem sido assim; na permissividade sexual precoce, sob outras luzes, a lógica é a mesma. Há aí uma lógica, uma racionalidade setorial. Como há, extrapolado o símile, cidades em que cada componente é objeto de racionalidade, mas elas não têm infra-estrutura d'água, de esgotos, seus arruamentos se congestionam no tráfego de racionalíssimas automóveis, sua vida vegetal verde desapareceu, seu plano diretor se engavetou ou não houve. O somatório das racionalidades setoriais oferece a realidade de uma irracionalidade caótica. E a importação acrítica de tecnologias ditas avançadas tende a agravar com sua super-racionalidade o quadro - na esperança de num futuro minorar-lhe as mazelas.
Racionalidades setoriais. Se se recorda que a constituição norte-americana é o diploma mais antigo ainda vigente fundador de nação e Estado, compreende-se como se forja o que . se chama o império da lei. Comparativamente, quantas constituições já tivemos e quantos constitucionalistas nossos não têm o seu projeto privativo de uma? O fato é que a cada constituição correspondem novos caminhos e novos descaminhos.
A violência que se gerou e perdurou na história daquele país - como, de resto, na América, de modo geral - pôde ser domesticada e até institucionalizada, graças ao império da lei, que se foi impondo progressivamente, eixado num diploma quase sacro. Não tendo sido, porém, ultrapassada a
44
barreira do preconceito racial, este constitui obstáculo quase inamovível para a suavização do convívio democrático. Esse componente, que tomou feição outra no Brasil, poderá nunca vir a constituir nova chaga no nosso corpo social (bastou-o a escravidão mesma), se, como se tem o direito de esperar, em breve futuro garantirmos uma relativa eqüidade distributiva na dignificação garantida do trabalho, da saúde, da alimentação, da educação, da habitação, da instrução.
A falta do império da lei - império da lei num lapso de tempo que pudesse fazer-se tradição - tem retardado a estruturação jurídica do país, pela congestão de leis que vigem e de leis que não vigem, mas que se atritam entre si. Não se criando cânones de interpretações e decisões, não se radicam normas de bem público, não se vê o sacro da lei senão no limite em que não possa ser torneada. A própria contradição entre eleição e representação parece ser uma decorrência da falta de espírito público ancorado no respeito da lei. Mutável, mutante, instável, desde os títulos substantivos até os acessórios, ou inerte por caduca, a lei, sem império, faz que a vida social seja vista e vivida, de há muito, como um problema individual, quando muito, familiar: e este se resolve, não raro, pelo trabalho tresdobrado de uns poucos, enquanto outros não logram sequer trabalho e outros mais o substituem pelo expediente, pela lábia, pela tangente.
Mas, se Manuel Antônio de Almeida punha, "no tempo do rei", o início do século XIX fluminense - carioca -, como um emaranhado de questiúnculas judiciais e policiais não raro solúveis pelo nepotismo, emaranhado e nepotismo integrados no cotidiano urbano, se a cartorialidade burocrática se tem inflado, se a busca da sinecura subsiste, é de crer que esses males não sejam intrínsecos à 'natureza' dos brasileiros, mas antes derivem daquela racionalidade setorial dissociada de um projeto de racionalidade social. Ora, nas conjunturas em que a possibilidade de uma racionalidade social se tem apresentado como um futurível, um futuro possível, o que se vê é que faltava tradição programática. Os partidos políticos que vimos tendo são de regra aglomerados de interesses criados em torno de pequenos grupos de chefes, com diferenças reduzidas a questões colaterais, magnificadas. Se se excetua o Rio Grande do Sul, talvez a única Província e Estado de tradição bipartidária,
45
o coronelismo, de um lado, o caciqui.smo, de outro, conotados ou não de carisma, têm sido legislador, justiciador, administrador, benefactor e punidor. O clientelismo desse tipo tem gerado até a arregimentação da marginalidade e criminalidade para os seus objetivos de polícia e justiça, numa perigosa inversão de meios e fins.
Tais aspectos, contraditórios, irracionais ou antagonísticos, de nossa história, nacional, regional ou local, não são aqui lembrados, entretanto, com intuitos de propor um retrato em negativo. Não só o retrato em positivo está prenhe de matizes belos, mas também a nação como um todo tem amplas avenidas de viabilidade, por caminhos velhos repalmilhados ou por caminhos novos.
As generosas tentativas de análises e sínteses interpretativas do Brasil, quer individuais (e geniais, em alguns casos), quer colegiadas, têm marcado pontos cruciais de nossa história, desde antes da Independência: a estrutura do Estado, o estigma da escravidão, os óbices na agricultura, os ônus dos transportes, as mazelas endêmicas ou epidêmicas na saúde pública, as deteriorações seculares na.s relações de troca no comércio interno e no internacional, a desassistência social, a multiplicação do produto interno bruto e sua expressão per capita, a ilusão da expressão per capita, a qualificação da mão-de-obra e da cabeça-de-obra, a democratização do ensino, a autenticidade da vida partidária e de representação - eis alguns dos temas que sucessiva ou cumulativamente vêm sendo considerados nodais, desde então, para que o Brasil atinja estatuto de nação civilizada, em que as diferenças sociais possam permitir que um mínimo de qualidade de vida seja garantido a cada criança que nasça e a cada um que trabalhe .sem impedimentos estruturais para encontrar trabalho condigno.
É possível que haja entre nós, ante a crise geral que parece invadir a humanidade nesta hora, quem intimamente duvide da factibilidade desse 'ideal' , convencido de que os homens somos globalmente carentes - de bens materiais e espirituais - e globalmente impotentes de produzi-los, e de que, por conseguinte, sempre haverá homens que sejam lobos do homem e homens que sejam anhos dos lobos. Essa convicção, porém, a haver como componente ponderável da opinião pública, não se pode alçar teoricamente a programa
46
de ação político-social, pelos riscos imanentes, nacionais ou internacionais. O repto é, assim, eminentemente social: qualquer ação individual, para ser fecunda e socialmente benéfica, tem de buscar inserir-se numa deriva a que possa associar-se o maior número de concidadãos não ilusos. Isso exclui, ao mesmo tempo, a ação e a coerção voluntaristas. Há todo um processo social de convencimento, aliciamento, persuasão, docência e discência permanentes, que possa perdurar para que resulte em bens materiais e espirituais de que todos sintam, por mínimas que sejam, as vantagens.
Se parece mítica a imagem do homem cordial brasileiro como componente intrínseco de sua 'natureza', há nela, entretanto, ao que parece, um forte condimento de plausibilidade.
Um exemplo tem sido lembrado como algo espantoso: o hedonismo, quando não, o suntuarismo nosso, mesmo quando já institucionalizado pelo circuito comercial e propagandístico : toda uma população se empenha durante um ano para o brilho do .seu carnaval; toda uma população vibra de emoção com o futebol, em turnos anuamente multiplicados, regional e nacionalmente; toda uma população participa, quando não na fé, na esperança e na prática da religião, não fugindo em gTande parte a dizer-se pertencer a duas, três (as estatísticas particulares das múltiplas crenças em curso entre nós, se somadas, dariam ao Brasil uma população muito maior que a real); o calendário festival folclórico e popular brasileiro é de riqueza estonteante; música e dança, locais, regionais, nacionais, se multiplicam. A permissividade sexual sobretudo juvenil, com visas hedoní.sticos e competitivos, incrementada pelo consumismo na cadência mesma da expansão da propaganda venal, vendável , se é ainda confinada etariamente, confina-se a uma faixa etária que talvez seja a maior da demografia brasileira, tendendo, assim, em breve, a ser também das faixas mais velhas, por seu próprio envelhecimento.
Nos valores ambíguos dessas manifestações, há um permanente: a marca da extrema sociabilidade brasileira, que reaviva e retempera as inclinações populares nacionais, apontando sempre na direção da democracia social e da democracia racial. Não há por que supor que essas inclinações, si tempora juerint nubila, depereçam e feneçam nos anl'lS
47
por vir. Se se consigna uma relativa baixa do espírito mordaz, sarcástico e crítico do carioca - forma de participação no social - consigna-se compensatoriamente seu aparecimento em pontos outros do país que pareciam não tê-lo. Há um espírito de festa, no ar, mesmo nas coisas sérias. O próprio trabalho socialmente organizado, quando dá para uma sobrevida decorosa que pede pouco, tem não raro características de festa ou de prazer de convívio. A intolerância entre nós tem tido suas vezes, mas não parece ser a marca desta nação. _
É ela, nação, a nossa. Cabe-nos a todos conseguir para ela a condição de perduração do convívio que, sem precisar agredir ou ser agredido, crie na paisagem terrestre do Homem a parte brasileira que possa desejar a todos além-fronteiras. É essa a nossa tarefa - que, parece, devia ser de todas as outras nações.
48
A Linguagem Oficial *
Proposta - Tanto no magistério, quanto na pesquisa lingüística (e, quando se confessa a si mesma, na filológica), quanto na opinião pública que se crê titulada para pronun~ ciar~se a tal respeito, nela incluídos escritores, magistrados, jornalistas, comunicólogos, profissionais da palavra, há, no Brasil, certo consenoo em que o estado da língua, escrita ou falada, é, nesta nossa contemporaneidade, algo que deixa tanto a desejar, que chamar caóticos aos usos que se vêm fazendo da língua é quase eufemismo.
Proponho-me aqui tentar alinhar algumas das razões que militariam para equela impressão, alinhando, em seguida, algumas sugestões que possam, talvez, quer esclarecer aspectos relevantes da questão, quer encaminhar um melhor tratamento social da mesma, quando haja uma didática a ser preconi2íada. Como tudo aqui é opinião pessoal que não engaja a de ninguém, seria bom, creio, que, subseqüentemente, outros, mais titulados do que eu e se possível em linguagem menos obscura que a minha, se pronunciassem a respeito, pois é de crer que em breve futuro algumas decisões normativas se venham a aconselhar, razão por que um debate desse tipo só poderá ser salutar.
Um pouco do passado- O presente é quase sempre mais compreensível quando se possa buscar suas raízes verossímeis ou certas no passado. E em matéria social de língua, isso parece fundamental, como se verá.
A nossa língua, o português, se impôs ao nosso meio, tornando-se língua nacional dos brasileiros, nosso idioma
• Publicado na Revista do Serviço Público, Fundação Centro de Formação do Servidor Público, Brasllia, Ano 38, v. 109, n .0 4, out.-dez. 1981, p. 54-69.
49
nacional, isto é, não apenas nossa lÍngua comum e nossa língua de cultura, senão que também nosso vernáculo, vale dizer, a língua que se aprende no seio da família (o que é verdade para um altíssimo percentual de nossa população). A rigor, sem estraçalhamentos nominalistas, nada impede que lhe chamemos idioma brasileiro. É de importâncía capital reconhecer, porém, que, se não somos um país unilíngüe, pois temos centenas de línguas ainda faladas pelos 100 mil índios supérstites (o que lhes dá uma média inferior a mil usuários por língua, espelho de seu desaparecimento cultural, já que essa média supõe casos de pouco mais ou menos 50 indivíduos, apenas, falantes de certas línguas) e, sem dúvida, um contingente de várias colônias (italiano, espanhol, alemão, russo, ucraniano, polaco, japonês, árabes . . . ) ; repitamos: se não somos um país unilíngüe, somos de um plurilingüismo todo especial, em que as "outras" línguas parecem ter um estatuto secundário provisório em vias de assimilação (não discuto o mérito desse processo). E-, aí quase sem dúvida, para todas essas populações alofônicas, a segunda língua é sempre o português, o que fortalece seu estatuto de língua comum sob quaisquer aspectos, inclusive, nesses casos, de veicular.
A situação linguageira do Brasil presente derivou de uma profunda e int~nsa luta glotofágic:;t e etnocida, pois o português "venceu" comendo línguas e matando culturas -e o português já era, na imensa parte do processo, a língua dos "brasileiros". De fato, nos três primeiros séculos de ocidentalização do Brasil, foi ele palco dessas lutas, que subsistem nos seus estertores, ao que parece, finais, pois é improbabilíssimo que vivam sem aculturação, e aculturação significará, cedo ou tarde, a perda de sua língua e cultura originais.
A absorção das muitas línguas e falares africanos foi aqui praticada desde o início, objeto que foi de uma política quase-consciente, de que a prática do tráfico, nos mercados daqui, foi decisiva e segura : separar pais de filhos, maridos de mulheres, irmãos de irmãs, por famílias e, sempre que possível, por línguas. Se não se magnificam os resíduos presentes, não há como negar o caráter evanescente desses resíduos de línguas e falares africanos no Brasil, ainda que de alt_o valor documental para um estado de coisas passadas.
50
Dados quantitativos - A partir dos inícios ·do sêculo XIX, quando nossa população seria em torno de 3 milhões de habitantes, o português ia assumindo a posição de língua majoritária, tanto absolutamente (isto é, sobre os 3 milhões referidos), como relativamente (isto é, nas principais áreas "civilizadas" - Pará-Belém, Bahia-Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais ... ). Essa supremacia foi-se ampliando e consolidando, de tal arte que, por 1920, quando seríamos 30 milhões de habitantes, tudo o mais . - · indigenato, africanato e coloniato, em estado de ~ ilhamento linguageiro próprio- era já relativamente secundário ém termos numéricos.
No Brasil, a língua na sua modalidade escrita foi sêm:pre e só a portuguesa, quer antes da decisão oficial, quer, com Pombal, depois: a concorrência do latim, dos jesuítas ' e eclesiásticos outros, de um lado, a do francês, espanhol; holandês (ou flamengo), de outro, assim como a do alemão, do russo, do polaco, do italiano, do japonês, por fim, não altera a afirmativa em sua essência. Nessa altura de 1920, nossa população teria um índice máximo, digamos, de 20 % de alfabetizados: sabiam ler (mas poucos escreveriam, além da assinatura) algo como 6 milhões de habitantes do país, o que, apesar das aparências, era um progresso imenso, comparado com o que ocorreria por 1820, isto é, um século antes, quando já seríamos 3,5 milhões de habitantes. Na melhor das hipóteses, não há razão para crer que houvesse então mais que 0,5 % de literatos, seja, cerca de 18 mil pessoas.
Entre esses dois limites temporais - 1820 e 1920 -, a modalidade escrita (e a "lida" em público, que não é propriamente a falada) foi usada para fins oficiais, sentimentais e estéticos (por exemplo, para a redação e edição de leis e conexas, para a correspondência e contabilidade comerciais e burocráticas, para a relação entre parentes e amigos e enamorados, para a poesia e o teatro e a ficção), mas usada por uma minoria mesmo, se levados em conta os índices de alfabetização, os presumíveis índices de leitura pelo prazer de ler (sempre muitíssimo mais baixos do que· os anteriores) e os presumíveis índices de escritura (vá lá o termo, sempre menores que os anteriores).
Como era vista a língua - Durante esse lapso de tempo, a língua foi "vista", ideologicamente, de tr·ês (pelo menos)
51
modos pelos próprios usuários : como portuguesa e dos portugueses (devendo, por isso, os usuários de outras origens que não portuguesas subordinar-se passivamente aos ditames dos "proprietários" da língua), como portuguesa e tamtiém dos brasileiros (que não só deveriam "aprender" os padrões dos portugueses, mas freqüentemente foram ferrenhos defensores deses padrões e da casticidade dessa língua de "adoção") e como portuguesa ej ou brasileira e/ ou angolana ej ou etc. - isto é, bem comum que será tanto mais meu quanto mais for de todos, admitindo, como bem comum, variações, que vão desde as variedades nacionais, até as regionais, locais- na horizontalidade -, profissionais, etárias, individuais - na verticalidade -, e de registros - formais , informais, emocionais, sentimentais, blasfemos, piedosos etc. ("dentro" de cada indivíduo falante ou escrevente): em suma, a variedade na unidade , a unidade na variedade.
O literário - Se, ideologicamente, ela foi "vista" daqueles modos, na prática houve no Brasil um processo literário de aproximação do escrito ao falado e influência do escrito no falado, a saber, uma interinfluência entre essas duas modalidades principais (pois é óbvio que há interinfluência entre todos os tipos de segmentação sobre todos os tipos numa dada área de contatos numa dialética per~ manente de diferenciação-unificação instauradora da variedade na unidade e unidade na variedade) .
Se se excluem "nossos" escritores dos séculos XVI e XVII, porque realmente não são nossos, Gregório de Matos vai ser - sobretudo na sua musa satírica e na fescenina -o primeiro trovador de linguagem normal (de transmissão oral) com traços daquela aproximação : uma cultura literária portuguesa que "quis" de fato ser expressão de um protesto de brasileiros, identificando-se com estes talvez até no repontar de sua dialetação. E daí pela frente, saltando ~ árcades mineiros de maioria profundamente lusitanizante na linguagem, a verdade é que o nosso neoclassicismo e o nosso romantismo - tanto o da chamada primeira quanto o da chamada segunda geração - demonstraram à saciedade uma série de brechas brasileirizantes na linguagem lusitana tradicional. Só a partir do realismo e sobretudo do parnasianismo é que a criação literária brasileira passa a
52
inclinar-se à canônica gramatical colocada em camisa-deforça.
Que se passara? Passara-se algo de notâvel: o primeiro grande lexicógrafo moderno da língua é um carioca, Antônio de Morais Silva, pelos inícios do século XIX (1813); frei Caneca (1779-1825) é talvez o primeiro gramâtico brasileiro, inaugurando uma série enorme de nomes altamente prestigiosos como zeladores da língua e normalizadores da mesma, cujos frutos se patenteiam quando intermediou o tempo necessârio. A canônica gramatical em causa criou famosos cavalos de batalha de desclassificação ética, cultural, estética e o mais, com um pronome âtono "mal" colocado, com uma regência "errada", com um sujeito de reduzida deslocado, com neologismo morfológico híbrido, com neossemia afrancesada, com barbarismos de quaisquer fontes. Essa gramâtica e esses gramâticos - de zelo e competência incontestâveis, mas de visão parada em "defesa" e "ilustração" da "nossa" língua- só se abonavam em autores portugueses, em escritos portugueses, em exemplos portugueses. Somente na década de 1920-1930 é que nossos gramâticos e filólogos ousam começar a exemplificar com textos de brasileiros (é bem verdade que quando esses textos corroboram os textos portugueses ... ) . João Ribeiro (1860-1934), no plano ensaístico, e Sousa da Silveira (1833-1967) , no didâtico, são as vozes que, timidamente, primeiro se alçam em favor da linguagem tal como praticada por escritores brasileiros.
O nosso romantismo - sobretudo quando editorado aqui, isto é, tipograficamente composto e impresso entre nós - tendeu, de fato, a aceitar progressivamente o que poderiamos chamar de características de nossa variedade. Mas os livros subseqüentemente impressos em Portugal e na França passam a revelar uma suspeitíssima casticidade. Pesquisas recentes de Afrânio Coutinho, e num texto jâ "tardio", pois do eminente Raul Pompéia, deixam patente que se trata de casticismo de. . . revisores portugueses - e essa suspeita parece (redimindo a pobre Carolina) caber até para com · textos de Machado de Assis.
A onda de gramâticas, gramâticos e consultórios gramaticais pela imprensa que policiou o português escrito no Brasil foi apoiada por um magistério prestigioso, igualmente purista e casticista, muito mais categorizado socialmente e
53
muito mais eficaz (número de aulas e horários semanais maiores, número de alunos por classe menor, número total de estudantes baixo - fonte de elitismo), o que fez do escrever bem um dos títulos de honra e de acesso no cursus honorum de entre, digamos, 1880-1950, mesmo depois dos ruídos e barulhos crescentes da Semana de Arte Moderna de São Paulo (1922). Na literatura, especificamente, a operação era de fato exeqüível, se se leva em conta que o número de escritores era baixo e mais baixo o de leitores. Se hoje ainda não superamos a casa de 1 livro/ per capita j per annum, não será de estranhar que por aqueles idos fosse de meio ou um terço ou mesmo de um quarto de livro. Afinal, raros seriam (e ousariam manifestá-lo? sim! um Lima Barreto, por exemplo) os que não estavam catequizados da noção da norma normalizadora (e fossilizadora). Formas de fugir a isso para não incidir em total falsidade foram escritos em que os diálogos eram reduzidos a quase nada, a fim de que não se fosse obrigado a pôr o pronominho correto na boca da mucama negra. A genialidade de Machado, a tal respeito, levou à estupenda soluçãD do estilo indireto aparente.
O início do "caos" - De 1920 para cá, algumas tendências começaram a patentear-se aos olhos de todos os brasileiros, muitos dos quais (a maioria, talvez, no início) furiosamente alarmados:
a) a criação literária começou a dirigir-se a mil e uns temas com mil e uns problemas em mil e umas situações sociais e, ipso facto, linguageiras - de modo que o objeto artístico procurado pelo criador começou a determinar-lhe os usos que faria da linguagem e da língua portuguesa/brasileira · - uso racional, dialéti·co, documental, emocional, local, onírico, d'emencial etc. etc. etc. - e como, nessas condições, "respeitar" uma canônica gramatical do correto lógicotradicional?;
b) a democratização com massificação do ensino fol intensificada a partir de então, com crescimento ponderável recente e todo um cortejo de problemas conexos. Conseqüente da proletarização da condição de professor, do engurgitamento dos currículos e, em particular, da redução do número de horas e de aulas do estudo escolarizado da língua tornada "comunicação e expressão", em que a transmissão institucionalizada de uma língua de cultura, que se tem de estudar
54
muito e por muito tempo, fica num desvão do ensino; conseqüente disso tudo foi o patentear-se à tona da evidência a importância coletiva, nacional, de respeitar os cânones gramaticais (sem discutir sua legitimidade), impotência coonestada, aparentemente, pelos principais e maiores usuários da língua - os poetas, os ficcionistas, os teatrólogos, os dramaturgos, a darem a impressão de que a tratavam por paus e~~~; .
c) a progressiva presença da amostragem dos meioSde comunicação social de massa - tanto gráfica quanto ele~ trônica - trouxe à evidência e à audiência os variadíssimos usos e padrões e subnormas de segmentos orais, colocando a linguagem "lida", isto é, previamente escrita, numa posição quantitativamente quase desprezível.
Codificar a norma? - Para muitos espíritos, tudo isso é o retrato ou reflexo de um mau estado social de coisas, que gera e é gerado pelo mesmo vício social. A língua ter-se-ia degradado, porque a teríamos degradado, e a teríamos degradado porque houve fatos externos que militaram para isso.
Caberia, assim, ver se nos interstícios desse tecido aparentemente canceroso não haveria alguns sintomas de saúde, presente e futura, que pudessem ser estimulados por uma decisão social favorável.
Do ponto de vista da oralidade, tem sido reconhecida de há muito a influência lingüisticamente unificante dos grandes centros urbanos sobre sua periferia, cuja extensão varia com o vigor social do centro. Desse modo, não seria de estranhar que em redor de cidades como Belém, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Brasília e tantas mais ~e formassem grandes unidades faladas tendencialmente unificadas mas tendencialmente diferenciadas entre si. Essa unificação focal com eventual diferenciação interfocal é acompanhada por um processo de audição de massa, pelo rádio, pela televisão, em que coexistem padrões diferentes de oralidade, mas que, quaisquer que sejam suas naturezas segmentares, tendem a ter influência de âmbito nacional: as tendências unificadoras, assim, coexistiriam com tendências diferenciadoras, ensejando, acaso, unidades nas variedades de um tipo mais alto. Para observadores obsessivos da minha idade, à elocução profissional no rádio, primeiro, e no rádio e televisão, agora, sem falarmos do teatro e do
55
cinema, tem ido - quando não se imponha tipização dialetal horizontal ou vertical - tem ido, repito, em pós de um padrão nacional unificante (mas não uniformizante), em que alguns vêem o poder do "imperialismo" flúminopaulista. Creio que se pode reputar altamente satisfatório esse padrão, pois parece altamente aceito pela grande maioria dos ouvintes. Excluo, de novo, de consideração os usos segmentares, mais do que necessários, quando se trata de documentar qualquer recanto do pais com gente desse recanto, de qualquer estrato social ou de gente desse estrato etc.
A modalidade escrita, porém, apresenta-se de forma aparentemente mais contraditória. Leva-se em conta, primeiro, o fato de que "no passado" se escrevia mais correta e mais unificada e mais uniformemente - o que, para o "passado" do nosso realismo-parnasianismo, não parece ser impressão falsa. Observa-se, com freqüência, que há indivíduos falantes com padrões cultos apreendidos pela mera via da audição (e a contraprova é, em tais casos, a impotência desses indivíduos de se fazerem escreventes ... ) . Existe também a má prova, a dos indivíduos com forte capacidade escritora, mas com fraca capacidade falante (por timidez, medo, inexperiência, isolamento, por não terem tido aprendizado específico, por idealizarem a expressão oral a ponto de inibição etc.). Seja como for, parece mais fácil falar "bem" que escrever "bem".
Em verdade, a primeira barreira que se tem de vencer, quando se cogite de escrever "bem", é o preconceito de que existe "uma gramática do correto para todos os fins". No momento em que cada escritor criador, no plano da ficção ou da poesia, quer atingir a genuinidade de um pensamento nascente verbalmente errante ou de uma enunciação viva de emaranhados de estratos culturais e estados emocionais díspares, a partir desse momento é impossível pensar numa gramática do correto apriorístico, porque corretas serão aquelas "incorreções" que verdadeiramente reflitam as linguagens dos estratos e dos estados.
A partir daí, inaugura-se o usuário da modalidade escrita que pode dar a ela a feição do seu objetivo: Guimarães Rosa de Grande sertão:veredas também sabia fazer ofícios e relatórios diplomáticos com respeito das chamadas regras gramaticais (em verdade, ele tinha tal domínio da canônica grama-
56
tical normalizada e codificada como camisa-de-força que, ao infringi-la, o fazia com total conhecimento criador: escrevia bem o errado, porque sabia melhor o certo) (essa frase ai minha deve ter pares de aspas em cada uma de suas palavras ... ).
A linguagem oficial - O mundo moderno exige, assim, das línguas de cultura que haja dois pólos na pragmática da modalidade escrita: o pólo da ficção e da poesia, que pode (não é obrigatório que o faça) assumir todos os caprichos e arbítrios verbais e gramaticais do criador até o limite do inefado (o que, dito, na verdade não foi dito, por ser incomunicante e inexpressante sem sequer ser lúdico - grau zero final da escritura); o outro é o pólo da inequivocidade, que idealmente se atingiria na linguagem da lógica matemática, das ciências naturais e, já quase nunca, das ciências sociais - e que, idealmente, é também o pólo da linguagem oficial.
A linguagem oficial é a linguagem do Estado e seus prepostos, ou, por extensão, dos aparelhos e instituições que, com vida própria, se põem a serviço de certas verdades ou "verdades", religiosas, éticas, pias, assistenciais, e a de seus servidores.
A linguagem oficial - por comodidade, por eficácia, por simbolística - apresenta caracteres formais mais ou menos tradicionalizados: é sabido, por exemplo, que a linguagem cartorial da Justiça e do Direito é, a um tempo, arcaizante. prolixa, não raro redundante, porque de certo modo é ritual; é sabido que a linguagem escrita das leis, decretos, despachos, decisões administrativas, discursos, proclamações, visa, teoricamente, ao claro e inequívoco - em momentos de coragem cívica e estatal- e, à socapa, ao equívoco ou à ambigüidade, em momentos de arrocho, mas sempre com pompa e circunstância, mesmo nos Estados democráticos.
Enquanto houver Estado, é de crer que a linguagem oficial buscará realizar seu ideal de universalidade com coerção - esclareçamos, buscará dizer de tal modo que os que o queiram possam entendê-la (se preparados colegial e culturalmente para tanto) e os que não o queiram não possam alegar razões para isso, graças ao fato de que os recursos gramaticais e verbais postos a seu uso são os codificados sob a rubrica de normativos, normais e, por isso, corretos. É
57
mesmo de crer que o tendencial social unificante das ciências e da ajuda mútua e do convívio pacífico é sempre exprimir-se pela norma, graças ao que inversamente o tendencial social utópico, lúdico, expressivo, artístico, possa valorizar-se pela antinorma, pela fratura, pelo "erro".
Advoga-se, assim, a tese de que os fins determinam a feição específica que como meio a língua deve assumir (mesmo quando o fim seja a língua mesma e o meio seja a mesma língua). E nisso advoga-se a tese de que deve haver uma gramática (ou gramáticas) e um léxico (ou léxicos) canônicos, que digam o que é e o que não é regular, o que é ou o que não é empregável na linguagem oficial (uma de cujas regras de ouro do uso será o de já ter sido empregado).
Postula-se, assim, uma norma literária (isto é, letrada, literatada, escrita, em suma) culta - porque, para assenhorear-se dela, o indivíduo escrevente a fica aprendendo (e desaprendendo-a, para reaprendê-la) enquanto viva lúcido.
Entre os dois pólos, portanto, há uma imensa massa intermédia. de todos os matizes e para todos os fins canônicos e não canônicos ou semicanônicos ou incanônicos ou acanônicos.
Isso parece ser assim com todas as línguas de cultura. Sendo-o, porque não o seria para com a nossa?
A normalização e a codificação da norma - Seria Inadequado, aqui, discutir conceitos como os de língua, sistema, norma, subnorma, subsistema, dialetos. Mas devemos ater-nos ao fato de que os indivíduos falantes e escreventes no geral automatizam o sistema relativamente cedo (pelos trezequinze anos), vale dizer, não têm consciência de seu uso e não entendem o seu não uso. Mas a norma, que emerge dos usos do sistema no que eles tenham de mais freqüente, em se tratando de uma língua culta, quer dizer, com tradiçãotransmissão escrita, de tal modo que nos seus escritos passados o passado esteja presente no presente, a norma culta pede estudo do passado para poder estar presente e ser usada no presente. Assim, pois, não parece que se devesse lutar contra a norma comum culta de uma língua comum de cultura. Haveria, apenas, que contra-regrar o que há realmente como normal para o âmbito do português como um todo; o que há realmente como normal para cada variedade nacional do português (duas das quais, neste momento da história,
58
perfeitamente caracterizáveis, a norma nacional portuguesa, a norma nacional brasileira). Porque, de fato, os impedimentos, na linguagem oficial, para que se possa atingir essa norma destituída de cerebrinices e bizantinices são de vária natureza:
a) a normalização oferecida pelas nossas . gramáticas correntes tem vergonha de encampar como realidades cultas normais uma quantidade de práticas e pragmáticas linguageiras universalizadas entre nós, fatos esses cuja não observância constitui um ato de força permanente do escritor oficial ou usuário da linguagem oficial contra si mesmo;
b) a normalização oferecida pelas nossas gramáticas, ademais de suas cerebrinices ou bizantinices, é uma normalização "culta", isto é, que encerra passado no presente, encerrando assim mais de uma potencialidade "regular"; seu aprendizado não é nem pode ser espontâneo (como o da língua falada no nível do vernáculo - a que é aprendida em casa e de uso em casa para os fins de casa), impondo-se seu estudo atento e cuidado por longos anos e a manutenção do conquistado por mais longos anos, já então como que espontâneo "de segunda natureza", a valer tanto quanto a primeira natureza que, no indivíduo, em não mais havendo, não se sabe como ora seria: o adquirido como segunda natureza pode funcionar - e na imensa maioria dos casos funciona - como "espontâneo" por ter sido (vá lá o termo) automaUzado;
c) a normalização oferecida, mesmo despojada de cerebrinices, não está tendo ensino institucionalizado à altura das necessidades sociais- e isso parece claramente espelharse na forma por que, na modernidade, a linguagem oficial se vem alterando, perdendo a clareza das articulações mesmo convencionais ou tradicionais, obscurecendo-se no uso aparentemente personalizado da pontuação, vacilando na ortografia, fazendo-se difusa na semântica, não sabendo evitar as ambigüidades - e quanto mais se poderia dizer.
Na verdade, essse aspectos são passíveis de correção em âmbito nacional, desde que a sociedade, através do Estado ou de comissionados pelo Estado, gere instrumentos consabidos - vocabulários ortográficos, onomásticos, terminológicos, dicionário de autoridades para o cerne do léxico oficial (50 mil palavras - das 400 mil averbáveis [de fato aver-
59
badas no Vocabulário ortográfico da, língua portuguesa, da Academia Brasileira de Letras] -, com o máximo de conexões possíveis, sinonímicas, antonímicas, paronímicas, ideológico-analógicas, etc. etc. etc.), uma gramática explícita quanto às inovações ou manutenções brasileiras universalizadas em nível culto e - sobretudo, sobretudo -um magistério qualificado em sua formação e não degradado no eX'ercício de sua profissão, graças ao que os alunos pudessem, durante dez~catorze anos, ter duas horas, em cada um de cinco dias úteis da semana, de estudo, leitura, redação, que transformassem a angústia presente, de um assimilação mecânica, em convívio criativo com a língua - essa marca de humanidade e humanização que é a própria língua.
60
Língua e Realidade Social *
O tema que nos reúne é a "expansão da língua". Suspeito, aí, que a língua é nossa, a portuguesa, e a expansão é a que houve, está havendo e poderá ainda haver. Como estamos entre nós, é possível que a variedade ou variante brasileira seja privilegiada nas considerações seguintes.
Mas meu tema é a língua e a realidade social, a que está fora dela, digamos assim, e a que nela, língua, se manifesta.
Importa-nos assim considerar primeiro alguns aspectos da realidade social. Façamos isso num retrospecto rápido -uma diacronia da sociedade, uma história da sociedade naquilo que creio ser relevante para os nossos fins.
Não se trata de tentar sintetizar uma história - externa e interna- da língua portuguesa no Brasil e a formação da variedade brasileira ou variedades brasileiras, estudo esse que, se de conjunto, depois de Serafim Silva Neto e Sílvio Edmundo Elia, continua em aberto, tão grandes são as novas exigências postuladas por semelhante empreendimento, ante o que se está agora fazendo em termos de dialectologia, de etnolingüística e de sociolingüística - para ficarmos nelas. É de crer mesmo que convirá um compasso de espera para que possamos amealhar mais material empírico daquelas procedências, sem contar o muito que está ainda por fazer, a saber, o crivo da documentação (lato sensu) histórica disponível e sua interpretação, como achegas relevantes da história externa e interna da língua no Brasil.
A realidade social em que se insere a língua portuguesa nas plagas brasílicas é a realidade de um ecúmeno sui generis
• Palestra no VIII Curso de Férias do Instituto de Estudos Brasileiros sobre "A expansão da Ungua" (Revista ào Instituto de Estudos Brasileiros, n. 22, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1980, p. 53-58).
61
no continente americano. Marginal, necessariamente, para a cultura conquistadora, tecnologicamente muito mais poderosa, sequiosa de mercancia e mercantilismo, acidentalmente cobiçosa e cristãmente ambígua no querer e fazer, a cultura indígena era das mais atrasadas do mundo (e no continente americano só os extintos patagões rivalizariam com ela nesse particular): os brasílicos vivíamos (primeira pessoa do plural de empatia ... ) , os brasílicos vivíamos em estádios culturais compreendidos entre o meio-fim do paleolítico e o meio-início do neolítico, quer em culturas de coleta, quer em culturas agrícolas semi-sedentárias. Em ambos os casos, exigiam-se extensos territórios para cada nação, que, decorrentemente, era de baixa demografia. Não sabemos quantos eram os brasílicos ao tempo do chamado descobrimento e no primeiro século - mas suspeitamos que entre 4,5 e 2,5 milhões, a densidade possível de gente para a rentabilidade possível da terra, baixa ante a atingida em terras européias, asiáticas, africanas e mesmo americanas do Pacífico, América Central e do Norte.
Sob o risco de cairmos em esquematizações excessivas, é lícito dizer que já pelo século XIX se cria que os nossos indígenas pertenciam, numa classificação lingüística genealógica, a poucos troncos, a que se filiavam algumas centenas de línguas, corresponde.stes a alguns milhares de tribos ou nações: afinidades étnicas e lingüísticas permitiriam em certos casos federações e confederações, desde Anchieta, o que leva a supor um maior ou menor grau de intercomunicação entre certos grupos: tratar-se-ia, sob certo aspecto, de uma região de humanidade recente- 8 a 10 milêniosem que se dera uma progressiva diferenciação lingüística, com incipientes processos, hoje obscuros, de unificação, logo seguida de diferenciação (o que parece ser o caso do chamado tupi).
Essa divisão horizontal, porque eminentemente territorial, admite pensar, paralelamente, que pequenas ou quase inexistentes eram, em cada nação, as segmentações verticais - pois salvo segmentos sociais ocasionais por sexo ou por idade, sobretudo em ritos de trânsito ou de iniciação, ou em práticas religiosas ou hedonísticas, a vida era de participação muito comunitária, nada permitindo supor que a precária divisão de tarefas, sempre colegiadas, pudesse ser
62
ba.se de uma divisão em classes sociais e decorrente especialização dialetal de usos lingüísticos. A divisão horizontal por separação tribal para facilitar a produção de bens e a reprodução do grupo devia ter sido o caminho rápido para a diferenciação lingüística e a emergência de novas línguas.
Assim, pois, é admissível pensar nuns primeiros momentos da colonização em que a população brasílica está entre os dois extremos de 4,5 e 2,5 milhões de indígenas, que deviam, de fato, falar entre 2 - 1,5 mil línguas, em grande número de casos com intercomunicação através dos línguas, sempre existentes em situação de paz ou conflito, quando a partição territorial deve ser permanentemente vigiada e negociada: a técnica de produção brasílica supunha, para todos, âreas imensas de pousio, para equilíbrio da natureza, hoje diríamos para reequilibração ou reciclagem ecológica.
A intromissão do luso foi catastrófica para esse tipo de estrutura social. Todo um conjunto de superioridades era próprio ao português - as técnicas em geral, em particular a.s de guerra, e as econômicas e de relação de produção, pois buscavam o que desse - produto, coleta, espólio, butim ou rapina - para o escambo com o ultramar e o entesouramento, desejado de início para o retorno à metrópole, quando o conquistador não é o degredado ad vitam.
A partir do momento em que o conquistador busca ser proprietário de terra, já pelos fins do século XVI, duas con:: seqüências disso se positivam: a mão-de-obra nativa preada e baixada, se revela progressivamente rebelde e, assim, inepta, impondo a experiência já conhecida da mão-de-obra negra, como necessidade paralela com a crescente usurpaçãG ou redução dos territórios dos nativos. Noutros termos, entradas e depois bandeiras- eufemismos para caça ao nativo ou expulsão do nativo rebelde - foram reduzindo os territórios dos indígenas, obrigando-os, ipso facto, ou a deixarem de ser índios, extinguindo-se, ou a deixarem de ser índios, aculturando-se. Já então se instituíra a prática de comer: os índios, quando possível (quase nunca o foi) comiam os lusos antropofágica e vindicativamente; os lusos a.s comiam, figurativa mas fecundantemente, iniciando a funda miscigenação. Com os negros, porém, na medida que diminuíam em número nações e línguas indígenas, por etnocídio ou por unificação indígena par', a resistência, a prá-
63
tica foi outra: foi a prática de afastamento dos co-étnicos, co-linguageiros e co-familiares, prática sistemática que lhes quebrava a resistência ao opróbrio e a própria identidade, que só a língua lhes podia dar a fundo - prática que só não se manteve adentro da primeira metade do século XIX, nas antevésperas da interrupção do tráfico, período em que a importação das peças foi tão maciça que não houve como separar tais peças por aqueles critérios - o que é uma das chaves para a compreensão dos levantes negros urbanos sangrentos da época.
O caldeamento - vá o termo sem conotação técnica -, o caldeamento lingüístico deve ter sido enorme. Se os dados iniciais, com relação aos índios, são aproximativamente os referidos acima ( 4,5 a 2,5 milhões), para com os negros são outros. Pesquisas recentes no Centre National de la Recherche Scientifique, na França, permitem presumir hoje em dia que, até a extinção do tráfico, o Brasil importou entre 3,5 a 3,8 milhões de negros, enquanto os futuros Estados Unidos da América importaram 800 mil, não mais: a proteção das peças escravas, seu rendimento máximo, não se fez nas plagas conquistadas pelos anglo-saxões sem levar em altíssima conta que se tratava de gado precioso, cujas crias puras eram também preciosas, donde um resguardo cuidoso de sua vida média, sem torpezas brutas, pois mais barato era cultivá-las que comprá-las. No Brasil - malgrado idealizações luso-tropicalescas - a vida média do negro foi baixíssima, e sua sustentação onerosíssima, se comparada com o preço das peças novas: houve, assim, aqui, dilapidação desse instrumento de trabalho, com algumas características interessantes, por exemplo, o largo uso das fêmeas para todos os fins de fêmeas, desde os acidentalmente reprodutivos (com enorme mortalidade infantil) até os prostibulares para rendimento dos seus, delas, proprietários.
Salvo nos quilombos - alguns dos quais chegaram aos dias de hoje já abertos a todos - onde falares negros e prováveis línguas francas se terão desenvolvido, não é lícito supor que outras influências negras se desenvolveram, pelo menos lingüisticamente: os escravos, em particular as escravas, domésticos, solitários étnica e lingüisticamente, terão tido influências afetivas, sentimentais, conteudísticas e, acaso -e quando estaremos a esse respeito em condições de negar
64
ou afirmar? - e acaso, repito, adstratais. No auge da concentração africana, ademais coesa, adentro (como disse) da primeira metade do século XIX, as línguas africanas -sobretudo um possível nagô franco- já se defrontavam com a língua portuguesa em situação majoritária, relativa e absolutamente: por relativo, quer-se dizer que no cotejo de cada grupo lingüístico, numa região ou local "civilizado", brasileiro, a língua portuguesa já era maioria, em face das outras, a franca ou geral e as localíssimas, supérstites tribais; por absoluto, na aferição total dos percentuais brasileiros de língua portuguesa, de um lado, e as outras, quaisquer, de outro.
Na luta linguageira de que o Brasil foi palco durante três séculos, o cimento comum para a vida prática cotidiana foi, em crescendo, a língua geral , disciplinada para fins da "escolarização" incipiente pela didática da catequese jesuítica, a única escolaridade institucionalizada que, com outras missões católicas, a terra teve por muitas décadas.
Quando, na segunda metade do século XVIII, a Coroa dispõe que os papéis oficiais e as relações no Brasil só se fizessem em língua portuguesa, o que espanta é a visão politica: língua outra não teria o favor do rei, não teria o favor do Estado. Mas que língua outra - se escrita -seria essa? Latim, espanhol, francês, holandês? Ou as sós seis cartas em língua indígena escritas em caracteres latinos por escriba de Filipe Camarão para congraçamento indígena contra batavos?
Antes da Independência, um evento capital para a língua portuguesa no Brasil foi o recebimento repentino de 16 --18 mil portugueses, de fala "moderna", isto é, com traços foneticamente inovadores mas metropolitanos, na capital do vice-reino, a cidade do Rio de Janeiro, que logo passava a capital do reino por curto período: essa população adventícia dobrou a população da cidade e sua periferia, fazendo que a intercomunicação só se fizesse avassaladoramente através da língua portuguesa "modernizada", alastrando-se tais características modernizantes pela província do Rio de Janeiro, pelo litoral norte acima, pelo litoral sul abaixo até a baixada e o porto de Santos.
A critica reciproca dos brasileiros entre si - quanto à "beleza" e a "correção" de seus falares - desde os inícios
65
do século XIX documentada, é sintomática de duas coisas: primeiro, a dialetação horizontal já era uma realidade; segundo, a vertical na vida social brasileira era também uma realidade; terceiro, a transvertical ou tram;-horizontal entre o Brasil e a Metrópole era também uma terceira realidade.
Permita-se-me um rápido comentário com relação à dialetação horizontal: quero relembrar apenas que houve épocas em que ela se explicava já por influxo indígena, já por africano, já por uma espécie de crioulização, numa até talvez língua híbrida, instável por certo bilingüismo ou multilingüismo incompleto, tese a que se opõe a de dialetação endógena, românica - qualquer fato dialetal do português ao Brasil que pudésse ter paralelo com fato dialetal româ· nico europeu e em particular peninsular ibérico e em particular português era mais bem explicado por essa via.
Com relação à dialetação vertical do português do Brasil, é mister, desde o início, admitir uma incipiente diferenciação entre a fala do luso e a fala do nascido e vivido na terra, diferenciação que a esse título tendeu a crescer. Essa tendência, aliás, tem sido objeto de inquirições de vários tipos. Com relação ao âmbito do português, Israel Revah, já na década de 1950, chamava a atenção para o fato de que, num estema cujo foco fora o português quinhentista e cujos ramos atuais fossem o português metropolitano, o brasileiro, o angolano, o moçambicano, o cabo-verdiano, o guineense, o macauense e o goense, estes últimos todos teriam entre si muito mais afinidade, sobretudo no vocalismo, do que cada um com o português moderno. Estematicamente, supor-se-ia um índice de alterações no português metropolitano, nestes quatro séculos, maior do que nos portugueses ultramarinos.
Devo ainda relembrar que, com relação ao julgamento de valor do português do Brasil, seja, a variante brasileira, e ó português de Portugal, seja, a variante portuguesa, é conveniente dizer duas coisas: primeiro, que a língua escrita para fins artísticos, e mesmo científicos e universalistas, buscou no Brasil modelar-se - mesmo com o interregno de "-abrasileiramento" do romantismo - nos padrões portuguesês; séguhdo, aqui mesmo, cultivamos a "consciência" (diríamos hoje a ideologia) de que os proprietários da língua eram ós portugueses, cabendo-lhes a eles sós ditar o que fazer com essa coisa sua deles. No plano do dialeto literário e
66
seu ensino, relembremos que foi com Sousa da Silveira, por 1928, que se principiou, na preceptiva, a exemplificar com autores brasileiros, é bem verdade que em maioria naqueles casos em que os brasileiros coincidiam com os portugueses ...
A realidade social brasileira, do ponto de vista lingüístico, mostra, ao longo do seu processo histórico, um número ponderável de traços relevantes. Referirei alguns, ao sabor de minhas - digamos - preferências.
Eis um: a luta lingüística foi efetivamente popular, de representantes das populações conquistadas e conquistanda.s, sem possível direção da classe dominante e do aparelho estatal da instrução: ironicamente, o ensino de línguas escolarizado foi o do latim ou o da língua geral. É que fomos, no essencial, uma cultura ágrafa - e continuamos, agora, quase que realizando, caricaturalmente, por antecipação, ó sonho ou o pesadelo ou o futurograma da "aldeia global": transitaremos de uma cultura ágrafa iliteratada de mera comunicação interpessoal para uma cultura ágrafa paraliteratada de comunicação de massas.
Eis outro: houve um brutal hiato entre os pouquíssimos letrados que a cultura da cana e a do ouro possibilitou continuar pelo século XIX e inícios do século XX, e a grandíssima parte da população. Deixando, assim, ao deus-da.rá tão alto índice de intercomunicabilidade na unidade linguageira, busca-se com dificuldade uma explicação para isso: ou se contesta essa unidade lingüística, apelando-se para o nosso multilingüismo ou se contesta o unilingüismo, apelando-se para a dialetação existente. Esta, porém, ainda assim, parece ser - se comparada com a do âmbito românico -de tipo histórico-social bem diferente, cuja explicação ou racionalização talvez não comporte extrapolação ou raciocínio analógico.
Língua de escravos e senhores, ou de senhores e escravos, .com restrita diferenciação social ao longo do processo de transmissão do português mesmo, a unidade na extensão do território é um fato, parece um fato, que a culturalização dos inícios deste século para cá tem alterado. Há, como efeito, já hoje, uma seção da população que, além da aquisição social não instrumentada ou in.stitucionalizada da língua como vernáculo, sofre a influência da escolaridade. Há razões para crer que essa escolaridade tem tido efeito sobre
67
a fala culta e também "inculta" dos vários centros urbanos de relevo regional no país. Quanto à parte aberta, o vocábulário, isso é ponto pacífico. Assistimos, assim, a um tipo de linguagem que não pode ser estudado (e transmitido) sob parâmetros lingüísticos "puros" nem dialetológicos estritos. A um tempo, a sociolingüística urbana e vertical e sua ação rural e horizontal deve ser acompanhada de uma sociolingüística da língua literatada, pois a ação dessa língua dos meios em que é instrumento profissional para a transmissão dela mesma ou para a comunicação de massa é no Brasil, como nas culturas complexas modernas ou moder-
. nizantes, elemento de peso cuja análise e interpretação importa cada vez mais, a tal ponto que o indivíduo pode pesar no todo: um idioleto sofisticado - é bem o termo - pode ser multiplicado por um, mil, um milhão de usuários passivos, que sofrerão por certo a cada vez um infinitésimo de influência eventualmente estruturável.
Restam-me perguntas: Não estaremos pobres de instrumentação normativa? Não devemos ter coragem de pensar numa variedade lin-
güística nacional que se compadeça com as regionais e que convivam para o bem comum numa variedade mais abrangente?
Entre a aristocratização da língua escrita e sua anarquização, não haverá um termo de referência democratizante que não nos lembre que há algo de podre no reino da Dinamarca?
Como criar a escolaridade que efetivamente dê conta da complexidade da aquisição da linguagem de modo criador?
Como colaborar para que a comunidade lusofônica no mundo seja uma realidade de partes reciprocamente interessadas nesse bem comum que lhes é a língua comum?
Sou - como se vê - só indagações, quase sem resposta. Mas uma coisa eu sei: dizer-lhes muito obrigado pela
atenção com que me ouviram e pela paciência que tiveram: muito obrigado.
68
Politolingüística *
Raramente tenho concordado em dirigir-me ao respeitável público com ler textos meus em mal traçadas linhas ... É que, burro jovem, não aprendi a adequá-los à leitura em voz alta, e não será nesta altura, burro velho, que o aprenderei. Mas a razão disso me parece, a mim, clara, pelo menos hoje em dia. Tenho um jeito de escrever (e possivelmente de pensar) que não se compadece com a oralidade - a tensa e falsa oralidade - das conferências, dos discursos: sou muito parentético, interparentético, intraparentético, pouco paratáctico, muito hipotáctico, condicionante, subordinante, subordinado - e, não raro, gradualizante, aparentemente sinonimizante, o que dá, também, não raro, a impressão (senão que a revelação) de prolixo. Querendo às vezes dizer, no tempo que deva, mais do que posso, acabo obscuro ou ambíguo aos outros, às vezes a mim mesmo, ao reler-me tempos depois.
Mas meu presidente do Círculo Lingüístico do Rio de Janeiro, meu fraterno Sílvio Edmundo Elia, sabe que tinha direitos de afeto sobre mim: convidou-me, em nome da Comissão Executiva deste Congresso, pediu-me texto escrito e aqui ele nos tem- a mim e ao meu texto. Este buscaria tratar, a um tempo, de duas questões, que por sua vez se subdividem, a saber, a língua e a realidade social, e etnolingüística e sociolingüística.
Não pretendo ser nem didático, nem sistemático, ao expor alguns pontos de vista, alheios ou meus, sobre a questão; meu auditório 'é, se não iniciático, pelo menos iniciado. Por isso aflorarei alguns pontos que me parecem importantes
• Palestra, Primeiro Congresso de Etnolingüística e Sociolingüfstlca, Universidade Federal Fluminense, julho de 1980.
69
ou de importância perdurante, pelo menos segundo certa óptica. Essa óptica espero que não seja tão restrita que venha a ser só minha, caso em que temeria muito que não tivesse valia alguma. Ao contrário, é minha esperança de que isso não ocorra e de que vários dos presentes comunguem de algumas de minhas dúvidas e perplexidades que aqui externarei.
Uma rápida excursão pela história disso que veio a chamar-se lingüística revela, creio que sem discrepância, que o seu objeto de estudo, quer eixado numa descrição que tivesse um só indivíduo como ponto de referência, quer eixado sobre essa coisa real que é uma língua mesmo sem ser referida a dois ou mais indivíduos, a um segmento ou classe social ou mesmo à sociedade como um todo - essa excursão confirma desde sempre que a linguagem, e as línguas, uma língua, foram, são e serão sempre - enquanto existirerr1 - um fato humano, o que necessariamente implica, por ora, duas categorias, a social e a cultural.
Não está, assim, suficientemente aplainada a questão de saber se - como ciências, mesmo como ciências de regionalização com fronteiras difusas - a etnolingüístíca e a socíolingüística têm ou não têm foros de legitimidade epistemülógica, isto é, campos e objetivos próprios e específicos na ordem natural ou na ordem humana, isto é, essá outra ordem que crê acrescentar à ordem natural um algo mais, específico, humano e/ ou divino.
Suponho que duas ordens de razões militam por que não se repute meramente nominal a questão. De fato, de urri lado há que distinguir lingüística de sociolingüística, etnolingüística, psicolingüí.stíca e, acaso, genolingüística (ou genetolíngüística), etolingüística; de outro lado, mais dentro de nossa temática dagora e daqui, há que perguntar por que sociolingüística, de um lado, e etnolingüística, de outro.
A proliferação de campos específicüs de saberes e de fazeres, de um pouco mais de um século a esta parte, é fenômeno que não escapa à observação de ninguém. Em tempo de Augusto Comte, era possível enunciar o nome de nossos saberes e fazeres dentro de um corpo lexical de 250 palavras. Já pelos inícios da década de 1960, reconheciam-se, entre sintagmas e nomes específicos, mais de 24 mil com necessários à designação dos saberes e fazeres humanos. ~
70
certo que isso não foi objeto de um capricho do homem: dois ditames convergiram para isso, primeiro, a penetração mais discriminada dos mundos do real, objetivo ou subjetivo, com as técnicas daí resultantes ou a isso compelentes, e, de outro lado, a impotência humana individual de apreender grandes todos epistemológicos, a não ser que ef. apreensão se faça socializadamente, colegiadamente, te dência esta que nada autoriza a supor poderá ser detida . Aliás, a quem interessaria detê-la?
Esses fatos por si não só explicariam (ou ajudariam na busca da explicação) a emergência de designações interdisciplinares, senão que também a de intradisciplinares, correspondentes a regionalidades descobertas ou operacionais. Justificar-se-iam, assim, a etnolingüística, a sociolingüística, a psicolingüística - e fiquemos nestas, pelo menos por ora.
Mas o fato é que o que parece pretender-se da sociolingüística, da etnolingüística e da psicolingüística não esteve jamais excluído a priori da lingüística pura e simplesmente, seja a que se busca remontar aos hindus, seja a que se busca aos gregos, seja aos árabes, seja ao racionalismo iluminista, seja ao historicismo neogramático. E paro aí. Todos sabemos que nos séculos XVIII e XIX houve diversíssimos matizes pessoais entre lingüistas, matizes em que, não raro, são vistos os germes de desenvolvimentos presentes.
Mas suspeita-se - creio que com razão - que um dos mais fecundos lingüistas de todos os tempos, Ferdinand de Saussure (1857-1913), foi também, muito involuntariamente por certo, dos mais esterilizantes, na medida em que a lingüística da Zangue/ língua/ linguagem avassalou aparentemente as pesquisas e os estudos lingüísticos, murchando-lhes as contrapartidas das coletas e descrições empíricas e das pesquisas de campo que os estudos da paroZe/fala/discurso propunham.
Dois horizontes, felizmente, se abriam para a lingüística pré e pós-estrutural abstrata: o horizonte da dialectologia, basicamente alargado por Jules Gilliéron (1854-1926), na França, e o horizonte da lingüística antropológica ou antropologia lingüística, de Franz Boas (1858-1942), na América do Norte. O material linguageiro sobre o qual eles trabalharam era importante demais para ser descurado.
I, 'll
Permito-me aqui- interparenteticamente- chamar a atenção para o fato de que Gilliéron buscava o diferencial sistemático que existia por baixo do nacional logrado através de uma língua comum nacional escrita de cultura, diferencial que qua.se sempre preexistia à língua comum; enquanto Boa.s buscava caracterizar holisticamente culturas laterais "nacionais" (no sentido de "nações naturais", nationes), possivelmente fadadas a desaparecer em curto tempo, ma.s cujo conhecimento lhe parecia fundamental para o conhecimento do homem pelo homem. Ambos salvavam para a história matéria humana que parecia viver seus momentos finais , na longa batalha etnocida que tem sido o processo dito civilizatório ecumênico ou planetizado - para usar do neolcgismo de Teilhard de Chardin.
A busca do sistema, da estrutura, do abstrato funcional corrente e reduzido e elegante, da forma, não pode ser reputada. infecunda. Era algo que se impunha, como esforço de racionalidade e busca, acaso, da racionalidade imanente na linguagem, racionalidades ambas talvez interagentes e reciprocamente originantes. Mas é claro hoje que a redução da lingüística - ou de qualquer campo do saber e conhecer e fazer- aos vigamentos abstratos de sua pura racionalidade, se era um avanço metodológico importante, era ao mesmo tempo uma perda enorme de substância. A história da ciência tem tido, por sinal, freqüentes casos desse tipo de polarização pendular: ora predominam certas buscas, ora outra.s. Na verdade, ora se buscam os elementos empíricos diferenciais, ora se buscam as coerências que empirias afins têm entre si e todas num todo. Esse movimento pendular humano parece ser um fato extensivo às coisas naturais e humana.s: talvez sejam humanas porque são também da natureza. Refiro-me - sem invocação mágica - à unidade na diversidade, com sua recíproca rigorosa, a diversidade na unidade. Numa extremação de aparente fantasia, é como se um cromossomo fosse responsável, numa geração e sua seqüência de gerações, de um certo tipo de folha de certo vegetal: essa folha é, geneticamente, a mesma (genótipo) e será, dentro de certas condições, a mesma: mas jamais um espécime seu, uma folha dessas em sua concretude existencial (fenótipo}, foi, é ou será igual a outra sua sincromossômica - se o diferencial for buscado a partir de certo grau ou
72
nível de mensuração, aferição, aprofundamento ou comparação. Essa unidade na diversidade, com sua recíproca, não parece ser, assim, um ente de nossa razão por esforço de nossa razão, mas antes a conquista racional pelo homem de algo que parece existir sempre na natureza- e no homem e na sociedade. No extremo, até a falta absoluta de liberdade é uma falta individualmente diferenciada. Mas, no limite, a falta de liberdade de um afeta a liberdade restante.
Etnpiricamente, societariamente, socialmente, inconscientemente, os homens desde que falam praticam a dialética da unidade na diversidade com sua recíproca, sem o menor espanto ou surpresa: um dos "milagres" semânticos do sinal semiótico ou do lingüístico tem sido o fato de que ele designa um ente abstrato e abstraído que comporta concretude até díctica a cada ocorrência.
Mas na medida em que o processo cognitivo da lingüística buscou esgotar a racionalidade linguageira - mesmo quando esta exprimia emocionalidades, sensualidades, afetividades-, fê-lo em favor das grandes unidades, abandonadas as pequenas unidades e as grandes e pequenas diferenças tidas como de somenos, no estatuto oficial- digamos assim - da lingüística: certos fatos foram reputados irrelevantes, impertinentes, acidentais, triviais.
Numa analogia, o esforço da fonética tradicional tendia a ver cada vez mais o diferencial, a tal ponto que tendia quase à incoerência do sistema, o esforço da fonêmica reerguia harmoniosamente a coerência da estrutura - os estruturalismos lembravam que à época do ético (sufixo de fonético) devia seguir-se a do êmico (sufixo de fonêmico). Apenas, o que lhes parecia pura descrição microscopizante não era substituído por pura abrangência sistemática racional. É que os estruturalismos, também, a um nível de aprofundamento, tinham de buscar-se ou fazer-se êmicos.
Já estamos retomando, assim, sem abandonar as grandes conquistas dos quadros racionais anteriores, estamos retomando contacto com a carne da linguagem. E buscando novos caminhos que não apenas nos revelem o homem, mas possam também servi-lo- com o mesmo fervor do passado, aparentemente exaurido.
Há, desse modo, que aceitar como inscritas na ordem do dia das pesquisas e estudos lingüísticos novas disciplinas
73
que, inter ou intradisciplinares, especificam objetos relevantes de conhecimento. Mas quanto há, nas suas designações, de válido, para distingui-las umas das outras e enquadrar suas pesquisas e objetos de pesquisas em molduras prefixadas?
O campo usualmente definido como da sociolingüístiça parece ser de empiria tão extensa que se torna - dizem os especialistas - realmente difícil distingui-lo do da etnalingüística e do da sociologia da linguagem. Há, de fato, uma macrossociolingüística que pode propor-se, numa dada língua ou numa dada universalidade lingüística, a busca da resposta de por que os índices de redundância linguageira desaparecem, como há uma microssociolingüística que pode propor-se, numa área urbana, o diferencial entre os / R/ múltiplos de faixas etárias, faixas culturais e faixas profissionais. Numa comunidade dita primitiva, entretanto, nada impede que, a título de etnolingüística, se estude, nessa cultura, a conexão entre a constelação semântica do corpo, ou das cores, ou do trabalho, ou do sexo, em função daquelas faixas, se existirem, ou em função do todo societário, holisticamente. É por isso, creio, que são freqüentemente tomados como sinônimos, senão as designações de sociolingüística, etnolingüística e sociologia da linguagem e lingüística da sociedade, pelo menos os estudos e pesquisas - ou certos estudos e pesquisas- assim rotulados. Há distinções que não parecem ser boas, porque são, apenas, preguiçosas. Há distinções do tipo seguinte:
1) a etnolingüística se ocupa de uma língua e do seu discurso em relação com a vida da sociedade global sem diversificação social importante;
2) já a sociolingüística se ocupa de uma língua e de seu discurso em relação com os segmentos sociais, de classe, de profissões, de idade, de estatutos, de estamentos etc.;
3) ademais, haveria que levar em conta a sociologia da linguagem, que seria a linguagem vista pela sociologia, e a lingüística da sociedade, que seria a sociedade vista pela lingüística.
Estamos, realmente, em círculo vicioso nominalista, que só refiro porque estou glosando, sem citá-lo, eminente sociolingüista contemporâneo.
74
Ora - vou ousá-lo -, ora, a haver alguma diferença não apenas essencial, mas também necessária e talvez suficiente entre etnolingüística e sociolingüística, estará ela talvez na diferença acaso existente (ou existível) entre cultura e sociedade - e, mais, entre a necessidade epistemológica da etnologia (ou antropologia cultural) e da sociologia. O estatuto da sociologia e da etnologia é controverso, todos o sabemos, mas é incontestável que ambas essas disciplinas humanas e sociais estão sabendo abrir seu caminho, sem autolimitações regionais ou de campo excessivas, porque castradoras. Por esse lado, assim, a etnolingüística e a sociolingüística subsistem, ambas e cada uma por si. Mas se subsistirem por esse lado, que dizer de "cultura" e "sociedade" que estão por trás de etno- e sacio- que estão à frente das duas designações ,sobretudo levando em conta que etno-, aí, não tem e não pode ter sentido biológico ou racial? E como não suspeitar que aí estaria o diferencial entre etnolingüí.stica e saciolingüística? Consideremos, enfim, que convivemos com línguas de povos sem classes e com línguas de pragmáticas de classes -o que as fazem diferir de forma insuspeitável: a divisão progressiva do trabalho, físico e mental, vem, literalmente, provocando uma explosão vocabular - de menos de 3 mil vocábulos por língua "natural" a mais de 400 mil por língua de cultura.
Na prática, tem-se dado - não exclusiva mas preferentemente - o rótulo de etnolingüísticos aos estudos lingüísticos - e culturais e sociais conexos - das sociedades ditas primitivas ou não-complexas. Correlatamente, os estudos lingüísticos em que os diferenciais linguageiros de uso são conexos com as caracterizadas segmentações sociais e culturais das sociedade ditas evoluídas ou complexas são rotulados, via de regra, como sociolingüísticos. Trata-se, vê-se logo, de um critério extremamente fluido, embora não seja fluida a diferença entre uma sociedade dita primitiva e uma sociedade dita complexa, e embora, entre os dois extremos de sociedades, haja uma imensa gama como massa intermédia, quase sempre constituindo um continuum cuja descrição, discernimento ou seccionamento se faz, hoje em dia , mais pelo estatuto dito nacional do Estado moderno, ou suas divisões administrativas, do que por cortes lingüísticos ou cortes culturais. Em suma, o elemento separatório não
75
existe, pelo menos por ora, e a tendência é a de desaparecer, tão extrapoláveis são os métodos e as indagações feitos numa direção para outras direções.
Parece, de fato, ser tudo uma diferença de estádio de desenvolvimento social, em função das origens desses estudos, mais do que de sua natureza.
Na realidade, o campo da etnolingüística e da sociolin- · güística parece abarcar "tempos" diferentes do homr-m.
Creio que aqui entra uma questão crucial para o entendimento, quero dizer, para a tentativa de entendimento da questão.
Noam Chomsky (*1928), levando em conta algumas "estranhezas" específicas do homem- como o fato de que todos falam, como o fato de que todos parecem ter um estoque prévio neurofisiológico para a fala, com o fato de que todos atualizam esse estoque a partir de certo instante de seu desenvolvimento ontogenético, como o fato de que todos atingem, por certa idade (12-14 anos) seu estádio estacionário de aquisição, aprendizagem e domínio da sua língua, como o fato de que, por exemplo, existem caracteres comuns a todas as línguas, como a condição de sujeito especificada (isto é, extensiva à espécie humana), Chomsky, levando em conta essas estranhezas específicas, isto é, só da espécie humana, admitiu estádios prévios do aprendizado lingüístico, culminados no s., steady state, estádio estacionário (em que estacionário está longe da significação de estático, isto é, parado, mas é dinâmico e funcional). A tese de Chomsky é objetivamente intemporal, do ponto de vista filogenético. O fato a que ela se refere pode ter-se dado a 10 mil, 100 mil, 300 mil anos, segundo o capricho de remontá-lo a Homo sapiens sapiens, a Homo sapiens apenas ou a Homo não-sei-oquê, e por aí afora, quero dizer, adentro da história ou do passado. Que eu saiba, a questão não é sequer nele aflorada ou discutida. É como se Chomsky tivesse retomado o problema da origem da linguagem, e das línguas, sem o "vício" das empirias comparatistas e historicistas que levaram a Sociedade de Lingüística de Paris, aí por 1932, a declarar não lingüístico o problema das origens da linguagem e das línguas. Não entrando na esplêndida deixa que seria, a este respeito, cotejar sua teoria com a de Jean Piaget (*1896), consignemos, entretanto, que o construtivismo genético deste
76
último não colide com a tese de Chomsky num ponto ne:. gativo - ambos são intemporais, filogeneticamente.
Mas todos - eles também- nos "estranhamos" como seres na natureza. E todos nos supomos, para nós todos mesmos, um momento original. Cremo-nos - e parece que nada nos autoriza, por ora, a não nos crer -singulares na natureza.
Fisicamente, somos singulares porque somos bípedes, para podermos ter uma habilidade e agilidade manuais únicas - e poderíamos prosseguir falando de nossas especificidades e coisas e loisas. Psiquicamente somos capazes disso que nós mesmos chamamos signo, racionalidade, ademais de outros traços anímicos ou - mais modestamente ou imodestamente - psíquicos comuns aos mamíferos e outros animais.
Sociológica e culturalmente, porém, não sabemos bem como situar-nos, sobretudo em face de certas tendências etológicas que, associadas a uma análise mais detida dos animais societários (como as formigas, os térmitas, as abelhas), em conchavos com pragmatismos aparentemente retardatários ou ressurrectos, querem devolver-nos comportamentalmente a uma condição "anterior", reduzindo nossas linguagens a um neocomportamentalismo cuja lingüística se chamaria etolingüística.
Sabemos que há um momento filogenético , situável no tempo, em que emerge o genus Homo. Esse momento -parece mostrá-lo a antropologia nas pegadas de uma póspaleontologia pré-arqueológica -, esse momento se caracterizaria pela existência fóssil de ossadas (ou partes) de Homo e - associados a elas e tão importantes quanto elas como guias-fósseis - instrumentos inequívocos feitos por Homo. A questão racional é esta: um instrumento é algo com que se obtêm dois fatos básicos na evolução até então natural: primeiro, a alteração deliberada da natureza para tentar pô-la mais a serviço do alterador; segundo, uma capacidade de "repetição alterada", isto é, a capacidade de levar ao sócio o achamento da possibilidade instrumental sem a repetitividade integral desse achamento: racionalmente, se o instrumento "descoberto" por Homo fosse uma aventura individual que devesse ser repetida igualmente por outro Homo, nesse caso ainda não haveria Hmrw, isto é, ainda não haveria his-
77
tória, havia repetitividade r.íclica natural. Que houvera, pois, que fizera do anterior o genus Homo? Havia - dialeticamente emersos - sociedade, trabalho e língua (linguagem), pois só esta seria capaz de reduzir, no tempo, o saber prático adquirido em dez anos (por hipótese) num saber verbal transmissível em dez horas- digamos; e só havendo essa redução do tempo prático no tempo teórico verbalizado para um novo tempo prático mai.s eficaz é que se pode conceber Homo como o ser que faz história, fazendo-se a si mesmo cada vez mais.
Ora, se consideramos Homo em sociedade, devemos pensar a sociedade e Homo em sua historicidade. E há, nesta altura de nossas epistemas no passar dos tempos, a possibilidade de eixar os estudos ligados à sociedade (humana, é claro) vendo-a a esta em três momentos - o terceiro dos quais parece ser uma potencialidade ou uma utopia ou um in fieri, segundo convicções ideológicas (pró ou contra) que se afirmam científicas.
Esses três momentos da história social, isto é, da história pura e simplesmente, presumem condições basicamente -isto é, de base - diferentes: o primeiro momento em que não há classes sociais, o momento em que as há (opostas, contrárias, complementares, antagônicas) e o momento em que não as há ou haverá.
O problema, em relação ao primeiro momento, é que ele postula a existência de línguas, mas recuadas num tempo que pode ser de dois milhões de anos, de 300 mil anos ou de 60 mil anos -segundo certas derivas da antropologia, físicB. ou cultural, ou da antropologia filosófica ou filosofia antropológica. O indicador por excelência tem sido a capacidade craniana comparada com a do homem moderno, sem levar em conta senão a média moderna, descartados os homt:ns modernos, mesmo geniais, que singularmente têm capacidade craniana muito abaixo da média. Não se cogitou, ainda, de estabelecer bases para estudos lingüísticos conexos com esse primeiro momento, simplesmente porque a lingüística, mesmo quando abstratizante e modelizante de sistemas e estruturas coerentes e - quase - fechados, ainda assim foi sempre uma lingüística empírica: língua ideal poderia ser o sânscrito, o grego, o latim, o francês, o inglês ou ... mas o ideal se depreendia do real, como, por exemplo, o indo-europeu
78
hipotético concreto como instrumental comparatista. Remontar-se-ia, assim, por uma comparatividade rígida interlinguageira a um passado de 6-8 mil anos, se tanto. Como fazer, assim, uma paleolingüística? O comparatismo e o historicismo podiam até imaginar hipóteses mono-ou poligenística.s, mas faziam-no na base de línguas conhecidas, que não auditivamente, pelo menos graficamente ou recon.stituidamente. Isso daria, redigamos, um recuo históríco documental de 6-8 mil anos, sobre um eixo de 60 mil ou 300 mil ou mesmo dois milhões de anos - em qualquer caso, uma fração conhecida de uma imensa parte ignota. Quaisquer que sejam as hipóteses de origens não filogenéticas, melhor, não datadas, deixam elas um imenso hiato, um imenso vazio - com processos lingüísticos presumíveis de diferenciação sempre presente e processos incipientes de glotocídio ou lingüicídio e de unificação correlata. Foi quando, com a planetização do homem, começou a ocorrer, ao que parece, o processo de unificação lingüística "imperial" antigo, talvez no Egito e na Mesopotâmia, talvez em áreas do Extremo Oriente, de qualquer jeito em ecúmenos muito povoados para a potencialidade produtora de então do homem. Tais processos, de retornos eventuais, não repetiam a história: a expansão do latim, por exemp~o, sobrecapeou um possível grande número de línguas, atingindo uma relativa unidade, de que derivaram, pela ruptura da unidade política, um novo número substancial de línguas potencialmente nacionais, de que apenas um reduzidíssimo número se alçou a nacional. De uns milênios a esta parte, numa humanidade demograficamente multiplicada, esse parece ter sido o processo, de tal modo que algo milita em favor da hipótese de que as línguas presentes, entre 2-3 mil (segundo estimativas, que vão também a 12-15 mil), representam um décimo das existentes faz 8-10 mil anos, quando a humanidade seria, talvez, não mais que 4 milhões de homens, isto é, mil ve~es menos.
Nesta experiência mental que estou ousando fazer-lhes, pode-se ver um esboço de paleolingüística externa, a que aludi faz pouco. É imaginável que algum dia descubramos o método que nos permita elaborar hipóteses paleolingüísticas internas. De quaisquer modos, há aí a um tempo elementos de paleoetnolingüística e de paleossociolingüística. Tratar-se-á de questões indissociáveis da antropologia, da et-
79
nologia, da arqueologia, da paleocivilização, da paleobiologia, da paleoneurologia. E um dia, nos estudos minudentes dos instrumentos, da glíptica, da gráfica e de meros materiais manuseados por Horrw, haveremos de descobrir não somente universais humanos que demandarão certos universais saciolingüísticos ou etnolingüísticos, mas até certos diferenciais humanos que postularão traços etnopsicolingüísticos.
Entrementes, estamos no segundo momento- histórico stricto sensu -, com resíduos conspícuos de culturas e sociedades do primeiro tempo: vale dizer, nele temos, concomitantemente, sociedades complexas e sociedades ditas primitivas, que, supositiciamente, quando não continuam estruturas mentais linguageiras paleolingüísticas, devem preservar com maior vitalidade vínculos com a matéria primitiva.
O primeiro momento postula uma relação dialética instrumento-trabalho-linguagem oral; o segundo momento, na parte inovadora, postula uma relação instrumento (ou, sofisticamente, tecnologia, que é, em última análise, o mesmo), repitamos, pois, tecnologia-trabalho-linguagem escrita. Mas a linguagem oral pura postula, por sua vez, ou sociedades sem classe ou sociedades com um mínimo de segmentação social; a linguagem escrita postula o enraizamento das divisões de trabalho, as divisões de classe, a dialética de uso em proveito próprio da linguagem e a tecnologia da reserva gráfica em cabeças privilegiadas - de que a mnemônica institucionalizada e a tradição literária oral (repito o literária oral) foram o preâmbulo.
Estaríamos, assim, em condições de estremar uma paleolingüística, uma etnolingüística e uma sociolingüística como correspondentes, as duas primeiras, à pura oralidade (não documentada, uma, e viva e documentável, a outra, respectivamente), a terceira à oralidade com literariedade interinfluente, ou, noutros termos, às sociedades que se complexificaram graças ao aumento da capacidade produtiva e reprodutiva com o advento de classes e de divisão do trabalho, cuja administração social não podia fazer-se sem universaltdade transespacial e transtemporal - vale dizer, sem a língua escrita.
Dentro da historicidade, do tempo histórico documentável, há um ponto de referência para várias experiências mentais. Quero referir-me a noções conexas com estudos lingüís-
80
ticos: o de estrutura lingüística e estrutura social, o de língua como visão do mundo e o de ideologia e seus discursos, o de practicidade e o de universalidade.
As estruturas lingüísticas e as tipologias conhecidas vêm de longa data sugerindo sua associação ou conexão com as respectivas estruturas sociais. A mais conspícua hipótese a respeito foi a do lingüista russo Nicolas Marr (1864-1933), segundo a qual a língua, sendo uma superestrutura, deveria alterar-se em função da rearticulação estrutural da infraestrutura ou base, mudando, assim, por saltos, tendo como móvel rearticulador a nova semântica determinada pela nova base. A questão pecava, ao que parece, por um pressuposto: o de que. no funcionamento estrutural e na estrutura funcional de uma sociedade, que buscava, no mínimo, reproduzir-se, quando não incrementar-se, um fato era básico, a saber, a produção de bens materiais pelo trabalho, enquanto os outros -religião, artes, direito, hedonismos etc. - eram superestruturais e por isso modificáveis após (em certos casos antes das) modificações estruturais da base. A solução dada por Joseoh Stalin (1879-1953) em 1950 à controvérsia daí gerada é vista, hoje, como a necessária, politicamente, à preservação da língua russa nas novas condições vigentes (sobretudo multirraciais e multilingiiísticas), sem ser necessário que se esoerasse que ela. língua russa. desse o salto postulado pela teoria. Em verdade, a dirimição explicitava que a razão disso provinha do fato de que uma língua, numa sociedade de classes, é o instrumento graças ao aual a sociedade se reproduz, com classe, com lutas de classes, com preservação de classes ou com eliminacão das classes antagonísticas ou das classes pura e simplesmente.
Essa questão, na sua especificidade, parece ser um dos problemas primaciais da sociolingüística ou de uma das seqüelas, a lingüística política ou oolítica lingüística ou -se me admitem - a politolingüfstica. Não sei se ooderei adiante dizer algumas palavras a respeito disso. Por ora, recordemos que procurávamos reconhecer que se buscou algum tipo de correlação entre estrutura lingüística e estrutura social - tema aue não oode ser mais macro.ssociolingüístico do aue é. Mais de um- trabalho dessa natureza, não imoorta se dito sociolingüístico ou etnolin!!iiístico, tem procurado ver essa correlação em camoos semânticos particulares (cores, parentesco, nômina zoológica, botânica etc.)' mas
81
quase sempre no léxico, na parte aberta do sistema, isto é, na parte a que pode sempre faltar muito e em que pode sempre sobrar também (quando comparada entre duas ou mais línguas ou entre dois ou mais períodos de uma língua). Essa é uma questão aberta em sociolingüística e etnolingüística - como veneráveis antecedentes históricos - que pode ser objeto de muito estudo empírico e de muito equívoco teórico ou pseudo-racional (como certa manipulação do gênero gramatical para fins antimachistas ou feministas). E exatamente por isso parece dever merecer crescentes pesquisas, sobretudo em língua portuguesa, porque a nossa.
De outro lado, tomar a língua como uma visão do mundo, cosmovisão ou mundivisão - principalmente naquilo qlle ela tem de classificatório, categorético e também semântico - é, de certo modo, ter da lingua uma concepção ou mera impressão afim das correlações sociais e lingüísticas a que me referi antes. Parece pacífico que, nas línguas de practicidade, que não atingiram o estatuto de universalidade só obtenível com a transtemporalidade e transespacialidade oferecida pela língua escrita, nas línguas de practicidade não serão de esperar certas conexões: com o mundo hibernai onde não haja frio e neve, com o mundo orográfico na planície etc. etc. etc. Há assim um esboço de visão do mundo nos elementos estruturantes da semântica e vocabulário de cada língua- mas é de perguntar o que é que isso pode ter com ideologias, se esta for uma visão inconsciente ou conscientemente interessada por parte de um segmento social contra o resto ou por parte de uni subgrupo contra o grupo? Haverá uma ideologia ou várias ideologias incrustadas na estrutura de uma língua ou são elas expressas pelos usos dados à mesma língua por interesses classais, segmentares, grupais, da sociedade que tem a mesma língua?
A questão da practicidade e da universalidade é, do ponto de vista teórico, a mais fadada à discussão, cujos resultados poderão ter alcances sociais e políticos profundos. Todos os aspectos de uso, de fala, de discurso, de registro (~e~mo ao nível pormenorizadamente idioletal ou personalizado) estão enlaçados· CÇ>m a vida social, pertencem potenCialmente à sopiolingüística e se polarizam, em última análi~é, já no que estou chamando practicidade, já no que estou chamando universalidade. Recubro com practicidade tanto os usos linguageiros de campanário - que tendem para a
82
diferenciação dialetal horizontal eventualmente, em face de uma língua comum -, como os usos linguageiros terminológicos - que tendem para a diferenciação vertical diastrãtica. Opositivamente, os usos que tendem a confinar-se à língua comum, com ideal no padrão escrito e no léxico dicionarizado, podem aspirar à universalidade, nessa língua, tanto cenemãtica quanto plerematicamente - importando, é óbvio, o conteúdo racional que lhes for dado. Trata-se, parece claro, de pólos ideais com um continuum de grande massa intermédia.
O tratamento abstrato das línguas tem tendido, de outro lado, a atribuir-lhes valor isonômico ou eqüitativo - é a eqüidade lingüística ou, melhor, linguageira, paralela de eqüidade cultural, paralela da eqüidade societãria, das sociedades que sobrevivem sem agressões externas e sem agressões interna.s - ainda que com lutas ou oposições de vãria natureza. O tratamento concreto - em particular etnolin~ güístico - tem ousado estabelecer comparações de valor e especificidade para com fins determinados, como, por exemplo, a expressão da lógica, da racionalidade, da univocidade ou, pelo menos, da inequivocidade. Aceitando, porém, que numa língua, segundo os fins com que é usada, se pode exprimir o conteúdo de humanidade quase toda de cada indivíduo falante , fica-se um pouco perplexo ante aqueles cotejos de valor, visto, pelo menos, que se presume que uma eficãcia setorial maior atrofia certo outro setor, traduzindose tudo na eqüidade lingüística. Relembremos um caso: num dado momento, houve coisas, no pensamento de certos autores não ãrabes, que só podiam ser bem ditos, se ditos em ãrabe. Poucos séculos depois, houve ãrabes que acreditaram que nada de vãlido podiam dizer se não o dissessem em francês ou inglês. . . Do latim, do grego, de quantas línguas não se poderia dizer o mesmo?
Temos, contudo, que não ignorar que hã uma distância entre as chamadas línguas "naturais", isto é, ãgrafas desde sempre, e as línguas comuns escritas com reserva grãfica tradicional. Estas apresentam uma complexificação muito grande em face das outras, pois têm tudo o que aquelas têm e multo mais:
1) elas, a um tempo, estabilizam e enriquecem -- é bem o termo - a tradição-transmissão lingüística, criando
83
a reserva gráfica lingüística não só quanto aos conteúdos mentados, senão que também quanto às gramáticas e ao léxico da língua. As gramáticas se consolidam em sistemas próprios entre si compatíveis, que podem hierarquizar-se em 'fiipossistemas de sistemas com um (ou mais) metassistemas. Um exemplo típico desses fatos é dado pela estatística vocabular ou dicionária: o grego ou o latim, até a alta Idade Média, acumularam, escritos, cerca de 40 mil vo"cábulos cada um; o românico e as línguas românicas, na transmissão oral, apresentam não mais que 5 mil vocábulos; cada língua roqiânica tornada língua comum escrita atinge, pelo início do século XIX, cerca de 40 mil vocábulos acumulados na transmissão escrita; hoje, as que têm usos universalistas acumulam cerca de 400 mil vocábulos, nas diferentes segmentações horizontais e verticais, sendo que destes há cerca de 90 % de caráter tipicamente internacional com base em formas greco-latinas, forjadas do Renascimento e sobretudo século XIX para cá;
2) nas línguas de cultura é quase impossível fazer qualquer pesquisa sociolingüística sem ter sempre em conta três interinfluências: a das variedades nacionais ou locais; a das diferenças classais e a dialética delas decorrente sobredeterminada pela presença do passado no presente, com a reserva gráfica, e a presença do escrito no falado, e viceversa, o que faz do "natural" segmentar ou dialetal uma realidade em vias de contaminar-se em sua - digamos -pureza "natural";
3) a criação artística e científica, por seu turno, busca, hoje em dia, um ideal de criação que tende a resultados aparentemente contrários, senão que contraditórios: a criação artística, no cultivo do instrumento expressivo, busca por vezes obsessivamente a originalidade, fratura freqüentemente a norma, quando não o próprio sistema ou estrutura; a criação científica, buscando a univocidade e aprofundando o real objetivo e subjetivo, tende à terminologia própria, obtendo uma universalidade intra-regional (na psicologia, digamos, ou patologia, ou genética, ou física atômica, ou citogenética) que não é intercomunicante com as outras universalidades intra-regionais, arriscando, assim, a criar na vida social compartimentos estanques de criatividade e baixa
84
intercomunicação comunitária, com seqüelas políticas potenciais liberticidas - pelo menos na opinião de alguns, em que me incluo.
Eis assim que ouso supor que os estudos sociolingüísticos (e etnolingüísticos) podem ser a chave ou a base ou o fundamento ou a necessidade de uma politolingüística. Refiro-me, no essencial, ao problema das opções com que se possa fazer a transmissão escolarizada ou institucionalizada de uma língua, das línguas. Todos cremos - com matizações creio que secundárias - que a partir de um certo momento o infante começa a aprender a "sua" língua e que pelos 12-14 anos não progride mais no aprendizado de suas gramáticas: daí por diante pode aumentar sempre seu vocabulário, deixando caducar ou não vocábulos já assenhoreados - tanto ativa quanto passivamente. Todos cremos - suspeito - que isso não precisa ser ensinado institucionalizadamente. Todos sabemos, porém, que qualquer língua, se escrita, tem de ser aprendida e, mais, que esse aprendizado é longo e árduo e - não raro - objeto sempre de descontentamento das gerações velhas ante as jovens pelo baixo (ao ver daquelas) domínio da língua (por parte destas).
Numa inversão da norma erudita nacional ou geral preconizada pelas preceptivas nas línguas cultas, há hoje uma tendência, oriunda do conceito de eqüidade lingüística e cultural, a aceitar normas regionais, mas não apenas faladas, numa fragmentação que potencialmente não tem limites. As diferenciações terminológicas, tendemos a acrescentar as diferenciações normativas, numa acumulação de diferenciações que se agrava com a eficácia artística das obras eixadas sobre o realismo da dicção localista ou a fantasia do idioleto levado ao extremo de um idiodialeto - uma segmentação autoral que é decodificada pelo prazer hedonístico ou entusiástico dos seus leitores. Esse é um campo que tem de ser aprofundado pelo estudos sociolingüísticos para fins politolingüísticos não coercitivos na medida do possível (a coerção violenta é socialmente uma perda de rendimento social) . É que, se na ordem interna a norma erudita ou culta pode ser vetor::>. ~c um tipo de dominação ideológica ou de classe - o que parece ser uma questão de uso e contrauso de formas e de conteúdos e contraconteúdos -,ainda na ordem interna a multiplicidade de normas pode ser um en-
85
fraquecimento da função "nacional" da língua. E se esse enfraquecimento pode ser pensado, por uns, como o enfraquecimento do sistema imposto de dominação de classe to que está por ser provado) , é pensado, por outros, como a debilitação de um dos cimentos culturais nacionais, em face das pressões lingüísticas e culturais externas - sem falar nas econômicas, ideológicas, militares, políticas. Afinal. ganharemos o quê, se perdermos nossa língua como nossa língua? Ou se a tivermos dividida de cima para baixo? Ou se a tivermos confinada aos usos e aos escritos "poéticos", porque teremos chegado à conclusão de que não serve para fins universalistas - como negociar empréstimos, exportar, fazer funding loans em démarches cujo approach nem sempre tem o green signal do international business? São pex:guntas aparentemente inéditas, ingênuas e impertinentes. Mas são mesmo? Em passado não remoto ocorreram semelhantes situações ou pelo menos comparáveis.
Entre a paleolingüística, a etnolingüística e sociolingüística, há diferenças na situação histórica do objeto de estudo, mas não creio que as haja no objeto mesmo. Fica -pois estou excedendo-me- a certeza de que-apenas aflorei questões e de que sequer entrei na questão da etnolingüística como lingüística da cultura e sociolingüística como lingüística da sociedade. Importa , a.ssi.m, suspeitar que há universais humanos sociais, como a linguagem e as linguagens, e universais humanos culturais , como as línguas. E em que ficamos quanto à linguagem e as línguas e a realidade social e cultural brasileira? Sobre o a.<ssunto fiz há dias uma palestra - também, por imPOSição, escrita - no Instituto de Estudos Brasileiros. da Universidade de São Paulo. Espero que a sua publicacão ocorra pela mesma época em que ocorrer a disto que lhes digo aaui. agora. Rogo-lhes que tomem os dois dados como um dado só.
Esoanta-me a oaciência com aue fui ouvido - pois abnsei, de fato , do meu tempo. Sou-lhes, oor isso, duplamente grato.
Muito obrigado e reobrigado. Ou muito e rem~ito obrtga~o.
86
Trabalhos do Autor
1. nos campos da crítica e da antologia literárias:
1.1. Prefácio. In : BARRETO, Lima. Vida urbana. São Paulo, Brasiliense, 1956.
1. 2. Silva Alvarenga, poesias. Rio de Janeiro, Agir, 1958. (Coleção Nossos Clássicos). (antologia, introdução e notas).
1. 3. Crítica avulsa. Bahia, Publicações da Universidade da Bahia, 1960. (série II, n.0 23).
1. 4. Seis poetas e um problema. Rio de Janeiro, Ministério da Educação e Cultura, 1960. (Os Cadernos de Cultura, n.0 125); 2. ed. Rio de Janeiro, Edições de Ouro, 1967. (reunião de estudos de crítica literária, estilística e ecdótica, relativos a poetas particulares - Silva Alvarenga, Gonçalves Dias, Augusto dos Anjos, Carlos Drummond de Andrade, Joaquim Cardoso, João Cabral de Melo Neto - e à poesia concreta).
1. 5. Augusto dos Anjos, poesia. Rio de Janeiro, Agir, 1960. (Coleção Nas-sos Clássicos) . (antologia, introdução e notas).
1 . 6 . Reportagem - cinqüentenário da morte de Augusto dos Anjos. Correio da Manhã, 7 de novembro de 1964.
1. 7. Qual prefácio. In : MARTINS, Hélcio. A rima na poesia de Carlos Drummond de Andrade. Rio de Janeiro, José Olympio, 1968. (Coleção Documentos Brasileiros, 130).
1. 8. Introdução. In: ANDRADE, Carlos Drummond de. Reunião; 10 livros de poesia. Rio de Janeiro, José Olympio, 1969.
87
1. 9. Critica literária e estruturalismo. In: li Simpósio de língua e literatura portuguesa. Rio de Janeiro, Gernasa, 1969.
1. 10. Drummond. In: AZEVEDO, FILHO, Leodegário A., org. Poetas do modernismo; antologia crítica. v. 3. Brasília, Instituto Nacional do Livro, 1972. (segunda versão, substancialmente alterada na parte final, do estudo introdutório já referido como 1. 7.) .
1. 11. Reportagem - cinqüentenário da morte de Augusto dos Anjos e O texto de Augusto dos Anjos. In: COUTINHO, Afrânio & BRAYNER, Sônia, org. Augusto dos Anjos, textos críticos. Brasília, INL, 1973. (Coleção Literatura Brasileira, 10). (o segundo dos trabalhos indicados é, originalmente, o estudo "Texto e nota", que acompanha a 3o.a edição do livro Eu, outras poesias, poemas esquecidos, de Augusto dos Anjos).
1. 12. Drummond mais Seis poetas e um problema. Rio de Janeiro, Imago, 1976. (Série Logoteca) . (reunião dos estudos precedentemente destacados em 1. 4., 1. 6 e 1. 7. ).
1.13. Estudos vários sobre palavras, livros , autores. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1979.
2. no campo dos estudos lingüísticos:
2. 1. Tentativa de descrição do sistema vocálico do português culto na área dita carioca. Rio de Janeiro, 1959. (dialectologia e ortofonia).
2. 2. Sugestões para uma política da língua. Rio de Janeiro, Instituto Nacional do Livro, 1960. (Biblioteca de Divulgação, série A - XXV).
2. 3. Introdução filológica a Memórias póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Rio de Janeiro, Ministério da Educação e Cultura I Comissão Machado de Assis, 1961. -
2.4. La pluralidad lingüística. In: MORENO, César Fernándcz, ed. América Latina en su literatura. Paris 1 México, UNESCO I Sigla Veintiuno, 1972. (série "América Latina en su cultura") . (Trata-se do capítulo III
88
da parte I desta obra coletiva, o qual constitui um amplo estudo do fenômeno da diversidade idiomâtica no domínio cultural latino-americano).
3. nos campos da documentação, da bibliografia e da ecdótica:
3.1. O Serviço de Documentação da Presidência da República. Separata da Revista do Livro, n .0 20. Rio de Janeiro, Instituto Nacional do Livro, 1960.
3. 2. Elementos de bibliografia. Rio de Janeiro, Instituto Nacional do Livro, 1967. 2 v. (Reimpressão fac-similar, São Paulo, Hucitec, 1983).
4. no campo da fixação cTítica do texto dos clássicos brasileiros:
4.1. Obras, de Lima Barreto. São Paulo, Brasiliense, 1956. 17 v. (trabalho de fixação critica do texto, em colaboração com Francisco de Assis Barbosa e Manuel Cavalcanti Proença).
4.2. Obras completas, de Gregório de Matos. Salvador, Janaina, s.d. 7 v. (fixação do texto, em colaboraç~o, e trabalho crítico em Apêndice).
4.3. O texto dos poemas. In: Gonçalves Dias, poesia e prosa escolhida. Rio de Janeiro, José Aguilar, 1959. (fixação crítica do texto e notícia sobre a questão).
4.4. Introdução ao texto crítico das Memórias póstumas de Brás. Cubas, de Machado de Assis. Suplemento n.0 1 da Revista do Livro, n.0 15. Rio de Janeiro, Instituto Nacional do Livro, 1959.
4.5. Plano do dicionário das obras de Machado de Assis. Suplemento n.0 4 da Revista do Livro, n .0 18. Rio de Janeiro, Instituto Nacional do Livro, 1960.
4.6. Memórias póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Rio de Janeiro, Ministério da Educação e Cultura, 1961. (fixação do texto crítico).
89
4. 7. Eu, outras poesias, poemas esquecidos, de Augusto dos Anjos. 30. ed. Rio de Janeiro, Livraria São José
4 1965;
31. ed. Rio de Janeiro, Livraria São José, 1971. (fixação crítica do texto e nota respectiva) .
4. 8. Edições críticas de Obras de Machado de Assis. Rio de Janeiro I Brasília, Civilização Brasileira I INL, 1975. (participação da Comissão Machado de Assis, em suas distintas fases, como membro efetivo; supervisão dos trabalhos de coordenação editorial final; supervisão dos trabalhos de coordenação editorial final; constante participação das Subcomissões a que eram cometidos o prefácio, a introdução filológica e o texto crítico de cada uma das Obras de Machado de Assis, divulgadas na edição em apreço; relator do projeto original da introdução filológica e do texto crítico do volume Memórias póstumas de Brás Cubas).
5. nos campos de editaria e da organização de obras de referência:
5. 1. Anais do Primeiro Congresso Brasileiro de Língua Falada no Teatro (Salvador, setembro de 1956). Rio de Janeiro, 1959. (relatório geral, conclusões, normas e editaria geral).
5. 2. The New Barsa Dictionary of the English and Portuguese Languages- Novo dicionário Barsa das línguas inglesa e portuguesa (em colaboração com Catherine B. Avery). New York, Appleton-Century-Crofts, 1964. 2 v. (atuação como redator-chefe).
5 . 3. Grande enciclopédia Delta-Larousse. Rio de Janeiro, Librairie Larousse (Paris) I Delta, 1971. 12 v. (editaria).
5. 4. Enciclopédia Mirador internacional. São Paulo I Rio de Janeiro, Encyclopaedia Britannica do Brasil, 1975. 20 v. e 1 atlas. (editaria).
5. 5. Pequeno dicionário enciclopédico Koogan-Larousse. Rio de Janeiro, Editora Larousse do Brasil, 1979. (editaria).
5. 6. Dicionário básico escolar Koogan-Larousse. Rio de Janeiro, Editora Larousse do Brasil, 1981. (co-editaria de Elias Davidovich).
90
5. 7. Vocabulário ortográfico da língua portuguesa, da Academia Brasileira de Letras. Rio de Janeiro, Bloch Editores S.A., 1981. (editoria).
5.8. Webster's dicionário i nglês-português. Rio de Janeiro, Distribuidora Record de Serviços de Imprensa S . A. , 1982. (em colaboração com Ismael Cardim e outros).
6. no campo da tradução:
6 .1. Um sistema de terminologia da documentação de James D. Mack e Robert S. Taylor. Rio de Janeiro, Centro de Estudos de Mecânica Aplicada (C.E.M.A.) , 1957. (edição mimeografada, com prefácio).
6. 2. O negro na literatura brasi leira, de Raymond S. Sayers. Rio de Janeiro, O Cruzeiro, 1958. (tradução do original norte-americano The Negro in the Brazilian Literature; nota introdutória) .
6.3. Do latim ao português, de Edwin B. Williams. Rio de Janeiro, Instituto Nacional do Livro, 1961. (tradução do original From Latin to Portuguese; obra de enorme interesse para a filologia, portuguesa e românica) .
6.4. Ulisses, de James Joyce. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1966; 2. ed. revista, 1968; 3. ed. 1975 (tradução do original inglês Ulysses) .
91