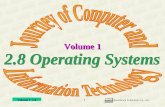Volume 1
-
Upload
luciana-gomes -
Category
Documents
-
view
67 -
download
0
Transcript of Volume 1
-
O Ncleo Tecnolgicoda Indstria Brasileira
Volume 1
-
Governo FederalSecretaria de Assuntos Estratgicos daPresidncia da RepblicaMinistro Wellington Moreira Franco
PresidenteMarcio Pochmann
Diretor de Desenvolvimento InstitucionalGeov Parente Farias
Diretor de Estudos e Relaes Econmicas e Polticas Internacionais, SubstitutoMarcos Antonio Macedo Cintra
Diretor de Estudos e Polticas do Estado, das Instituies e da DemocraciaAlexandre de vila Gomide
Diretora de Estudos e PolticasMacroeconmicasVanessa Petrelli de Correa
Diretor de Estudos e Polticas Regionais,Urbanas e AmbientaisFrancisco de Assis Costa
Diretor de Estudos e Polticas Setoriais,de Inovao, Regulao e Infraestrutura, SubstitutoCarlos Eduardo Fernandez da Silveira
Diretor de Estudos e Polticas SociaisJorge Abraho de Castro
Chefe de GabineteFabio de S e Silva
Assessor-chefe de Imprensa e ComunicaoDaniel Castro
Ouvidoria: http://www.ipea.gov.br/ouvidoriaURL: http://www.ipea.gov.br
-
Braslia, 2011
Organizadores
Joo Alberto De Negri Mauro Borges Lemos
O Ncleo Tecnolgicoda Indstria Brasileira
Volume 1
-
Repblica Federativa do BrasilDilma RousseffPresidenta
Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio ExteriorFernando PimentelMinistro
Agncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial - ABDIMauro Borges LemosPresidente
Maria Luisa Campos Machado LealDiretora
Clayton CampanholaDiretor
Coordenao do Estudo - ABDIRogrio Dias de ArajoCarlos Henrique de Mello e Silva
O ncleo tecnolgico da indstria brasileira / organizadores: Joo Alberto De Negri, Mauro Borges Lemos.- Braslia : Ipea : FINEP : ABDI, 2011. 2. v. : grfs., tabs.
Inclui bibliografia. ISBN 978-85-7811-111-3
1. Tecnologia Industrial. 2. Empresas Industriais. 3. Indstria. 4. Inovaes Tecnolgicas. 5. Brasil. I. De Negri, Joo Alberto. II. Lemos, Mauro Borges. III. Instituto de Pesquisa Econmica Aplicada.IV. Financiadora de Estudos e Projetos (Brasil). V. Agncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial.
CDD 338.064
-
APRESENTAO .................................................................................................... 09
CAPTULO 1 EMPRESAS LDERES NA INDSTRIA BRASILEIRA: RECURSOS, ESTRATGIAS E INOVAO ......................................................................................................... 11Joo Alberto De Negri (IPEA)Mauro Borges Lemos (UFMG)Ricardo Machado Ruiz (UFMG)Fernanda De Negri (IPEA)
CAPTULO 2 INDSTRIA AERONUTICA.................................................................................... 57Ricardo Machado Ruiz (UFMG)Edson Paulo Domingues (UFMG)Pedro Vasconcelos Amaral (UFMG)
CAPTULO 3 AGROINDSTRIA .................................................................................................. 121Eduardo Gonalves (UFJF)Mauro Borges Lemos (UFMG)Thiago Caliari (UFMG)Edson Paulo Domingues (UFMG)Pedro Vasconcelos Amaral (UFMG)Ricardo Machado Ruiz (UFMG)
CAPTULO 4SETOR AUTOMOTIVO ............................................................................................. 313Fernanda De Negri (IPEA)Luiz Bahia (IPEA)Lenita Turchi (IPEA)Joo Alberto De Negri (IPEA)
CAPTULO 5INDSTRIA DE BENS DE CAPITAL.......................................................................... 409Bruno Csar Arajo (IPEA)
CAPTULO 6INDSTRIA DO COURO, CALADOS E ARTEFATOS ................................................ 515Mauro Borges Lemos (UFMG)Edson Paulo Domingues (UFMG)Pedro Vasconcelos Amaral (UFMG)Ricardo Machado Ruiz (UFMG)
CAPTULO 7BASE INDUSTRIAL DE DEFESA............................................................................... 595Bruno Csar de Araujo (IPEA)Fernanda De Negri (IPEA)Joo Alberto De Negri (IPEA)Lenita Turchi (IPEA)
SUMRIOVOLUME 1
-
CAPTULO 8COMPLEXOS INDUSTRIAIS LIGADOS A ENERGIA .................................................. 665Fernanda De Negri (IPEA)Luiz Esteves (UFPR)Alexandre Messa (IPEA)
CAPTULO 9INDSTRIA DE MVEIS, MADEIRAS E ARTEFATOS ................................................ 757Mauro Borges Lemos (UFMG)Edson Paulo Domingues (UFMG)Pedro Vasconcelos Amaral (UFMG)Ricardo Machado Ruiz (UFMG)
CAPTULO 10INDSTRIA NAVAL ................................................................................................ 835Joo Alberto De Negri (IPEA)Luis Claudio Kubota (IPEA)Lenita Turchi (IPEA)
CAPTULO 11HIGIENE PESSOAL, PRODUTOS DE LIMPEZA ......................................................... 907Jos Mauro de Morais (IPEA)
CAPTULO 12TRANSFORMADOS PLSTICOS .............................................................................. 975Bruno Csar Arajo (IPEA)Fernanda De Negri (IPEA)
CAPTULO 13COMPLEXO INDUSTRIAL DA SADE ..................................................................... 1029Ricardo Machado Ruiz (UFMG)Thiago Caliari (UFMG)Pedro Vasconcelos Amaral (UFMG)Edson Paulo Domingues (UFMG)Rogrio Arajo (ABDI)
CAPTULO 14INDSTRIA TXTIL E DE VESTURIO ..................................................................... 1175Eduardo Gonalves (UFJF)Mauro Borges Lemos (UFMG)Edson Paulo Domingues (UFMG)Pedro Vasconcelos Amaral (UFMG)Ricardo Machado Ruiz (UFMG)
CAPTULO 15INDSTRIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAO E COMUNICAO ...................... 1275Luis Claudio Kubota (IPEA)
VOLUME 2
-
APRESENTAO
O Governo Federal tem implementado polticas desenvolvimento da produo com o objetivo de elevar o padro de competitividade da economia. A expresso inovao tecnolgica tem freqentado os documentos oficiais desde 2003 e no so pequenos os esforos empenhados para fazer com que o setor produtivo avance nesta direo. Tambm grande o esforo de pesquisadores que buscam entender a dinmica tecnolgica da indstria brasileira. neste contexto que se insere o livro Ncleo Tecnolgico da Indstria Brasileira, que apresenta uma anlise indita de diversos setores da indstria brasileira.
Esta publicao nica na sua abordagem porque classifica as empresas industriais brasileiras por liderana tecnolgica e est voltada para a compreenso de como as empresas acumulam conhecimento para realizar inovao tecnolgica no Brasil. A economia brasileira heterognea do ponto de vista da capacidade tecnolgica das empresas e se encontra em uma posio produtiva e tecnolgica intermediria no mundo. Por isso mesmo, parcela relevante da inovao no Brasil ainda ocorre por meio da compra de mquinas e equipamentos. No entanto, diferentemente de outras economias em desenvolvimento, a economia brasileira possui um ncleo de empresas que inova por meio da gerao de conhecimento novo.
Desta heterogeneidade que surge o questionamento: o copo de gua est meio cheiro ou meio vazio? Este o grande debate do livro que foi organizado em torno de uma longa parceria de trabalho entre o IPEA, a ABDI e a FINEP e que contou com artigos de diversos autores coordenados pelo IPEA e pela UFMG. Em outras palavras uma obra voltada para dar suporte avaliao e proposio de polticas de desenvolvimento da produo do Estado brasileiro.
Marcio PochmannPresidente do IPEA
-
Empresas Lderes na Indstria Brasileira: Recursos, Estratgias e Inovao | 11
EMPRESAS LDERES NA INDSTRIA BRASILEIRA: RECURSOS, ESTRATGIAS E INOVAO
Joo Alberto De NegriMauro Borges LemosRicardo Machado RuizFernanda De Negri
1. Introduo
relativamente grande o consenso entre economistas de que o crescimento econmico dos pases est associado inovao tecnolgica. O consenso diminui se o assunto como fazer inovao tecnolgica e ainda menor quando o tema da inovao tecnolgica est inserido no debate sobre o desenvolvimento de pases de industrializao tardia como o Brasil. No centro deste debate esto as empresas lderes e sua capacidade de acumular recursos e competncias em intensidade e densidade suficientes para puxar ou difundir capacidades e progresso por todo o sistema produtivo.
As economias mais ricas e avanadas tecnologicamente tm mostrado que o desenvolvimento econmico est cada vez menos determinado por estticas dotaes de recursos - tais como localizao geogrfica e recursos naturais - e mo-de-obra barata e abundante. Tais fatores formam a base de tradicionais vantagens competitivas que condicionou, em outros tempos, a expanso de muitas naes como, por exemplo, os Estados Unidos e Canad no incio dos seus processos de integrao territorial e o Brasil, nos primeiros momentos de sua industrializao.1
As grandes empresas industriais modernas foram alm dessas vantagens comparativas estticas e construram uma estrutura prpria e privada capaz de explorar economias de escala e escopo em dimenses mundiais (Chandler 1990). Esses movimentos demandaram no somente corretas estratgias empresariais, mas tambm eficientes sistemas financeiros, infra-estruturas externas s firmas, eficiente rede de pequenos e mdios fornecedores e oferta de mo-de-obra qualificada. Os encadeamentos intersetoriais, o sistema financeiro e a infra-estrutura tambm foram decisivos na viabilizao das capacitaes internas firma (Teece, 1993).
1 O clssico trabalho de Lewis (1954) certamente uma referncia importante para o caso dos pases em desenvolvimento da primeira metade do sculo XX.
-
12 | O Ncleo Tecnolgico da Indstria Brasileira
Atualmente, e de forma cada vez mais intensa, a construo de economias industriais modernas depende menos dessas vantagens comparativas estticas e mais de vantagens comparativas construdas pela capacitao tecnolgica das firmas e pelos sistemas de inovao setoriais e nacionais (Nelson, 2004). Vale notar que sobre essas estruturas econmicas privadas paira sempre a possibilidade da imitao, da difuso, da cpia ou mesmo do aprimoramento tecnolgico por parte de concorrentes. Assim, a corroso de lucros exclusivos passa a ser uma possibilidade que impe s firmas a inovao como uma dimenso estratgica presente. Portanto, as firmas modernas devem ter estratgias e estruturas voltadas busca e seleo de vantagens tecnolgicas, pois pouco restou das antigas vantagens competitivas estticas.
No obstante essas interpretaes tericas e histricas que destacam as diferenas entre firmas, grande parte dos estudos e pesquisas tem tratado os setores industriais como um espao produtivo e concorrencial agregado e pouca ateno tem sido dada s dimenses especficas das firmas. Teoricamente, essa diversidade intra-setorial fundamental para se captar a estruturao de uma indstria e suas possibilidades de expanso.
Os indicadores de desempenho e de esforo tecnolgico das firmas brasileiras mostrados por De Negri e Salerno (2005) explicitam que so significativas as desigualdades produtivas e tecnolgicas no Brasil em diversas dimenses (escala, insero externa, tecnologias de processo e produto, qualificao da fora de trabalho, investimento em P&D, cooperao tcnica, markup, etc). A diversidade produtiva e tecnolgica a uma das caractersticas especialmente relevantes da indstria brasileira. Dentro deste contexto, razovel supor que uma parte da inovao tecnolgica das firmas do Brasil realizada atravs da compra bens de capital, que so produzidos no Brasil ou em alguma medida importado dos pases desenvolvidos.
No entanto, dentro da diversidade, cabem as seguintes perguntas. As empresas lderes na indstria no Brasil tm capacidade de gerao endgena de tecnologia em intensidade e densidade suficientes para puxar ou difundir capacidades e progresso por todo o sistema produtivo brasileiro? Quem so estas empresas? Quantas so? Quais so suas caractersticas? Qual sua posio em relao s lderes de outros pases? Estas so as perguntas que ordenam este artigo.
Estas perguntas so especialmente relevantes para o Brasil, pois este um pas com escala de produo relativamente grande quando comparado com a
-
Empresas Lderes na Indstria Brasileira: Recursos, Estratgias e Inovao | 13
mdia dos pases em desenvolvimento, e a sustentabilidade do seu crescimento no mdio e longo prazo depende da gerao de conhecimento novo e da capacidade de transformar este conhecimento em inovao tecnolgica. No razovel supor que apenas o conhecimento importado nas mquinas e equipamentos dos pases tecnologicamente mais avanados seja suficiente para sustentar o crescimento brasileiro.
O objetivo deste artigo argumentar em favor da hiptese de que o Brasil tem empresas com capacidade de gerao endgena de conhecimento novo voltado para inovao tecnolgica. Para fazer isso, o trabalho identifica as empresas lderes da indstria brasileira e discute caractersticas que ajudam a entender como essas firmas acumulam conhecimento para realizar inovao tecnolgica. A preocupao central qualificar com indicadores o regime de acumulao de conhecimento, no sentido de uma busca sistemtica de inovao, intrnseco a rotina da firma. O estudo apia-se ainda em indicadores de empresas de outros pases para comparar as empresas lderes do Brasil com a Argentina, Mxico, Frana, Espanha e Alemanha.
Seguindo esta introduo, na segunda seo so tratados aspectos tericos e empricos da economia industrial que do base a este artigo. Na terceira seo so detalhados os procedimentos metodolgicos. A quarta seo apresenta e discute os resultados. A quinta seo conclui.
2. Recursos, Estratgias e Inovao
As assimetrias entre firmas sempre foram um tema complexo para a avaliao de estruturas industriais, seja do ponto de vista emprico como do ponto de vista terico. Como observa Sutton (2001), os modelos que buscaram captar essas diversidades sempre encontraram resultados difceis de serem validados empiricamente, em particular quando buscavam reproduzir as distribuies de tamanhos das firmas. Contudo, no obstante essas dificuldades, inmeros estudos de caso mostram a importncia das capacitaes tecnolgicas e organizacionais na consolidao de lideranas industriais e na gerao de assimetrias intra-setoriais.
Por exemplo, Graff (2006) destaca a expanso da empresa varejista Wal-Mart mostrando seu posicionamento estratgico centrado na distribuio lean com liderana de preos no setor de super-mercados norte-americano. Para dar suporte a essa estratgia foi construda uma logstica articulada a uma rede prpria de supridores. Essa acumulao de competncias empresariais gerou um conjunto
-
14 | O Ncleo Tecnolgico da Indstria Brasileira
de ativos tcitos que dificultou a imitao por parte de antigos concorrentes e ainda bloqueou a entrada de novos concorrentes.
J Aoyama (2007) e Christopherson (2007) ilustram que a aderncia radical a essa estrutura empresarial foi uma das razes do relativo fracasso do Wal-Mart e tambm do Carrefour na sua expanso na Alemanha e Japo. Tanto em um caso, como no outro, as caractersticas das firmas explicam em grande medida a formatao das estruturas varejistas nesses pases. Lamberg & Tikkanen (2006) fazem um estudo similar, mas para o setor varejista finlands e destacam, de forma simtrica, as caractersticas das firmas como determinantes da estrutura do mercado.
Seguindo um argumento similar, Lazonick & Prencipe (2005) mostram a persistncia da Rolls-Royce (turbinas) no desenvolvimento de uma capacitao tecnolgica prpria e a importncia dessa estratgia seja na quase falncia da empresa no incio da dcada de 1970, como na sua fantstica recuperao e expanso no decorrer da dcada de 1990. As peculiaridades de uma estrutura prpria de P&D tambm destacada por Christensen (2002) ao discutir o desenvolvimento tecnolgico em duas empresa concorrentes no mercado de bens de capital dinamarqus. No mesmo sentido, Flemming (2002) mostra a importncia dessas estruturas e estratgias de P&D para o caso do desenvolvimento da impressora jato de tinta pela empresa HP.
Mudando um pouco o foco do P&D para as estrutura organizacionais, pode-se citar o estudo de Jones & Miskell (2005) sobre as dificuldades da Unilever na construo um ativo tcito por excelncia: a organizao interna da firma voltada para internacionalizao e coordenao de uma base produtiva multi-plantas e multi-produtos. Baron & Besanko (2001), de forma similar, mostram como o Citibank mudou sua estrutura interna na primeira metade da dcada de 1990, um componente importante da sua ento estratgia de internacionalizao em um ambiente de forte liberalizao financeira.
Outro exemplo, mas no sentido oposto - um caso extremo de rigidez tecnolgica condicionada for fortes restries financeiras - o da indstria de pneus norte-americana no decorrer das dcadas de 1970 e 1980. Sull, Tedlow, & Rosenbloom (1997) descrevem como a adeso a um padro tecnolgico pode levar empresas lderes, como a Firestone e Goodyear, a situaes de virtual falncia e a quase desnacionalizao completa da indstria de pneus norte-americana.
Ainda no campo das dimenses especficas das firmas, pode-se citar as
-
Empresas Lderes na Indstria Brasileira: Recursos, Estratgias e Inovao | 15
relaes inter-empresas. Esses arranjos institucionais so parte do sistema privado de desenvolvimento tecnolgico, resultam do compartilhamento de estruturas e equipes de P&D e de uma difuso planejada de informaes e capacitaes. Sako (2004) analisa os casos da Toyota, Nissan e Honda e os coloca como exemplos diferenciados do modo como esses arranjos so estruturados. Alm desse estudo, vale registrar ainda o trabalho de Womack, Jones & Ross (1990) como uma clssica referncia ao tema da coordenao privada do desenvolvimento tecnolgico intra e inter-firmas.
Nos setores intensivos em tecnologia, o trabalho de Campbell-Kelly (2001) mostra como algumas empresas formularam suas estratgias a partir da construo interna de produtos (ou pacotes de produtos) e mudaram dramaticamente a indstria. O setor em questo o de software, onde a liderana da Microsoft s se consolidou com uma inovao de produtos: o lanamento um pacote de programas multi-funcional (Office), que mudou toda a indstria de software. Foram excluda ou colocados em segundo plano produtores especializados e com produtos com boa performance no mercado (ex. Lotus, Adobe e WordPerfect).
Quanto a Davids & Verboong (2006), os autores fornecem um exemplo oposto: como capacitaes tecnolgicas diferenciais suportaram, em um primeiro momento um relativo sucesso da empresa, no caso a Philips. Contudo, os encadeamentos inter-setoriais com outras empresas (IBM) geraram uma focalizao e uma certa miopia tecnolgica e empresarial. Nesse caso, a Philips deixou de se posicionar como um potencial entrante no mercado de computadores e presenciou uma rpida corroso das antes diferenciais capacitaes tecnolgicas. A entrada de novos produtores foi um exemplo mais notvel dessa fragilizao tecnolgica e erro estratgico.
Os estudos citados acima no tm a pretenso de serem representativos sob qualquer ponto de vista, seja terico ou histrico. Contudo, a variedade de casos apresentados tem um ponto incomum: o realce das assimetrias das firmas, a importncia das capacitaes internas nas estratgias e, por conseqncia, na estruturao da indstria. Em todos os casos apresentados, os ativos considerados tcitos e non-tradable formaram a base do sucesso (e do fracasso) das firmas. As capacitaes tecnolgicas, sejam elas inovao de produto, de processo, organizacional ou distributiva, tiveram um papel central e a deciso de investir em P&D foi revestida de um clculo estratgico de longo prazo.
-
16 | O Ncleo Tecnolgico da Indstria Brasileira
Nos ltimos anos, a literatura de economia industrial tem crescido e se diversificado. Dentre as diferentes vises no mbito desta rea de conhecimento, tm crescido as anlises sobre as estratgias das firmas e particularmente ganhou espao na literatura orientaes tericas e metodolgicas que ficaram conhecidas como Viso Baseada em Recursos (VBR). O termo surge porque a firma vista nesta abordagem como um conjunto de recursos. Esta viso emerge a partir de perguntas que so formuladas pelas empresas na definio de suas estratgias: Quais so os recursos mais relevantes que a empresa domina? desejvel construir novas competncias nas reas de domnio tecnolgico da empresa? Como ampliar as competncias da empresa?
Foss (1997) argumenta que a VBR emerge de duas generalizaes empricas: i) h diferenas sistemticas entre as firmas considerando como elas controlam recursos que so necessrios para implementar suas estratgias especficas; ii) estas diferenas so relativamente estveis. Levando em conta estas duas evidncias empricas, dois pressupostos sustentam esta abordagem: i) diferenas na dotao de recursos entre as firmas causam diferentes performances; ii) a firma busca aumentar, no necessariamente maximizar, sua performance econmica. De forma geral, a VBR leva em conta a criao, manuteno, e renovao das vantagens competitivas vinculados aos recursos que a firma controla.
Uma das fontes pioneiras da VBR o trabalho de Penrose (1956). Neste trabalho, a estratgia da firma o crescimento da corporao pelo aumento da acumulao de capital e de seu market share. A firma combina recursos como mquinas e equipamentos, conhecimento, tecnologia, mo-de-obra de maneira planejada e que se materializam em uma estrutura organizacional e produtiva especfica.2 Os limites do crescimento da firma so circunscritos pela disponibilidade de recursos produtivos (tangveis e intangveis), pelo financiamento adequado para a aquisio e/ou desenvolvimento desses recursos e pelo mercado onde est inserido.
A idia central de que as firmas so essencialmente diferentes est presente no trabalho realizado por Nelson (1991). Neste trabalho, a viso da firma como uma caixa-preta, com ficou estilizada a firma na abordagem neoclssica, contra-restada pela idia da economia evolucionria de que incentivos, contratos
2 Teece (1980) combina as teorias de custos de transao conforme descritos em Coase (1937) e contribui com as idias originais de Penrose (1956). Ver tambm Foss (1998), que ressalta a estrutura interna da firma com um ativo no-comercializvel (non-tradable), mesmo quando composto por insumos adquiridos no mercado.
-
Empresas Lderes na Indstria Brasileira: Recursos, Estratgias e Inovao | 17
e recursos especficos das firmas tm um papel crucial para entender a dinmica da produo3.
Contribuies sobre as estratgias das firmas foram dadas por diversos autores. O j clssico trabalho de Chandler (1990) descreve como os recursos da firma so organizados em uma estrutura administrativa. O autor argumenta que a estrutura da firma segue sua estratgia. No caso da firma diversificada, a empresa segue uma estrutura organizacional especfica. Andrews (1971) define o conceito de estratgia e analisa com a firma reconhece sua competncia e seus recursos de forma a aproveitar as oportunidades de mercado levando em conta o risco do negcio da firma. Richardson (1972) contribuiu com a descrio detalhada do conceito de capacitaes da firma e refora a idia de que a firma no uma ilha no mercado, pois a cooperao e parcerias entre as firmas so importantes para as empresas adquirirem competncias.
Barney (1986) sustenta o argumento de que h imperfeies de mercado que ocasionam uma discrepncia entre o preo dos recursos e seu valor de aquisio pela firma. A firma deve buscar uma avaliao mais precisa possvel sobre o valor futuro de suas estratgias se ela quer ter um retorno acima do normal. Para Dierickx e Cool (1989) dado estas imperfeies a sustentabilidade das vantagens competitivas das firmas dependem de acumular e estocar ativos e de avaliar o custo de oportunidade de usar estes ativos no processo de competio.
No livro de Nelson e Winter (1982) h vrios exemplos de que firmas so diferentes na forma como elas dominam seus recursos e obtm suas vantagens competitivas. Estas e outras contribuies que do nfase na heterogeneidade entre as firmas, veio para explicitar que o acumulo intelectual no campo da economia industrial baseado nas anlises da indstria era insuficiente para entender a dinmica da produo. Nestas anlises, as firmas diferem entre si porque h diferenas entre as indstrias nas quais as empresas operam.4 Portanto, quando o corte analtico a indstria, o que est sendo reforado so as diferenas entre as indstrias e no entre as firmas.
Do ponto e vista das teorias de economia industrial, as abordagens que tem como unidade analtica a indstria e aquelas que tm como objeto de preocupao central a firma so utilizadas em diversos temas de pesquisa como comrcio exterior,
3 Sobre contratos e custos de transao ver tambm Williamson (1985) e Coase (1937)4 Uma referncia relevante sobre a literatura que analisa a firma a partir da dinmica indstria pode ser en-
contrada em Guimares (1987). A obra deste autor est baseada no processo de competio analisado por Steindl (1976). Ver tambm sobre barreiras entrada os artigos de Bain (1956) e Demsetz (1973).
-
18 | O Ncleo Tecnolgico da Indstria Brasileira
multinacionalizao de empresas, rendimentos crescentes de escala, etc. Quando o assunto inovao tecnolgica, estas abordagens metodolgicas se complementam de uma forma especialmente relevante. Possivelmente porque quando se trata de inovao tecnolgica h necessidade de maior interao entre as firmas e os regimes setoriais de acumulao de conhecimento de uma dada indstria.
Assim, no mbito de esforos de pesquisa de inovao tecnolgica que procuram reforar as diferenas entre as firmas de um mesmo setor, deve ser levado em conta o conceito de regime tecnolgico conforme definido por Dosi (2000). Isso porque a inovao tecnolgica da empresa influenciada de forma especialmente relevante pelo ambiente de conhecimento tecnolgico que a empresa est inserida. O regime tecnolgico leva em conta quatro fatores: i) as oportunidades tecnolgicas, pois elas so fontes de incentivos das atividades inovadoras; ii) o grau de cumulatividade do conhecimento tecnolgico, uma vez que ele pode reduzir o custo de inovaes incrementais e, portanto, oferecer maior retorno para o pioneiro; iii) as condies de apropriabilidade porque refletem tanto o incentivo como os resultados da inovao; e iv) a complexidade da base de conhecimento relevante.
Os regimes tecnolgicos das firmas afetam a estrutura setorial de concorrncia, como o grau de concentrao, poder de monoplio, e outras variveis estruturais.5 Ou seja, existe uma recorrncia e interao entre a base de conhecimento relevante do setor, chamado pela Penrose de rea de especializao tecnolgica, as condies gerais de apropriabilidade das firmas do setor, as oportunidades tecnolgicas e o grau de cumulatividade de cada firma. O grau de cumulatividade define o centro da competncia da firma e entendido como aquilo que ela faz melhor, dado seu acervo de conhecimentos tecnolgicos (tangveis e principalmente intangveis).
As particularidades das firmas se expressam em rotinas organizacionais, entendidas como um conjunto de regularidades moldadas pela sua histria, pelo seu aprendizado prvio, pela maneira cotidiana com que lida com suas adversidades, pelo seu sistema de valores e pr-conceitos, que pautam o comportamento da firma no seu padro de produo, no seu ritmo de crescimento e no seu processo de busca por inovaes, enfim em sua fixao de estratgias (Nelson & Winter, 2002; Dosi et al, 1997). As diferenas entre as firmas so resultados de seus processos internos de aprendizado que geram vantagens especficas e diferenciais (Foss, 1998; Teece, 1996), ou seja geram capacitaes.5 Ver: Malerba & Orsenigo (1993), Dosi (1982), Nelson e Winter (1982), (Rosenberg 1976),
-
Empresas Lderes na Indstria Brasileira: Recursos, Estratgias e Inovao | 19
Essas capacitaes no so vantagens absolutas, mas temporrias, pois podem ser imitadas e aprimoradas por concorrentes. Esse processo de inovao-imitao pode explicar mudanas nas estruturas industriais, tais como os casos exemplificados por Klepper (1997) e mesmo os processos de adoo de tecnologias (Nelson, Peterhansl & Sampat, 2004). Algumas caractersticas do processo de inovao e imitao so:
(a) Incerteza tecnolgica e a necessidade de rotinas de busca e seleo de tecnologias e de aprendizado. Essas rotinas so especficas das firmas e esto muitas explicitadas em estruturas e centros de P&D dentro da firma e em contratos de cooperao universidade-empresa e empresa-empresa;
(b) O destaque para trajetrias tecnolgicas que condicionam as possibilidades tecno-econmicas das firmas, seja na inovao como na imitao. Nesse processo a natureza cumulativa do conhecimento tecnolgico sempre ressaltada;
(c) As irreversibilidades e temporalidade das decises. O processo de acumulao de conhecimentos temporal e no instantneo, o que implica em perodos de aprendizado. H uma limitada capacidade da firma de corrigir erros estratgicos, sejam eles decorrentes de avaliaes pessimistas ou otimistas. Tais irreversibilidades podem se refletir tambm em vantagens ou desvantagens significativas por perodos longos;
(d) A tecnologias deixa de ser um conjunto de conhecimentos adquirveis no mercado. A tecnologia passa a ser um conjunto variado de conhecimentos, ativos, organizaes, rotinas, equipes e estruturas fsicas. Sob esse ponto de vista, tecnologias no so partes livremente combinadas de insumos obtidos no mercado, mas um sistema organizacional especfico firma;
(e) A dimenso tcita dessas organizaes e capacitaes das firmas. Esse um ponto que merece ateno, pois atribui a cada firma a propriedade de uma estrutura ou ativo especfico no-comercializveis que so construdos a partir de decises internas e autnomas da firma;
(f) Apropriabilidade, que se refere capacidade de utilizar know-how e restringir imitao. A capacidade tecnolgica mantm-se, assim, um diferencial na gerao de novos produtos e processos. Nesse contexto, rendas exclusivas tendem a perdurar, mantendo a taxa de lucro mais elevada e sustentando o crescimento da firma.
-
20 | O Ncleo Tecnolgico da Indstria Brasileira
Em suma, a explorao de oportunidades geradas por novas tecnologias o ponto chave para explicar a trajetria de crescimento e a diversidade de firmas, na medida em que: ampliam as bases de conhecimento da firma e possibilita que os conhecimentos adquiridos ao longo de sua trajetria gerem retornos dinmicos; incrementam os conhecimentos tcitos da firma, na dimenso de suas rotinas; concede lucros firma e um poder monopolista, ao menos temporrio, que a motivao inicial para busca da inovao; e amplifica a acumulao interna de fundos, que a base para a realizao de investimentos.
3. Procedimentos Metodolgicos de Identificao das Firmas Lderes na Indstria Brasileira
Do ponto de vista metodolgico, este artigo tem duas caractersticas inditas que o diferenciam da literatura emprica recente. Primeiro so as informaes por firmas. Este trabalho utiliza informaes de empresas com mais de 30 pessoas ocupadas na indstria brasileira. So mais de 30 mil empresas industriais brasileiras que representam mais de 95% do valor adicionado da indstria. O banco de dados foi organizado pelo IPEA e contm informaes das empresas e dos trabalhadores a elas vinculados.6 As informaes so provenientes diversos bancos de dados do Governo Brasileiro Federal. A Pesquisa Sobre Inovao Tecnolgica na Indstria Brasileira (PINTEC) forneceu as informaes sobre a inovao tecnolgica nas firmas.
A segunda caracterstica que diferencia esta pesquisa a classificao das firmas na indstria, e de forma especial, como foram identificadas as empresas lderes. Liderana est associada participao da firma no mercado como inovadora e a sua acumulao de capital, ou seja, empresas lderes so aquelas que so as mais inovadoras e, por isto, tm maior participao no mercado relevante e acumulam mais.
Existem dois tipos de liderana que uma firma pode exercer no mercado. i) Lderes na diferenciao de produto; ii) Lderes em custo. Estes dois tipos de empresas lderes podem conviver dentro de um mesmo setor industrial, em um mesmo regime tecnolgico. A firma que diferencia seu produto amplia a sua participao de mercado demonstrando ao consumidor que seu produto diferente em diversos atributos quando comparado aos demais produtos concorrentes e por isso podem melhor satisfazer o consumidor. A firma induz o consumidor a atribuir ao seu produto uma menor elasticidade preo da demanda um produto diferenciado o que lhe permite cobrar um preo superior e obter um preo-6 Sobre a montagem do banco de dados ver De Negri (2003)
-
Empresas Lderes na Indstria Brasileira: Recursos, Estratgias e Inovao | 21
prmio. A firma que produz produtos homogneos consegue tambm liderar tecnologicamente um mercado caso ela mostre ao consumidor que o seu produto similar aos demais, porm mais barato. Para fazer isso a firma necessita ter um custo de produo menor do que os seus concorrentes.
Alm das firmas lderes no mercado existem firmas com grande capacidade de acompanhar e imitar as mudanas tecnolgicas no seu setor e por isso conseguem diferenciar produtos ou realizar mudanas para reduzir seus custos de produo. Existem, portanto, empresas que seguem rapidamente as empresas lderes e acompanham as mudanas na dinmica de mercado que so impulsionadas pela concorrncia setorial. Estas firmas so chamadas de empresas seguidoras.
Para classificar as empresas neste trabalho foram usados alguns indicadores. O argumento para este tipo de abordagem a de que os indicadores so, na mdia, correlacionados e, portanto, seria plausvel acreditar que dois ou no mximo trs indicadores poderiam representar o grupo de firmas que a qual ela pertence.7 Estes indicadores so chamados neste artigo de indicadores principais. Os indicadores principais para identificao das empresas foram:
Empresas Lderes: i) Inovadora de produto novo para o mercado e que exporta com preo prmio8 ou, ii) Inovadora de processo novo para o mercado, exportadora e de menor (quartil inferior) relao custo/faturamento no seu setor industrial (Grupo CNAE 3 dgitos);
Empresas Seguidoras: i) demais exportadoras no lderes ou, ii) empresas que tem produtividade (valor da transformao industrial por trabalhador) igual ou superior s exportadoras no lderes no seu setor industrial (Grupo CNAE 3 dgitos);
Empresas Emergentes: empresas no classificadas como lderes e seguidoras, logo no exportadoras, mas que investem continuamente em P&D ou inovam produto novo para o mercado mundial ou possuem laboratrios de P&D (departamentos de P&D e que tem mestres/doutores ocupados em P&D).
Empresas Frgeis: demais firmas.
importante ressaltar a classificao das firmas intra-setorial, pois os indicadores que esto sendo utilizados para classificar as empresas so calculados
7 A idia de usar alguns indicadores para classificar as empresas foi emprestada da literatura economtrica de sries de tempo, particularmente da literatura que trata de indicadores antecedentes e coincidentes, ver Hollauer e Issler (2006a e 2006b)
8 Ver em De Negri e Salerno (2005) a formalizao dos procedimentos para clculo do preo prmio.
-
22 | O Ncleo Tecnolgico da Indstria Brasileira
dentro do setor. No caso do preo prmio nas exportaes, o procedimento metodolgico por produto exportado, nvel mais desagregado do que o setor da firma; no caso da relao custo/faturamento e produtividade (valor da transformao industrial por trabalhador) os clculos so feitos em relao ao setor que a firma opera, considerando setor o grupo CNAE (3 dgitos).
No caso das comparaes internacionais, foram comparadas as lderes que inovam e diferenciam produtos em cada pas. Para identificar estas firmas no Brasil, foram usados como indicadores principais: i) inovadora de produto novo para o mercado e ii) exportara com preo prmio. Na Argentina, Mxico, Espanha, Frana e Alemanha foram consideradas os seguintes indicadores principais: i) inovadora de produto novo para o mercado, ii) investimento em P&D como proporo do faturamento da firma maior do que a mdia dos investimentos em P&D como proporo do faturamento do seu setor iii) exportadora. O setor foi considerado a 3 dgitos da standard international industrial classification (SIIC).
Aps classificar as empresas foram usados dois procedimentos estatsticos para identificar se as empresas formavam grupos diferenciados entre si. O primeiro procedimento foram testes no paramtricos e paramtricos de diferena de mdia das categorias de firmas classificadas. A tabela 1 apresenta estas estatsticas descritivas.9
9 Para maiores informaes sobre as tcnicas estatsticas paramtricas e no paramtricas de comparao de mdia consultar Schefe (1959), Cochran e Cox (1957), Cox (1958), Federer (1970), Montgomery(1991), Hinkelmann and Kempthorne (1994). Connover (1980), Lehman (1975), Daniel (1978).
-
Empresas Lderes na Indstria Brasileira: Recursos, Estratgias e Inovao | 23
TABELA 1
Nmero de firmas e caractersticas mdias (mdia aritmtica) das firmas e do pessoal ocupado por categoria de empresas. Ano: 2000
Lderes Seguidoras Emergentes Frgeis
Teste de diferena de mdias
Paramtrico eN-Paramtrico
Nmero de firmas
Total de firmas (N) 1.114 10.105 469 20.028 -
Firmas de capital nacional (N) 739 8.957 462 19.953 -
Firmas de capital estrangeiro (N) 375 1148 7 75 -
Caractersticas da firma
Pessoal Ocupado (N) 998 258 146 69254,8***
2352,13***
Faturamento (MI R$) 454,34 59,75 17,03 4,3557,9***
3845,54***
Valor da transformao indus-trial (MI R$)
211,59 2,18 5,18 1,5227,87***
3892,49***
Exportaes (MI U$) 46,23 5,09 0 067,32***
5406,11***
Importaes (MI U$) 30,11 2,54 0,44 0,0644,17***
3647,35***
Gastos P&D/Receita lquida de vendas (%)
0,56 0,08 0,29 0,00471,54***111,86***
Salrio mdio da mo de obra (R$/Ms)
2000,52 1210,44 919,87 679,92725,81***2323,85***
Escolaridade mdia da mo de obra (Anos)
10,13 8,68 8,78 7,85430,49***1114,20***
Tempo de emprego mdio da mo de obra(Meses)
64,41 52,12 47,67 41,51169,68***561,93***
Fonte: PIA/IBGE, PINTEC/IBGE, Secex/MIDC, Rais/MTE.
-
24 | O Ncleo Tecnolgico da Indstria Brasileira
O segundo procedimento foi uma anlise discriminante. As variveis utilizadas para agrupamentos das observaes em categorias similares foram: o logaritmo do pessoal ocupado da firma, a produtividade do trabalho, o logaritmo da renumerao mdia, a proporo de empregados com 3 grau, o coeficiente de exportao, o coeficiente de importao, os gastos da firma com pesquisa e desenvolvimento. Depois de criadas quatro categorias de firmas por anlise discriminante foram analisadas as caractersticas segundo as variveis apresentadas na tabela 1. Esta anlise permitiu a nomeao de cada um dos clusters em: lderes, seguidoras, emergentes e frgeis.
Optou-se ainda por realizar a anlise de discriminante separadamente em cada um dos setores (Grupo CNAE 3 dgitos). Em seguida as categorias geradas por anlise discriminante foram comparadas com a classificao por indicadores principais. Os resultados provenientes das comparaes setoriais encontram-se sumarizados na tabela 2.
TABELA 2
Comparao entre a classificao das firmas por anlise discriminantes e indicadores lderes.
Classificao por Anlise Discriminante
Lderes Seguidoras Emergentes Frgeis Total
Classificao por Indicadores
Lderes
Lderes 778 249 29 50 1.107
70,28% 22,49% 2,62% 4,52% 3,6%
Seguidoras 1159 6.541 379 1.886 9.965
11,63% 65,64% 3,80% 18,93% 32,2%
Emergentes 17 40 336 75 467
3,64% 8,57% 71,95% 16,06% 1,5%
Frgeis 101 1.681 500 17.119 19.400
0,52% 8,66% 2,58% 88,24% 62,7%
Total 2.055 8.511 1.243 19.131 30.939
6,64% 27,51% 4,02% 61,83%
Fonte: PIA/IBGE, PINTEC/IBGE, Secex/MIDC, Rais/MTE.
-
Empresas Lderes na Indstria Brasileira: Recursos, Estratgias e Inovao | 25
Observa-se um razovel grau de concordncia entre as categorias criadas por anlise descriminante e as categorias criadas atravs de indicadores principais. Entre as firmas pertencentes categoria lderes, 70,3% foram classificadas na mesma categoria gerada por anlise discriminante. O maior grau de concordncia ocorre entre as firmas frgeis, 88,24%.
Em sntese os dois procedimentos estatsticos mostram que a classificao por indicadores principais agrupam empresas que so estatisticamente parecidas nas suas caractersticas.
4. Firmas Lderes na Indstria Brasileira
Na indstria brasileira existiam aproximadamente 31 mil empresas com 30 ou mais pessoas ocupadas, no ano de 2005. Dentre estas empresas, este trabalho identificou 1.114 empresas lderes, 10.105 empresas seguidoras e 469 das empresas emergentes. A tabela 3 apresenta o nmero de firmas por setor.
Em alguns complexos intensivos em mo de obra e recursos naturais como o couro e calados, madeira e mveis, txteis e confeces e complexo agroindustrial chama a ateno para o grande nmero de empresas seguidoras e frgeis. Numericamente estas firmas representam 46% do total de firmas industriais com mais de 30 pessoas ocupadas no Brasil. Nestes setores, as tecnologias so relativamente maduras e o progresso tecnolgico de grande parte das firmas realizado por meio da compra de tecnologia incorporada, ou seja, tecnologia presentes nas mquinas e equipamentos. No entanto 27,3% do total de empresas lderes da indstria brasileira, 305 empresas, esto nestes setores. Apesar de uma participao especialmente relevante no nmero total de empresas lderes, elas perdem relevncia na participao no faturamento entre seus pares da indstria brasileira, pois representam 16,6% do faturamento das lderes, sendo que apenas o complexo agroindustrial participa com 13,48%.
Nos setores intensivos em escala como extrativa, metalurgia bsica, materiais eltricos, complexo automobilstico e bens de capital encontram-se 295 empresas lderes. Estas empresas representam 36% do faturamento das firmas lderes industriais brasileiras. Nestes setores, os rendimentos crescentes de escala so um fator relevante no processo de competio e as oportunidades tecnolgicas so maiores do que nos setores intensivos em recursos naturais e mo de obra.
Nos setores de fabricao de produtos qumicos, complexo da sade, limpeza e perfumaria e a produo industrial do setor de tecnologia da informao
-
26 | O Ncleo Tecnolgico da Indstria Brasileira
existem 252 empresas lderes. Estes setores so reconhecidamente mais intensivos em tecnologia e os esforos tecnolgicos das empresas um importante fator de competio. Diferente dos segmentos intensivos em mo de obra e recursos naturais e dos setores intensivos em escala, neste setor as empresas seguidoras e frgeis esto em menor nmero e representam apenas 6% do nmero total de firmas industriais com mais de 30 pessoas ocupadas no Brasil. Entretanto, a participao no faturamento das empresas lderes nestes segmentos em comparao com as demais lderes significativa. Juntamente com o complexo de energia, que inclui dentre outros a fabricao de derivados de petrleo e a produo de lcool, onde existem 20 empresas lderes, as empresas lderes nos setores mais intensivos em tecnologia respondem pelo faturamento de 36,3% do total das lderes industriais brasileiras.
TABELA 3
Nmero de empresas na indstria brasileira por setor e categoria de Firmas. Firmas com 30 ou mais pessoas ocupadas. Ano: 2005
Indstria Grupo CNAE
Firmas
Lder
es
Segu
idor
as
Frg
eis
Emer
gent
es
Extrao de carvo mineral, minerais metlicos e pedras
100 131 132 141 142 7 170 476 0
Fabricao de celulose, papel e produtos de papel
211 212 213 214 21 185 565 9
Edio, impresso e reproduo de gravaes
221 222 223 12 321 644 4
Fabricao de produtos qumicos 242 243 244 248 249 91 312 338 40
Fabricao de produtos de min-erais no-metlicos
261 262 263 264 269 56 423 1.397 6
Metalurgia bsica 271 272 273 274 275 34 243 304 15
Fabricao de produtos de metal 281 282 283 284 288 289 47 569 1.697 19
Fabricao de eletrodomsticos 298 10 65 21 0
Fabricao de mquinas, aparelhos e materiais eltricos
311 312 313 314 315 316 318 319 61 348 357 26
(continua)
-
Empresas Lderes na Indstria Brasileira: Recursos, Estratgias e Inovao | 27
Fabricao de outros equipamen-tos de transporte
359 352 4 41 76 7
Fabricao de produtos diversos 369 24 200 204 5
Reciclagem 371 372 0 39 48 0
Construo, montagem e reparao de aeronaves
353 3 16 9 3
Complexo agroindustrial151 152 153 154 155 157 158
159 160 241 246 293140 1.213 2.729 83
Indstria automobilstica 341 342 343 344 345 62 416 434 28
Bens de capital 291 294 296 297 299 132 851 757 60
Borracha e plstico 251 252 66 587 1.541 32
Complexo de energia 112 156 232 234 295 20 299 205 19
Complexo da sade 245 331 70 222 172 28
Complexo couro e calados 191 192 193 27 790 1.280 4
Fabricao de produtos de limpeza e artigos de perfumaria
247 21 87 195 29
Madeira e mveis 201 202 361 62 1.184 2.186 15
Construo e reparao de embarcaes
351 0 21 83 5
Indstria da tecnologia da informao
301 302 321 322 323 329 332 333 334 335 339
70 313 288 15
Txtil e confeco171 172 173 174 175 176 177
181 18276 1.190 4.021 15
Total da indstria 1.114 10.105 20.028 469
Fonte: PIA/IBGE, PINTEC/IBGE, Secex/MIDC, Rais/MTE.
A densidade da indstria brasileira uma das caractersticas que corroboram com a tese central deste artigo que argumenta que o Brasil tem um ncleo relevante de empresas, formado pelas lderes, uma parcela das seguidoras e as empresas emergentes com capacidade de gerar conhecimento e difundir capacitaes tecnolgicas por todo o setor industrial. A busca de mais argumentos que contribuam com a hiptese aqui defendida passa por caracterizar como as empresas lderes buscam novos recursos para construir e ampliar suas competncias nas reas de domnio tecnolgico da empresa.
-
28 | O Ncleo Tecnolgico da Indstria Brasileira
O processo de decisrio da empresa um elemento central na anlise das estratgias das firmas. As firmas tomam decises encadeadas e de forma recorrente, ou seja, constituem uma estratgia de longo prazo. A empresa decide investir levando em conta o que acontece no seu mercado, mas de forma especialmente relevante ela impulsionada pela concorrncia e pelo crescimento da demanda por seu produto. Quando a firma decide investir ela faz opes por fazer mais do mesmo produto e/ou investir na busca de novos recursos para competio. Se a firma decidiu por buscar novos recursos para competio, os recursos originrios desta estratgia podero se materializar em inovao. Se a firma obtiver xito na sua estratgia de inovao os novos recursos e competncias acumuladas pela empresa se transformam em novos produtos ou processos e tero valor econmico para a empresa. Por sua vez, a inovao afeta um dos principais indicadores de performance da empresa: a sua produtividade. Este seria um ciclo virtuoso de acumulao de capital centrado na capacitao tecnolgica prpria.
A deciso de investir precede a deciso de quanto investir em cada finalidade, ampliao da capacidade e/ou inovao. A firma pode investir mais ou menos de acordo com a disponibilidade interna de recursos financeiros e a sua capacidade de obter financiamento fora da firma. Fora da firma, a empresa depende da oferta de crdito para as atividades que ela pretende desenvolver. Essas linhas de crdito podem estar ou adaptadas a sua estratgia, mas dependem fundamentalmente da diversidade de instrumentos financeiros, da escala dos recursos ofertados e do perfil do crdito (e.g. taxa de juros, prazos, amortizaes e garantias bancrias).
No caso brasileiro, h uma restrio importante no processo decisrio da empresa. A empresa tem restrio de crdito para financiar seu investimento de longo prazo e este fator particularmente relevante para o financiamento de atividades que busquem novos conhecimentos, como P&D prprio. Dado que a deciso de buscar novos recursos para realizar inovao tecnolgica especialmente restringida pela disponibilidade de crdito, a firma pode mudar sua estratgia de investimento levando em conta esta restrio, o que significa sub-investir na criao de conhecimento novo.
Desta forma, a disponibilidade de crdito pode alterar as estratgias das empresas, particularmente as de inovao, e conseqentemente a forma como a empresa busca construir novas competncias. Nesse caso, os regimes tecnolgicos setoriais acabaro por refletir as estratgias restringidas das empresas e diferentes tipos de cooperao sero mais ou menos impulsionados. Em alguns casos, para
-
Empresas Lderes na Indstria Brasileira: Recursos, Estratgias e Inovao | 29
realizar inovao desejada a firma pode cooperar de acordo com outras firmas, universidades, clientes, fornecedores de mquinas e equipamentos e demais agentes das redes de conhecimento relevantes para a inovao tecnolgica da firma. Contudo, mesmo essas relaes estaro afetadas pelas restries de crdito.
Finalmente, definida a estratgia de inovao e caso ela for exitosa, a firma decidir como se apropriar dos ganhos da inovao. Para isso, a firma escolher diferentes estratgias: contratos, marcas, segredos ou patentes. Para trajetrias tecnolgicas mais intensivas em conhecimento a marca no mercado no a nica estratgia da empresa, ela precisar guardar o seu segredo industrial ou ento registrar como uso exclusivo seu por meio de patentes.
Para dar consistncia a esta lgica de raciocnio esta seo do trabalho dividido em trs outras sub-sees. A seo 4.1 concentra a anlise sobre a performance das empresas. A seo 4.2 discute as estratgias de busca de recursos para competio e o financiamento inovao. A seo 4.3 mostra indicadores relacionados com os regimes setoriais de inovao e as estratgias de apropriabilidade das firmas. A seo 4.4 compara as firmas lderes que inovam e diferenciam produtos no Brasil e pases selecionados.
4.1. Performance das Firmas Industriais Brasileiras
Na tabela 4 so apresentados os dados referentes escala de produo das firmas industriais brasileiras classificadas de acordo com o critrio de liderana. As empresas lderes so responsveis por 43,3% do faturamento da indstria brasileira e empregam 21% da mo de obra na indstria brasileira. A escala de produo destas firmas de R$ 501 milhes por ano e na mdia ocupam aproximadamente 1 mil trabalhadores por firma. A escala de produo das firmas seguidoras na indstria significativamente menor do que das lderes, R$ 63,1 milhes. O grande nmero de empresas neste segmento de firmas, 10.105, garante a esta categoria de empresas uma participao de 49,4% no faturamento industrial, superior participao das empresas lderes.
-
30 | O Ncleo Tecnolgico da Indstria Brasileira
TABELA 4
Faturamento e pessoal ocupado na Indstria Brasileira por Categoria de Firmas. Firmas com 30 ou mais pessoas ocupadas. Ano:2005.
Tipo de empresa
Nmero de empresas
(N)
Faturamento anual(mdia MI R$)
Pessoal ocupado(mdia - N)
Participao no
faturamento(%)
Participao no emprego
(%)
Lderes 1.114 501,0 978 43,3 21,0
Seguidoras 10.105 63,1 253 49,4 49,4
Frgeis 20.028 4,3 73 6,6 28,2
Emergentes 469 17,9 149 0,6 1,4
Total 31.716 40,7 163 100 100
Fonte: PIA/IBGE, PINTEC/IBGE, Secex/MIDC, Rais/MTE.
O diferencial de tamanho da firma um fator de competitividade importante das firmas por dois motivos: possibilita obter retornos crescente de escala e aumenta as chances da empresa para inovar.
No caso dos retornos crescentes de escala, sempre que a produo da firma aumenta mais que proporcionalmente ao aumento dos fatores de produo por elas utilizados, h rendimentos crescentes de escala internos firma. Na presena de tais rendimentos, o aumento do tamanho da firma aumenta a produtividade total dos fatores de produo. Existem diversas fontes de rendimentos crescentes de escala, mas uma fonte tpica destes retornos crescentes, internos firma, o custo fixo da atividade produtiva ou os custos associados abertura mercados ou a introduo de novos mtodos de produo. Estas atividades envolvem custos de informao relativamente altos. Particularmente no caso das empresas lderes que buscam diferenciar seus produtos por meio da inovao tecnolgica, os custos associados mo de obra de alta qualificao um fator especialmente relevante como fonte de rendimentos crescentes de escala.
Deve ser levado em contra que as mudanas tecnolgicas contemporneas tornam a produo mais flexvel e capaz de gerar mltiplos produtos. H oportunidades que so aproveitadas por firmas que dominam tecnologia multi-produto com mais de uma escala tima de produo, possibilitam tambm auferirem economias internas de escopo.
-
Empresas Lderes na Indstria Brasileira: Recursos, Estratgias e Inovao | 31
Os rendimentos crescentes podem estar externos s firmas. Economias de escala externas firma, mas internas indstria, originam-se do fato de que nas grandes indstrias h maior possibilidade de especializao intra-industrial e, portanto, o custo mdio influenciado pelo tamanho da indstria. Estas economias seriam condicionadas pela extenso do mercado.
As fontes de retornos de escala externos firma tambm podem surgir de economias de aglomerao, indivisibilidades dos bens pblicos usados como insumos ou apoio de intra-estrutura s atividades (como, por exemplo, servios de telecomunicaes, rodovias). Algumas fontes das economias de escalas externas firma afetam mais de uma indstria e, no caso brasileiro, as indstrias mais intensivas em mo-de-obra e recursos naturais podem aproveitar melhor sinergias externas firma.
O tamanho da empresa tambm afeta as chances da empresa alcanar a inovao tecnolgica e conseqentemente isso afeta seu desempenho mensurado em termos de produtividade. A firma que realiza alguma inovao tecnolgica, por definio, lanou um novo produto ou realizou um novo processo. Caso este produto ou processo j existia no mercado, a inovao tecnolgica nova para a empresa e no para o mercado. Se o produto ou processo no existia no mercado, a inovao tecnologia nova para o mercado. Por ser pioneira, a inovao tecnolgica nova para o mercado permite a empresa obter vantagens maiores do que as inovaes que no so novas para o mercado, pois este seria uma imitao ou uma difuso tecnolgica. Liderana e lanamento de novos produtos ou processos so fortemente correlacionados e por isso que a maior parte da inovao de produto novo ou processo novo para o mercado feito por firmas lderes.
Na tabela 5 so apresentados os indicadores de inovao tecnolgica por categoria de empresas. Os dados indicam que apenas 5% das firmas industriais brasileiras lanam produtos e 3% lanam processos novos no mercado nacional. Dentre as empresas lderes, 88% lanaram produtos novos no mercado nacional e 39% lanaram processos novos no mercado nacional. No quesito inovao de produto e processo novo no mercado nacional, as firmas emergentes tambm se destacam, pois 31% delas lanaram produtos novos no mercado e 9% lanaram processos novos.
Vale destacar que a intensidade de conhecimento da firma envolvido em lanar simultaneamente produto e processo novo no mercado nacional
-
32 | O Ncleo Tecnolgico da Indstria Brasileira
relativamente maior na mdia do que lanar apenas processo ou produto. O lanamento de produtos novos no mercado mundial tambm exige da firma maior intensidade de conhecimento especfico. Poucas empresas brasileiras conseguem lanar produtos novos no mercado mundial. No entanto, das 1.114 empresas lderes da indstria brasileira 15% lanam produtos novos fora do mercado brasileiro e das empresas emergentes 11% tambm lanaram produtos novos no mercado mundial.
TABELA 5
Inovao na Indstria Brasileira por Categoria de Firmas. Firmas com 30 ou mais pessoas ocupadas. Ano: 2005.
Tipo de empresa
InovadorasInovadoras de produto novo
para o mercado
Inovadora de processo novo para o mercado
Inovadora de produto e processo novo para
o mercado
Inovadora de produto novo para o mercado mundial
Lderes1.114
(100%)983
(88%)438
(39%)311
(28%)171
(15%)
Seguidoras5.494(54%)
211(2%)
247(2%)
39(0,4%)
30(0,3%)
Frgeis6.384(32%)
227(1%)
106(1%)
21(0,1%)
0(0%)
Emergentes455
(97%)144
(31%)44
(9%)23
(5%)52
(11%)
Total13.446(42%)
1.565(5%)
834(3%)
394(1%)
253(1%)
Fonte: PIA/IBGE, PINTEC/IBGE, Secex/MIDC, Rais/MTE. Percentuais sobre o total de empresas em cada categoria de empresa (ver tabela 4 coluna 1) entre parnteses
O tamanho da empresa importante porque ela afeta os rendimentos crescentes de escala da firma e a possibilidade da firma inovar. Estas duas variveis afetam a produtividade da empresa. A estimativa de produtividade total dos fatores das firmas na economia brasileira limitada pela falta de dados sobre o estoque de capital da firma. No entanto, uma boa anlise pode ser realizada utilizando-se como informao a produtividade do fator trabalho. A tabela 6 apresenta estes indicadores. As firmas lderes so 2.6 vezes mais produtivas do que as firmas seguidoras e tem uma participao no valor adicionado superior. As empresas lderes da indstria brasileira respondem por 49,2% do valor da transformao industrial ao passo que as seguidoras respondem por 44,1%. Portanto, apesar das
-
Empresas Lderes na Indstria Brasileira: Recursos, Estratgias e Inovao | 33
lderes terem uma participao no faturamento ligeiramente menor do que as seguidoras, sua participao no valor adicionado maior.
Os indicadores de lucro total e de salrio mdio pago aos empregados das lderes quando comparado as seguidoras tambm um bom indicador de a maior eficincia10 das empresas lderes.
TABELA 6Produtividade, Lucro e Salrio na Indstria Brasileira por Categoria de Firmas. Firmas com 30 ou mais pessoas ocupadas. Ano:2005.
Tipo de empresa
Produtividade (VTI/PO Mil
R$/ano)
VTI total
(BI R$)
Lucro total
(BI R$)
Salrio mdio
(R$/ano)
Escolaridademdia(anos)
Tempo de emprego
mdo (meses)
Lderes 214,0 233,4 83,2 32.323 10,13 64,4
Seguidoras 81,8 209,4 50,1 17.929 8,68 52,1
Frgeis 19,5 28,6 6,0 8.433 7,84 41,5
Emergentes 33,9 2,4 0,5 12.140 8,77 47,6
Total 91,4 473,8 139,8
Fonte: PIA/IBGE, PINTEC/IBGE, Secex/MIDC, Rais/MTE.
O salrio mdio no ano pago aos empregados nas empresas lderes 1,8 vezes maior do que as firmas seguidoras. O salrio uma varivel relevante na anlise do desempenho das firmas porque ele indica que trabalhadores mais produtivos esto trabalhando nestas empresas. Os mecanismos de salrio eficincia11, por exemplo, so tambm comumente utilizados por estas firmas para aumentar a produtividade da mo-de-obra. A firma seleciona os trabalhadores mais produtivos por meio de salrios mais altos e com isso acaba por empregar os trabalhadores de maior escolaridade, reduz a rotatividade da mo de obra e aumenta o tempo de permanncia do pessoal ocupado na firma. Estas variveis so especialmente relevantes na anlise da estratgia competitiva das firmas.
10 A eficincia de uma firma diz respeito capacidade da firma em obter o mximo de produto a partir de um dado conjunto de insumos, ou seja, a eficincia mede a habilidade da firma em produzir tanto produto quanto permitem os insumos utilizados, ou usar o mnimo de insumos para produzir determinada quantidade de produto. Esta eficincia, por sua vez, pode tambm ser separada em dois componentes: eficincia de escala, que a habilidade da firma operar na escala mais produtiva possvel, e eficincia tcnica propriamente dita. A eficincia de escala mede a diferena de produtividade da firma em relao escala mais produtiva da sua indstria, ou seja, em relao ao ponto onde a elasticidade de escala igual unidade. Sobre isso ver Debreu (1951) e Farrell (1957).
11 Ver Weiss (1990)
-
34 | O Ncleo Tecnolgico da Indstria Brasileira
O tempo de permanncia do trabalhador na firma um indicador de aprendizado tecnolgico. A escolaridade mdia dos trabalhadores da firma uma proxy para o nvel tecnolgico da firma, pois razovel supor que firmas com maior contedo tecnolgico demandem mo-de-obra mais qualificada. A tabela 6 mostra que a escolaridade da mo-de-obra e o tempo de permanncia do trabalhador na firma mais alto das empresas lderes do que nas demais. Firmas que ocupam mo-de-obra mais qualificada tm mais condies de diferenciar e garantir a qualidade do produto produzido. Ao mesmo tempo em que a melhor qualificao da mo-de-obra amplia as potencialidades disponveis nas firmas, o posicionamento competitivo da empresa positivamente influenciado pela possibilidade da firma operar com contedo tecnolgico maior.
As firmas lderes tendem a exigir trabalhadores mais escolarizados e melhor treinados. O tempo de permanncia do trabalhador na firma um indicativo de que deve haver custos irrecuperveis, que a firma incorre por treinar a sua mo-de-obra ou ento algum processo de aprendizado tecnolgico no interior da firma, que torna a rotatividade relativamente mais cara. Sendo assim, razovel acreditar que o processo de aprendizado se reflita no tempo de permanncia do trabalhador na firma, pois estas tm dispndios de treinamento que seriam perdidos com uma rotatividade alta. Emprego mais estvel favorece o aprendizado tecnolgico e retroalimenta as potencialidades da firma ao mesmo tempo em que reduz os dispndios de treinamento, atrao e demisso de pessoal. 12
Os indicadores de performance de comrcio exterior das empresas na indstria brasileira esto presentes na tabela 17. O coeficiente de exportao das firmas lderes 22,4%, superior aos das firmas seguidoras que de 14,6%. Tambm o coeficiente de importao das lderes tambm maior do que o das seguidoras, 19,6% e 9,8% respectivamente. Alm da escala de exportaes e importaes das firmas lderes serem maior, o diferencial no coeficiente de exportao e importao indica padres de insero externa diferenciado entre estes dois tipos de firma.
A literatura sobre os determinantes do comrcio internacional afirma que as exportaes podem estar relacionadas s tradicionais vantagens comparativas que so determinadas pela dotao relativa de fatores de produo como mo-de-obra e recursos naturais. Esse diferenciais so geralmente associados ao comrcio inter-indstria13. As exportaes podem tambm estar baseadas em economias 12 No caso do Brasil existem evidncias de que firmas que competem por inovao e diferenciao de produto
e que exportam tendem a remunerar melhor a mo-de-obra ocupada, pagando prmios salariais13 Ver Heckscher (1919) e Ohlin (1933).
-
Empresas Lderes na Indstria Brasileira: Recursos, Estratgias e Inovao | 35
de escala, inovao tecnolgica e diferenciao de produto e, neste caso, estar essencialmente associadas ao comrcio intra-indstria14.
TABELA 17Exportao e Importao na Indstria Brasileira por Categoria de Firmas. Firmas com 30 ou mais pessoas ocupadas. Ano: 2005.
Tipo de empresa
Nmero de exportadoras
(N)
Exportao(mdia MI U$/Ano)
Coeficiente de Exportao
(%)
Participao exportao
(%)
Nmero de importadoras
(N)
Importao(mdia MI U$/Ano)
Coeficiente de Importao
(%)
Participao importaes
(%)
Lderes 1.11446,2
(22,4%)50 979
34,3(19,6%)
55
Seguidoras 8.2566,2
(14,6%)50 5.186
4,9(9,8%)
42
Frgeis 0 0 0 9431,4
(3,7%)2
Emergentes 0 0 0 902,3
(6,0%)0
Total 9.371 100 7.198 100
Fonte: PIA/IBGE, PINTEC/IBGE, Secex/MIDC, Rais/MTE.
O Brasil um pas em desenvolvimento com a abundncia de recursos naturais e mo-de-obra que o torna as firmas exportadoras relativamente competitivas nas exportaes de bens que demandam maior dotao relativa destes fatores. O tamanho do mercado domstico brasileiro e o esforo inovador das firmas no Brasil tambm tornam o pas competitivo em determinados segmentos onde inovao tecnolgica e retornos crescentes de escala so determinantes da competitividade das firmas no mercado internacional.
As firmas lderes demandam mais importaes de componentes ou produtos complementares s linhas de produo domstica. Isto ocorre porque o Brasil parcialmente ou no competitivo em segmentos de maior intensidade tecnolgica. Desta maneira, o padro de comrcio das firmas lderes que inovam e diferenciam produtos um padro intra-indstria, parte intra-firma, caracterizado em grande medida pela complementaridade tecnolgica com o exterior. 14 Ver Helpman (1981), Helpman e Krugman (1985). Krugman (1980), Krugman (1986), Grossman e Helpman
(1994).
-
36 | O Ncleo Tecnolgico da Indstria Brasileira
4.2. A Busca por Recursos para Competio
Na seo anterior foi observado que inovao, liderana e performance so fortemente associados. Nesta seo, o objetivo analisar o esforo das firmas para criar um regime de acumulao de conhecimento, no sentido de uma busca sistemtica de inovao, intrnseco rotina da firma.
Inicialmente relevante caracterizar que a firma pode tornar-se inovadora de diversas formas. Particularmente no caso da economia brasileira os investimentos que as firmas realizam em mquinas e equipamentos esto fortemente associados ao lanamento de produtos ou processo novos para a firma. Neste caso, o conhecimento necessrio para realizar inovao tecnolgica est incorporado s mquinas e equipamentos e est em grande medida disponvel para qualquer empresa que tenha condies de investir,o que sinaliza uma baixa apropriabilidade tecnolgica.
Nem todo investimento em mquinas e equipamentos est associado inovao tecnolgica. Uma parcela significativa do investimento em bens de capital est associada expanso da capacidade produtiva da firma, ou seja, produzir mais do mesmo produto. A tabela 8 mostra que em 2005, o investimento total das empresas lderes da indstria brasileira foi R$ 37,7 bilhes. Ligeiramente superior ao investimento total das empresas seguidoras, que foi de R$ 33,62 bilhes. Deste total, o investimento em mquinas e equipamentos das empresas lderes e seguidoras foi de R$ 14,09 bilhes e R$ 16,93 bilhes respectivamente. A parcela do investimento em mquinas e equipamentos que foi dirigida para a inovao tecnolgica no total do investimento neste item foi de 35,9% no caso das lderes e 48,1% no caso das seguidoras.
Entre lderes e seguidoras, h uma diferena estrutural importante nos investimentos que as firmas fazem para buscar recursos para a inovao. Do total investido para inovao nas firmas lderes, 33,9% so investidos em P&D interno e externo e 7,3% so investidos na compra de outros conhecimentos, totalizando 41,2%. Este percentual especialmente inferior no caso das empresas seguidoras, 19,6%. No caso das empresas seguidoras, o principal gasto com atividades para inovao na compra de mquinas e equipamentos, 60,8%, enquanto que nas lderes esse valor de apenas 32,7%. Estas diferenas na alocao de recursos entre lderes e seguidoras explica muito a diferena entre as performances das empresas, particularmente no que diz respeito aos diferenciais de produtividade destas duas categorias de empresas.
-
Empresas Lderes na Indstria Brasileira: Recursos, Estratgias e Inovao | 37
TABELA 8
Investimento na Indstria Brasileira por Categoria de Firmas. Firmas com 30 ou mais pessoas ocupadas. Ano: 2005.
Tipo de empresa
Investimento Investimento para inovao
Investimento total
(BI R$)
Mquinas e equipamentos
(BI R$)
P&D interno e externo(BI R$)*
Outros conhecimentos
(BI R$)*
Mquinas e equipamentos
(BI R$)*
Treinamento(BI R$)*
Lanamento da inovao
(BI R$)*
Projeto da inovao(BI R$)*
Lderes 37,71 14,095,25
(33,9%)1,13
(7,3%)5,07
(32,7%)0,35
(2,3%)1,38
(8,9%)2,31
(14,9%)
Seguidoras 33,62 16,932,28
(17,0%)0,36
(2,6%)8,16
(60,8%)0,18
(1,4%)0,68
(5,1%)1,76
(13,1%)
Frgeis 2,76 1,620,08
(4,2%)0,05
(2,5%)1,49
(78,0%)0,06
(3,2%)0,05
(2,5%)0,18
(9,6%)
Emergentes 0,35 0,210,21
(27,3%)0,03
(4,4%)0,35
(45,4%)0,01
(1,6%)0,09
(12,1%)0,07
(9,1%)
Total 74,44 32,867,82
(24,8%)1,57
(5,0%)15,07
(47,7%)0,61
(1,9%)2,20
(7,0%)4,32
(13,7%)
Fonte: PIA/IBGE, PINTEC/IBGE, Secex/MIDC, Rais/MTE. *Percentual do total de investimentos em inovao por categoria de empresa entre parnteses (soma = 100% na linha)
Investir em conhecimento novo para a inovao tecnolgica, particularmente em P&D faz diferena na performance das empresas, particularmente na capacidade das firmas obterem vantagens de inovaes que so pioneiras no mercado. Em 2005 as firmas brasileiras investiram R$ 7,8 bilhes em P&D sendo que as lderes foram responsveis por 67% destes investimentos. Os investimentos em P&D como proporo do faturamento das firmas industriais com 30 ou mais pessoas ocupadas no Brasil de 0,61%. As lderes da indstria brasileira investem 0,94% enquanto que as seguidoras investem 0,36% do seu faturamento em P&D.
O investimento em P&D, no entanto, no uma varivel suficiente para caracterizar a busca sistemtica de inovao na rotina da firma. A tabela 9 mostra que mais da metade das firmas lderes realiza investimentos contnuos em P&D e cerca de 1/3 delas possuem laboratrios onde esto empregados 2.169 mestres e doutores com dedicao exclusiva nessa atividade.
No caso das seguidoras, pouco mais de 10% realizam gastos contnuos em P&D. No entanto, importante ressaltar que h uma parcela de seguidoras
-
38 | O Ncleo Tecnolgico da Indstria Brasileira
que de acordo com os indicadores de esforos sistemticos de inovao, como gastos com P&D contnuo, presena de laboratrios e de mestre e doutores com dedicao exclusiva podem se destacar entre as seguidoras com empresas de maior capacidade competitiva.
TABELA 9
Estrutura de P&D na Indstria Brasileira por Categoria de Firmas. Firmas com 30 ou mais pessoas ocupadas. Ano: 2005.
Tipo de empresa
Empresas com P&D contnuo
Empresas com Laboratrio de
P&D*
Pessoal com dedicao exclusiva em P&D
Doutores Mestres Outros
Lderes 652 305 495 1.674 17.450
Seguidoras 1.126 340 333 815 12.972
Frgeis 0 0 0 0 699
Emergentes 355 98 56 176 1.903
Total 2.133 743 884 2.666 33.024
Fonte: PIA/IBGE, PINTEC/IBGE, Secex/MIDC, Rais/MTE. *Empresas com departamento de P&D e que possuem mestres ou dou-tores com dedicao exclusiva em P&D
Dentro da estratgia de crescimento da firma o investimento para expandir sua capacidade instalada e para inovar ocupa um lugar central. Ningum discute a existncia de um quadro de restrio de crdito para projetos de longo prazo na economia brasileira, que limita de forma especialmente relevante a capacidade de investir das empresas nacionais. A despeito do seu crescimento recente, o mercado de capitais brasileiro ainda muito pouco desenvolvido em comparao com pases mais avanados. H dcadas que praticamente a nica fonte de capital de longo prazo para investimentos no pas o Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social (BNDES). No caso do financiamento P&D nas empresas esta restrio ainda maior e a FINEP tem alcanado muito poucas empresas. Neste sentido, o crescimento da firma e o esforo que ela faz para criar capacitaes para restringido pela disponibilidade de crdito de longo prazo.
A tabela 10 mostra o acesso s linhas de crdito de longo prazo das firmas industriais brasileiras para o investimento e para a P&D. No perodo compreendido entre 1996 e 2006, mais da metade das empresas lderes e seguidoras da indstria
-
Empresas Lderes na Indstria Brasileira: Recursos, Estratgias e Inovao | 39
brasileira acessaram linhas de crdito no BNDES para realizar seus investimentos. As firmas lderes captaram 39% da oferta de crdito do BNDES enquanto que as empresas seguidoras captaram 56,5%. A participao das linhas de financiamento pblico P&D nas empresas , entretanto, substancialmente menor. Mais de 90% dos recursos que so investidos pelas empresas da indstria brasileira em P&D so provenientes de recursos prprios da empresa.
TABELA 10
Financiamento na Indstria Brasileira por Categoria de Firmas. Firmas com 30 ou mais pessoas ocupadas. Ano: 2005.
Financiamento ao investimentoAnos: 1996 a 2006
Financiamento P&DAno: 2005*
Tipo de empresa
BNDES(No)
Participao no total financiado
(% de R$)
Prprio BI R$
PrivadoBI R$
Pblico**BI R$
Lderes 696 39,04,87
(92,6%)0,06
(1,2%)0,32
(6,2%)
Seguidoras 5.477 56,52,13
(93,2%)0,02
(0,7%)0,14
(6,1%)
Frgeis 5.754 4,10,07
(85,9%)0,001(1,4%)
0,01(12,6%)
Emergentes 185 0,40,18
(88,1%)0,004(1,8%)
0,02(10,1%)
Total da indstria 12.111 100 7,24 0,09 0,49
Fonte: PIA/IBGE, PINTEC/IBGE, Secex/MIDC, Rais/MTE. *Percentual do total de financiamento P&D por categoria de empresa entre parnteses (soma = 100% na linha) ** Financiamento de agncias pblicas so realizados principalmente pela FINEP e BNDES.
-
40 | O Ncleo Tecnolgico da Indstria Brasileira
4.3. A Cooperao em P&D e Apropriao Tecnolgica
O aprendizado da firma para realizar inovao tecnolgica depende no somente de fatores internos firma. O nvel de articulao da firma com o seu regime setorial de inovao pode ampliar sobremaneira a velocidade com que a empresa alcana a inovao tecnolgica. A interao entre empresa e regime tecnolgico setorial tambm fortemente impulsionada pela capacidade que a firma tem de absorver conhecimento externo. A combinao entre os recursos internos que a firma acumula e a busca de novos recursos em cooperao com mercado so fatores determinantes da competitividade das firmas.
A tabela 11 apresenta o nmero de empresas que cooperaram em P&D por categoria de empresa. Com todos os parceiros de cooperao realizados entre as firmas industriais brasileiras, as lderes e emergentes so os dois tipos de empresa que mais interagem de forma cooperativa para realizar P&D. Independente da categoria de empresa, a maior parte da cooperao em P&D realizada com clientes e fornecedores. A cooperao com as universidades mais alta entre as lderes e emergentes, no entanto, apenas 8,8% das empresas lderes e 4,4% das emergentes cooperam em P&D com universidades.
De forma geral, a cooperao em P&D dentro dos regimes tecnolgicos no caso brasileiro ainda muito pouco significativa e existe uma tendncia generalizada, independente do tipo de empresa, de utilizar seus prprios recursos para inovar e no cooperar nas atividades de P&D. Cassiolato et. al. (2005) ressaltaram que estes indicadores so inferiores aos padres internacionais.
No existe uma explicao nica para a baixa cooperao das empresas brasileiras em P&D e o sentido de causalidade tambm no parece ser bem definido. Os indicadores mostram, entretanto, que empresas lderes cooperaram mais do que as demais empresas industriais. No caso especfico da cooperao em P&D, este pode ser um indicador de que as inovaes que exigem maior conhecimento demandam tambm mais interaes cooperativas e trocas dentro do regime tecnolgico setorial da empresa.
-
Empresas Lderes na Indstria Brasileira: Recursos, Estratgias e Inovao | 41
TABELA 11Nmero de empresas que cooperaram em P&D na Indstria Brasileira por tipo de cooperao e categoria de firmas. Firmas com 30 ou mais pessoas ocupadas. Ano: 2005.
Tipo de empresa
Clientes Fornecedores ConcorrentesOutra
empresa do grupo
Empresa de consultoria
UniversidadeCentros de capacitao
Lderes203
(18,3%)196
(17,6%)22
(1,9%)129
(11,6%)45
(4,0%)98
(8,8%)30
(2,7%)
Seguidoras290
(5,3%)317
(5,8%)33
(0,6%)123
(2,2%)94
(1,7%)149
(2,7%)62
(1,1%)
Frgeis120
(1,9%)121
(1,9%)6
(0,1%)13
(0,2%)21
(0,3%)20
(0,3%)40
(0,6%)
Emergentes34
(7,5%)49
(10,8%)13
(2,8%)4
(0,9%)13
(2,9%)20
(4,4%)3
(0,6%)
Total 647
(4,8%)682
(5,1%)73
(0,5%)268
(2,0%)173
(1,3%)287
(2,1%)134
(1,0%)
Fonte: PIA/IBGE, PINTEC/IBGE, Secex/MIDC, Rais/MTE. Percentuais sobre o total de empresas inovadoras em cada categoria de empresa (ver tabela 5 coluna 1) entre parnteses.
Do ponto de vista da firma individual, a interao cooperativa em uma das atividades mais nobres da inovao, a de P&D, est limitada, por um lado, pela necessidade e pela capacidade que a empresa tem de absorver conhecimento externo e acumular competncias para competio. Se a firma fez opes tecnolgicas mais conservadoras do ponto de vista da necessidade de recursos novos para inovao, esforos menores e processos mais simples de gerao e conhecimento novo podem ser suficientes para o xito inovador da empresas. Por outro, a firma pode tambm no encontrar no ambiente externo empresa uma produo de conhecimento adaptado as suas necessidades. Estas limitaes podem ser relativamente relevantes de tal forma que as empresas encontram dificuldades de quebrar um circulo vicioso de baixa necessidade de conhecimento novo para inovao e poucas oportunidades de obter novos recursos para competio no ambiente externo a firma.
Se as empresas fizerem opes tecnolgicas mais ousadas investindo mais em atividades de inovao tecnolgica de maior risco, como no caso da P&D, a necessidade de interao cooperativa com o ambiente externo pode ser impulsionada. Isso pode ocorrer mesmo no caso de inovaes que envolvam
-
42 | O Ncleo Tecnolgico da Indstria Brasileira
segredo industrial. A firma pode separar o processo de P&D em vrias etapas e cooperar em determinadas atividades no lado externo da firma sem perder o domnio exclusivo de sua tecnologia. No entanto, as opes tecnolgicas da empresa tambm podem ser impulsionadas pela disponibilidade de oferta de conhecimento no sistema de C&T ou ento de incentivos governamentais de fomento P&D das empresas, integrao universidade empresa e a formao de arranjos cooperativos para a inovao tecnolgica.
A tabela 12 apresenta o nmero de firmas que solicitaram depsitos em patentes, marcas ou tem como estratgia de propriedade da inovao o segredo industrial. Os maiores percentuais de firmas que estabelecem alguma estratgia de propriedade dos ganhos da inovao so as firmas lderes: 22,2% das firmas lderes registraram patentes no exterior e 29,3% registraram patentes de inveno. J no caso das seguidoras com atividades inovadoras (5.494 firmas), apenas 5% registrou patentes e 9% registrou patentes de inveno, mas se considerarmos o total de firmas seguidoras (10.105 firmas), esses valores so ainda menores: 2,5% e 4,5%, respectivamente.
H, portanto, uma significativa diferena no uso e na importncia desses instrumentos de apropriao para esse dois grupos de firmas. Uma explicao simples para essa estrutura pode estar no tipo de inovao gerada pelas firmas seguidoras. Essas inovaes podem ser muito pouco adequadas a um processo de patenteamento ou proteo institucional, que requer tempo, documentao extensiva e dispendioso para alguns tamanhos de firmas. Seja como for, essas diferenas expressam a baixa apropriabilidade tecnolgica das firmas seguidoras.
Essas diferentes intensidades no uso de proteo regulada imitao se articula a um fato importante: os maiores valores absolutos em quase todos os indicadores de proteo tecnolgica esto relacionados as atividades das empresas seguidoras. Por exemplo, temos 277 firmas seguidoras com patentes, enquanto que as lderes somam 247. Existem 500 firmas seguidoras que usaram patentes de inveno, enquanto que as lderes so 326. No caso das marcas, as seguidoras so 1.736 e as lderes so apenas 584.
Essas diferenas na intensidade e na escala na proteo tecnolgica colocam uma questo importante para a formulao de polticas pblicas. H um conjunto disperso de firmas seguidoras que usam sistemas de proteo de forma pouco sistemtica, enquanto que as lderes o fazem de forma recorrente e, por certo, de forma mais eficiente. Detectar quais so as firmas seguidoras que ainda no
-
Empresas Lderes na Indstria Brasileira: Recursos, Estratgias e Inovao | 43
utilizam esses mecanismos de proteo seria um modo de aumentar a possibilidade de obter uma maior apropriabilidade tecnolgica em uma parte importante da estrutura industrial
TABELA 12
Patentes, Marcas e Segredos na Indstria Brasileira por Categoria de Firmas. Firmas com 30 ou mais pessoas ocupadas. Ano: 2005.
Tipo de empresa
Patentes
MarcasSegredo industrialInveno Utilidade Desenho industrial
Depsito no exterior
Patentes no exterior
Lderes326
(29,3%)208
(18,7%)151
(13,6%)146
(13,1%)247
(22,2%)584
(52,5%)106
(9,5%)
Seguidoras500
(9,1%)441
(8,0%)314
(5,7%)138
(2,5%)277
(5,0%)1.736
(31,6%)204
(3,7%)
Frgeis141
(2,2%)111
(1,7%)120
(1,9%)8
(0,1%)27
(0,4%)1.339
(21,0%)79
(1,2%)
Emergentes59
(13,0%)57
(12,5%)57
(12,4%)6
(1,3%)3
(0,7%)205
(45,1%)15
(3,3%)
Total 1.026(7,6%)
818(6,1%)
641(4,8%)
297(2,2%)
554(4,1%)
3.864(28,7%)
404(3,0%)
Fonte: PIA/IBGE, PINTEC/IBGE, Secex/MIDC, Rais/MTE. Percentuais sobre o total de empresas inovadoras em cada categoria de empresa (ver tabela 5 coluna 1) entre parnteses.
4.4. A Empresa Estrangeira e a Transferncia de Tecnologia
O investimento direto tem sido um dos mecanismos principais no processo de internacionalizao das atividades produtivas, especialmente nos ltimos anos quando as taxas de crescimento do investimento direto externo (IDE) tm sido superiores, inclusive, s taxas de crescimento do comrcio e do PIB mundiais. A questo que se coloca se o IDE tambm tem desempenhado papel relevante na internacionalizao das atividades tecnolgicas. A participao dessas empresas nos gastos mundiais em P&D, bem como o fato de o IDE constituir um dos principais canais de difuso de tecnologia entre os pases, justificam essa preocupao.
bastante conhecido o fato de que as atividades inovadoras so extremamente concentradas nos pases desenvolvidos. Essa, alis, uma das razes pelas quais a importao de tecnologias dos pases centrais pode ser um mecanismo importante de desenvolvimento tecnolgico dos demais pases. Segundo Dunning (1994), no final
-
44 | O Ncleo Tecnolgico da Indstria Brasileira
dos anos 80, mais de 80% dos gastos mundiais em P&D estavam concentrados em cinco pases desenvolvidos: Estados Unidos, Japo, Frana, Inglaterra e Alemanha. Embora, recentemente, seja possvel perceber uma desconcentrao, ela ainda muito pouco significativa e est bastante restrita a um pequeno grupo de pases.
Alm da concentrao geogrfica, as atividades inovadoras esto tambm muito concentradas em um pequeno nmero de grandes corporaes. Segundo estudo da UNCTAD (2005), se tomarmos as 700 maiores firmas com gastos em P&D no mundo entre as quais 90% so transnacionais (ETN) elas respondem por quase metade do total dos gastos em P&D mundiais e por cerca de 69% dos gastos empresariais em P&D. De fato, as capacitaes tecnolgicas das ETNs so uma das vantagens especficas que possibilitam a essas empresas superar os custos e os riscos de competir em outros pases e mesmo desafiar consolidados produtores domsticos com uma entrada por meio da criao de nova capacidade produtiva (Hymer, 1976). Essas caractersticas, mais uma vez, ressaltam a importncia dessas corporaes e conseqentemente, do IDE, como canais preferenciais de transferncia de tecnologia para os pases em desenvolvimento.
Alm da participao das ETNs nos gastos globais com P&D, as atividades produtivas mais avanadas em termos tecnolgicos so, cada vez mais, dominadas pelas grandes corporaes internacionais. A conseqncia dessa concentrao, especialmente para os pases menos desenvolvidos, que entrar nesse tipo de atividade envolve participar de cadeias produtivas dominadas por essas empresas (UNCTAD, 2003).
A propenso da firma a internalizar a produo das novas tecnologias no seu prprio pas seria maior do que no caso de produtos ou tecnologias maduras15. Assim, o desenvolvimento tecnolgico se daria no mercado de origem, de onde a firma comearia a exportar o novo produto. Com o amadurecimento da tecnologia, o prximo passo na internacionalizao da empresa seria a produo daquele bem em outros pases. Segundo essa viso, as atividades de P&D nos pases receptores do IDE estariam restritas a adaptaes de produtos para atender s especificidades da demanda e de processos produtivos em virtude das diferenas nos fatores produtivos dos pases. No entanto, o ciclo do produto tem se tornado altamente comprimido, com empresas engajadas em projetos de inovao quase simultnea nos seus principais mercados. Desse modo, as firmas estariam agora acessando vantagens tecnolgicas nas mais diferentes localizaes, movimento facilitado pelas tecnologias da informao que reduzem os custos de coordenao das 15 Vernon, R. (1995)
-
Empresas Lderes na Indstria Brasileira: Recursos, Estratgias e Inovao | 45
atividades inovadoras. Cantwell (1995), por exemplo, encontra evidncias de um movimento de globalizao da atividade inovadora entre as ETNs. Para ele, hoje essas empresas procuram explorar as vantagens tecnolgicas dos diversos pases, tornando suas atividades inovadoras cada vez mais internacionalizadas.
Os investimentos em pesquisa realizados pelas ETNs nos Brasil no so desprezveis. A tabela 13 mostra que aproximadamente metade dos gastos em P&D da indstria Brasileira so realizados por firmas de capital transnacional. Em segundo lugar, entre as empresas estrangeiras maior a proporo daquelas que investem em P&D vis vis as empresas domsticas. Esses fatos colocam as multinacionais numa posio proeminente nos sistemas nacionais de inovao
TABELA 13Esforos em P&D na Indstria Brasileira, firmas de Capital Nacional e Transnacional por categoria de firmas. Firmas com 30 ou mais pessoas ocupadas. Ano: 2005.
Tipo de empresa Nmero de firmasP&D total (R$ MI)
P&D/Faturamento
(%)
Mestres e doutores em P&D
N empresa que cooperou em P&D com universidade
Empresas de Capital Nacional
Lderes 739 2.710,9 0,93 1.352 89
Seguidoras 8.957 1.160,9 0,28 676 149
Frgeis 19.953 78,3 0,10 - 16
Emergentes 462 137,4 1,84 216 22
Empresas de Capital Transnacional
Lderes 376 2.542,8 0,95 817 71
Seguidoras 1.148 1.120,5 0,50 472 27
Frgeis 76 1,1 0,04 - 0
Emergentes 7 70,8 7,86 16 2
Fonte: PIA/IBGE, PINTEC/IBGE, Secex/MIDC, Rais/MTE. Percentuais sobre o total de empresas inovadoras em cada categoria de empresa (ver tabela 5 coluna 1) entre parnteses.
Em certa medida, isso j era esperado, dada a posio de liderana ocupada pelas transnacionais em termos da produo global de tecnologia e suas reconhecidas vantagens competitivas e tecnolgicas sobre as empresas uninacionais dos pases
-
46 | O Ncleo Tecnolgico da Indstria Brasileira
em desenvolvimento. Entretanto, De Negri (2006) mostra que a proeminncia se deve a alguns poucos fatores, tais como tamanho das subsidirias, setor de atuao e insero nos mercados externos. De modo geral, as empresas estrangeiras nos pases latino-americanos so maiores do que as empresas domsticas, esto concentradas em setores mais intensivos em tecnologia e so mais inseridas no comrcio internacional. Se controlarmos esses fatores, desaparece a superioridade das estrangeiras em relao s nacionais no que diz respeito propenso realizar investimentos em P&D. Mais do que isso, quando comparamos firmas similares no que diz respeito a essas e outras caractersticas, observamos que as empresas estrangeiras so menos propensas e realizam menores investimentos em pesquisa do que as domsticas.16
De Negri (2006) mostrou tambm que existem diferena entre pases latino-americanos na atrao de investimento em P&D. No Brasil, as filiais de multinacionais investem mais em pesquisa como proporo do faturamento do que as filiais argentinas e mexicanas. Mais uma vez, essa diferena permanece significativa mesmo quando comparamos empresas estrangeiras similares nos mesmos setores de atividade.
Esses fatos sugerem a existncia de uma relao positiva entre o esforo tecnolgico empreendido pela economia domstica e aquele realizado pelas transnacionais instaladas nesses pases. Pode-se postular vrias hipteses para explicar