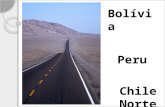UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA CENTRO DE … · presidente da Bolívia, em julho de 2013, a...
Transcript of UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA CENTRO DE … · presidente da Bolívia, em julho de 2013, a...
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA CENTRO DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E ARTES
Departamento de Comunicação Curso de Comunicação Social
Habilitação em Jornalismo
NAYANNA SABIÁ DE MOURA
TWITTER COMO FERRAMENTA DE POLÍTICA EXTERNA: ANÁLISE DA REAÇÃO ARGENTINA, EQUATORIANA E VENEZUELANA AO
BLOQUEIO AÉREO EUROPEU A EVO MORALES
João Pessoa 2013.2
NAYANNA SABIÁ DE MOURA
TWITTER COMO FERRAMENTA DE POLÍTICA EXTERNA: ANÁLISE DA REAÇÃO ARGENTINA, EQUATORIANA E VENEZUELANA AO
BLOQUEIO AÉREO EUROPEU A EVO MORALES
Monografia apresentada ao curso de Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo, da Universidade Federal da Paraíba, no período 2013/2, em cumprimento à exigência para obtenção do título de bacharel. Orientador: Prof. Dr. Hildeberto Barbosa de Araújo Filho.
João Pessoa 2013.2
NAYANNA SABIÁ DE MOURA
TWITTER COMO FERRAMENTA DE POLÍTICA EXTERNA: ANÁLISE DA REAÇÃO ARGENTINA, EQUATORIANA E VENEZUELANA AO
BLOQUEIO AÉREO EUROPEU A EVO MORALES
Monografia apresentada ao curso de Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo, da Universidade Federal da Paraíba, no período 2013/2, em cumprimento à exigência para obtenção do título de bacharel.
Aprovada em 14/03/2014.
Prof. Dr. Hildeberto Barbosa de Araújo Filho/UFPB Orientador
Prof. Dr. Claudio Cardoso de Paiva/UFPB Examinador
Profª. Ma. Cândida Maria Nobre de Almeida Moraes/UFPB
Examinadora
Dedico este trabalho a todos aqueles que lutaram e que ainda lutam parar costurar as veias abertas de nossa América Latina
AGRADECIMENTOS
À minha família, Luiz, Joana, Mayra, Renan e Régis, minha primeira escola, pelos
valores, apoio e incentivo.
Ao meu pai, por sempre acreditar no meu potencial.
À minha mãe (in memoriam), por ter me protegido durante esses anos, longe de casa.
À minha irmã, minha melhor amiga, conselheira e confidente.
Ao corpo docente da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), por ampliar meus
conhecimentos e meus horizontes.
A todos os funcionários da UFPB, em especial à Pollyana, por sempre ter uma palavra
de encorajamento, ao me ajudar com todos os problemas burocráticos da instituição.
Ao meu orientador, Hildeberto Barbosa, pela paciência, cuidado e atenção em todas as
correções, sugestões e contribuições feitas para a realização deste trabalho.
Aos meus amigos e companheiros de curso, que me acolheram como irmã e
minimizaram a minha saudade do Ceará, especialmente Ítalo, Jéssica, Letícia, Natan,
Secyliana e Uane.
À Universidad Autónoma Metropolina (UAM), por ter me ensinado a amar ainda mais
o cinema.
À Dinazar Urbina, por simplesmente ser a melhor mexicana do mundo.
A todos aqueles que torceram e contribuíram direta ou indiretamente para a minha
formação pessoal e acadêmica.
Caliban - não é a paz que me interessa, você sabe muito bem! É ser livre. Livre, está me ouvindo! (...) Próspero, você é um grande ilusionista, a mentira, isso você conhece. E de tal modo você mentiu para mim, mentiu sobre o mundo, mentiu sobre mim, que acabou por me impor uma imagem de mim mesmo: um subdesenvolvido, como você diz, um incapaz, eis como você me obrigou a me ver, e essa imagem eu a odeio. E ela é falsa! Mas agora, eu o conheço, velho câncer, e eu me conheço também. Aimé Cesaire
RESUMO Este trabalho aborda a reação dos presidentes de Argentina, Equador e Venezuela, via Twitter, diante do impasse diplomático causado pelo bloqueio do espaço aéreo europeu, praticado por França, Itália, Portugal e Espanha, ao avião presidencial de Evo Morales, em julho de 2013, a pedido de Washington. A discussão está inserida em um contexto de denúncias de espionagem pelo governo estadunidense e de perseguição ao delator Edward Snowden, ex-agente da Agência Central de Inteligência (CIA) dos Estados Unidos, acusado de traição à pátria e de ajuda ao inimigo. Além disso, insere-se no debate sobre as novas mídias e as possibilidades emancipatórias das funções pós-massivas. A metodologia é fundamentada em um estilo qualitativo, com ênfase na análise explanatória e bibliográfica. É utilizada uma literatura específica da área de Relações Internacionais e de Comunicação Social. Os perfis oficiais no Twitter dos chefes de Estado sul-americanos foram utilizados como fontes primárias para perceber a reação condenatória à intervenção contra Evo Morales, em um comportamento anti- hegemônico. Esse incidente foi sintomático e contribuiu para a reflexão sobre o ganho de autonomia da América Latina, fortalecendo a discussão sobre ciberdemocracia e sobre as possibilidades de uso do Twitter como extensão comunicacional de Política Externa, aproximando a Sociedade Civil Internacional de temáticas de Política Internacional. PALAVRAS-CHAVE: Espionagem. América Latina. Twitter. Ciberdemocracia.
LISTA DE FIGURAS E ILUSTRAÇÕES
Figura 1: Mapa da rota de Edward Snowden..................................................................24
Figura 2: Tendências da TIC...........................................................................................35
Figura 3: Evolução da Web.............................................................................................37
Tabela 1: Tipos de laços..................................................................................................41
Figura 4: Número de usuários oficiais de política presidencial e institucional...............44
Figura 5: Líderes mundiais mais seguidos no Twitter.....................................................45
Tabela 2: Perfil dos presidentes latino americanos mais influentes no Twitter..............48
Figura 6: Plano de voo de Evo Morales..........................................................................61
Tabela 3: Quantidade de tweets dos presidentes de Argentina, Equador e Venezuela
sobre o incidente diplomático envolvendo Evo Morales, em julho de 2013...................69
Figura 7: Perfis com maiores menções feitas por Cristina Kirchner no Twitter.............70
Tabela 4: Tweets de Cristina Kirchner sobre o bloqueio ao avião de Evo Morales, em
julho de 2013...................................................................................................................71
Figura 8: Primeiro tweet de Rafael Correa sobre o incidente diplomático envolvendo
Evo Morales em julho de 2013........................................................................................74
Figura 9: Líderes latino-americanos que mais respondem a seus seguidores.................75
Figura 10: Segundo tweet de Rafael Correa sobre o incidente diplomático envolvendo
Evo Morales em julho de 2013........................................................................................75
Figura 11: Terceiro tweet de Rafael Correa sobre o incidente diplomático envolvendo
Evo Morales em julho de 2013........................................................................................76
Tabela 5: Quarto tweet de Rafael Correa sobre o incidente diplomático envolvendo Evo
Morales em julho de 2013...............................................................................................77
Figura 12: Primeiro tweet de Nicolas Maduro Correa sobre o incidente diplomático
envolvendo Evo Morales em julho de 2013....................................................................78
Figura 13: Segundo tweet de Nicolas Maduro Correa sobre o incidente diplomático
envolvendo Evo Morales em julho de 2013....................................................................78
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS
ADM Aladi Alba Alca Arpa CAN Casa Celac CIA DCA EUA FMI GATT IPTO KGB MAS Mercosul Mossad NSA OEA OMC Otan SIS TIC TCP TSP Unasul Unesco URSS UIT WWW
Armas de Destruição em Massa Associação Latino Americana de Integração Aliança Bolivariana para os Povos de Nossa América Área de Livre Comércio das Américas Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa Comunidade Andina Comunidade Sul-Americana de Nações Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos Agência Central de Inteligência Agência de Comunicação da Defesa Estados Unidos da América Fundo Monetário Internacional Acordo Geral de Tarifas e Comércio Escritório de Técnicas de Processamento de Informação Comitê de Segurança do Estado Movimento ao Socialismo Mercado Comum do Sul Instituto para Inteligência e Operações Especiais Agência de Segurança Nacional Organização dos Estados Americanos Organização Mundial de Comércio Organização do Tratado do Atlântico Norte Serviço Secreto de Inteligência Tecnologia de Informação e Comunicação Tratados de Comércio entre os Povos Teorias de Solução de Problemas União de Nações Sul-americanas Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura União das Repúblicas Socialistas Soviéticas União Internacional de Telecomunicações World Wide Web
SUMÁRIO
Introdução........................................................................................................................11
1 Informação e Relações Internacionais: os impasses da espionagem............................14
1.1 Diplomacia e comunicação internacional........................................................14
1.2 Diplomacia secreta ou espionagem?................................................................17
1.3 Informação: hegemonia versus contra-hegemonia...........................................27
2 Mídia e América Latina: Twitter como ferramenta política.........................................30
2.1 Mídia e América Latina...................................................................................30
2.2 Novas Mídias...................................................................................................33
2.3 Twitter..............................................................................................................41
3 O Bloqueio do espaço aéreo europeu ao avião de Evo Morales..................................49
3.1 Emergência de governos progressistas e regionalismo pós-liberal..................50
3.2 A importância política da Unasul.....................................................................57
3.3 O bloqueio........................................................................................................60
4 Twitter como ferramenta de política externa: a reação argentina, equatoriana e
venezuelana ao bloqueio aéreo europeu a Evo Morales............................................66
4.1 O que é política externa? .................................................................................66
4.2 A reação de Cristina Kirchner, Rafael Correa e Nicolas Maduro através do
Twitter....................................................................................................................69
4.2.1 Argentina.......................................................................................................70
4.2.2 Equador.........................................................................................................73
4.2.3 Venezuela......................................................................................................77
Considerações Finais.......................................................................................................79
Resumen..........................................................................................................................84
Referências......................................................................................................................85
11
INTRODUÇÃO
O poder da internet e de suas redes sociais vai além da quantidade numérica de
usuários, pois é preciso levar em consideração a qualidade do uso. O Twitter tem sido
utilizado, como ferramenta política, por movimentos sociais, a exemplo da Primavera
Árabe no Oriente Médio e no Norte da África, do movimento Os Indignados, na
Europa, do #Yosoy132, no México, do Occupy Wall Street, nos Estados Unidos e, mais
recentemente, dos protestos de junho de 2013, no Brasil, motivados inicialmente pelo
aumento das passagens de transporte público, por exemplo. Nas palavras de Castells
(2013, p. 177),
Esses movimentos sociais em rede são novos tipos de movimento democrático – de movimentos que estão reconstruindo a esfera pública no espaço de autonomia construído em torno da interação entre localidades e redes de internet, fazendo experiências com as tomadas de decisão com base em assembleias e reconstruindo a confiança como alicerce da interação humana. Eles reconhecem os princípios que se anunciaram com as revoluções libertárias de Iluminismo, embora distingam a permanente traição desses princípios, a começar pela negação original da cidadania plena para mulheres, minorias e povos colonizados.
As relações de poder, ao serem transplantadas do âmbito doméstico para o
sistema internacional, também revelam as contendas hegemônicas e anti-hegemônicas
entre os Estados, atores proeminentes das relações internacionais. Usado para além de
instrumento de campanha eleitoral, o Twitter tem sido uma ferramenta importante de
política externa para os países de periferia e de semi-periferia, garantindo um canal
direto de representatividade e de expressão entre Estados e entre o Estado e a sociedade
civil internacional. A visão e a opinião da periferia, por vezes, são suprimidas ou
silenciadas pelos meios de comunicação de massa, hegemônicos e subsidiados pelos
interesses dos países de centro. Dessa forma, o Twitter tem adquirido um caráter
emancipatório, ao permitir novas possibilidades de ação para o exercício pleno da
democracia e das suas premissas liberais, que no meio digital, recebe o nome de
ciberdemocracia.
O objetivo geral deste trabalho é analisar a reação dos chefes de Estado de
Argentina, Equador e Venezuela, antigas colônias europeias, através de seus perfis
oficiais no Twitter, no tocante ao bloqueio do espaço aéreo europeu, praticado por
França, Itália, Portugal e Espanha, antigas metrópoles, ao avião de Evo Morales,
presidente da Bolívia, em julho de 2013, a pedido dos Estados Unidos da América
12
(EUA), que historicamente adotam comportamentos imperialistas com a América
Latina.
O impedimento sofrido por Evo Morales representou um impasse diplomático
entre a Europa, EUA e a América Latina. Evo Morales cumpria compromissos da sua
agenda1 de política externa, em Moscou, na Rússia. Ele participou da II Cúpula de
Países Produtores de Gás2, durante os dias 1 e 2 de julho de 2013. O plano de voo de
seu retorno à La Paz foi alterado3, em função do fechamento do espaço aéreo de França,
Itália, Portugal e Espanha, a pedido de Washington.
O incidente diplomático, envolvendo Evo Morales, foi retratado, em tempo
real, pelos perfis da presidente da Argentina, Cristina Fernández de Kirchner
(@CFKArgentina); do presidente do Equador, Rafael Correa (@MashiRafael); e do
presidente da Venezuela, Nicolas Maduro (@NicolasMaduro), através do Twitter,
estabelecendo um canal de diálogo direto com seus seguidores e garantindo a expressão
reprobatória aos comportamentos europeu e estadunidense. Dessa forma, coube abordar
a inserção das mídias digitais como canais de comunicação descentralizados e pós-
massivos.
Para compreender o comportamento de autonomia dos presidentes latino-
americanos é preciso tomar ciência dos processos políticos em curso na América do Sul.
A América Latina é concebida internacionalmente como uma região de transformação
política, de ganho de autonomia frente às históricas relações de dependência externa,
resultantes do colonialismo. Por isso, são abordadas as premissas do paradigma pós-
neoliberal, que está sendo construído como uma alternativa contra-hegemônica e anti-
imperialista, a partir da valorização da unidade latino-americana, pautada em uma
reorientação política, com a emergência de governos progressistas. Essa perspectiva está
fundamentando projetos latino-americanistas, articulados fora do escopo geopolítico
estadunidense, o que tem garantido liberdade para uma revisão crítica das relações
diplomáticas entre os Estados.
A metodologia deste trabalho é fundamentada em um estilo qualitativo, com
ênfase na análise explanatória e bibliográfica. É utilizada uma literatura específica da
1 Comunicado oficial do Ministério das Relações Exteriores da Bolívia, emitido no dia 1 de julho de 2013, sobre a participação de Evo Morales na reunião na Rússia. Ver: MRE – Bolívia, 2013a. 2 Gas Exporting Countries Forum (GECF), em inglês, é uma organização internacional formada por Argélia, Bolívia, Egito, Guiné Equatorial, Irã, Líbia, Nigéria, Omã, Qatar, Rússia e Trinidad e Tobago, Emirados Árabes e Venezuela. Noruega, Iraque, Holanda e Cazaquistão são observadores. 3 Comunicado oficial do Ministério das Relações Exteriores da Bolívia, emitido no dia 2 de julho de 2013, sobre o cancelamento do plano de voo de Evo Morales. MRE – Bolívia, 2013b.
13
área de Relações Internacionais e de Comunicação Social. Também são utilizadas como
fontes oficiais declarações dos governos envolvidos no caso e declarações de
organizações internacionais. Como fonte primária, são utilizadas as informações
publicadas nos perfis pessoais do Twitter dos chefes de Estado de Argentina, Equador e
Venezuela. Além disso, fontes secundárias, vinculadas ao terceiro setor, à mídia, à
academia e aos governos dos países envolvidos no caso, também são utilizadas.
Esse trabalho está seccionado em quatro capítulos. O primeiro contextualiza os
eventos que antecederam o impasse diplomático do bloqueio aéreo, envolvendo a
espionagem estadunidense e o caso Snowden, relacionando historicamente Mídia e
Política Internacional e levando em consideração a importância da informação para as
relações de poder, nos termos gramscianos de hegemonia. O segundo capítulo
contextualiza a relação entre meios de comunicação de massa e a América Latina. Em
seguida, apresenta a evolução do meio digital, em especial através das dinâmicas das
novas mídias, expressões de funções pós-massivas. Também é feita uma apresentação
sobre o Twitter e o seu uso como ferramenta política por chefes de Estado. O terceiro
capítulo explora o caso sobre o impedimento sofrido pelo avião presidencial boliviano
de sobrevoar o espaço aéreo europeu de França, Itália, Portugal e Espanha, levando em
consideração a emergência de governos na América Latina e à propensão ao
regionalismo pós-neoliberal. No quarto capítulo, é feita uma breve explicação sobre o
conceito de política externa; seguida de uma análise sobre o consequente uso do Twitter
como um instrumento de reação política de Argentina, Equador e Venezuela, diante do
impasse diplomático sofrido por Evo Morales.
Ao final das seções, serão feitas algumas considerações finais, com o objetivo
não de encerrar as discussões, mas de incitá-las a partir de um olhar alternativo sobre as
novas mídias, o direito de acesso à informação e as possibilidades de transformação
política.
14
1 INFORMAÇÃO E RELAÇÕES INTERNACIONAIS: OS IMPASSES DA
ESPIONAGEM
Diplomacia é o sistema e a arte da comunicação entre Estados. O sistema diplomático
é a instituição-mestra das Relações Internacionais.
Martin Wight
O objetivo deste capítulo é construir uma visão panorâmica sobre os eventos
que antecederam e que contribuíram para o impasse diplomático do bloqueio aéreo a
Evo Morales em julho de 2013, envolvendo a espionagem estadunidense e o caso
Snowden, e para a consequente reação dos presidentes de Argentina, Equador e
Venezuela, através do Twitter.
Para tal, será levada em consideração a importância da informação para as
relações de poder, seja ela utilizada por Estados, por organizações não governamentais,
por meios de comunicação de massa ou por cidadãos comuns. Contudo, não se pretende
responder questões vinculadas aos limites do imperativo da transparência para os
regimes democráticos nem esgotar as discussões sobre sigilo e confidencialidade na
vida diplomática. Dessa forma, serão apresentadas perspectivas sobre a Revolução
Digital e os impactos na relação de poder entre os Estados e a sociedade civil
internacional, em especial através da espionagem, ajudando a compreender o contexto
político que serviu de cenário para o bloqueio aéreo de Evo Morales.
1.1 Diplomacia e comunicação internacional
A inserção da sociedade civil internacional em questões de Política
Internacional é resultante de um processo histórico, gradual e dinâmico, portanto,
inacabado. O desenvolvimento de novas Tecnologias de Informação e Comunicação
(TIC) ampliou a participação da Mídia nas relações internacionais. A Comunicação
Internacional4 surgiu no século XIX, mas foi somente depois das duas Grandes Guerras,
no século XX, que emergiram debates contundentes na sociedade civil internacional
sobre Política Internacional (CAMARGO, 2012, p. 39).
4 Comunicação Internacional é definida como a transmissão de informação através das fronteiras, principalmente com troca de conteúdos vinculados aos governos (CAMARGO, 2012, p. 41).
15
As discussões sobre guerra e paz, principais temáticas da Política Internacional
no começo do século XX, eram restritas a ambientes militares e diplomáticos. Os
aspectos diplomáticos veiculados como notícia eram pitorescos. Não havia, até então, o
desejo da opinião pública de popularizar o debate nem mesmo de monitorar as
atividades de política externa. Portanto, não havia sido criado um canal que
possibilitasse essa comunicação. Contudo, os impactos da Primeira Guerra Mundial
(1914-1918) alteraram a mentalidade da época. Questões de segurança não podiam mais
ser deixadas apenas nas mãos de diplomatas e de militares. A percepção de que os
acordos secretos5 geraram o conflito enfatizou a necessidade de se ter uma diplomacia
transparente. Como sugere Kant (2008, p.4), no 1º Artigo preliminar para a paz perpétua
entre os Estados: “Não deve considerar-se como válido nenhum tratado de paz que se
tenha feito com a reserva secreta de elementos para uma guerra futura”. Um
movimento, então, iniciou-se nos países de língua inglesa, sob a forma de protesto
contra os tratados secretos, utilizados como argumento para as causas da guerra. A
população sabia que tratados secretos eram celebrados, mas não exigia dos governos a
transparência sobre o conteúdo dos documentos. Com os protestos, houve a primeira
demanda pela popularização da política internacional (CARR, 2001, p. 3-15).
É importante salientar que a culpabilidade não recaiu necessariamente sobre a
imoralidade dos governos, de maioria democrática, em celebrar tratados secretos, mas
na indiferença da população com relação aos assuntos de Política Internacional.
Portanto, o fim da diplomacia secreta e a demanda pela transparência dos governos
estão intimamente vinculados com a exigência popular pelo direito de acesso à
informação.
Com o objetivo de evitar as mazelas da guerra, os estudos acadêmicos em
Relações Internacionais começaram a ser sistematizados, em 1917, na universidade
escocesa de Aberystwyth. A disciplina evoluiu e auxiliou, de maneira concomitante, os
estudos de Comunicação Internacional, que foram impulsionados por três motivos: a
utilização da propaganda nas décadas de 1920 e 1930; o rápido desenvolvimento dos
meios de comunicação; e a evolução do rádio, sendo utilizado para as pesquisas de
audiência em Ciências Sociais (NOGUEIRA; MESSARI, 2005, p. 3; LAZARSFELD,
1952-53, p. 481, apud CAMARGO, 2012, p. 41).
5 Acordos secretos feitos entre as potências, no começo do século XX, foram encontrados pelos bolcheviques, depois da tomada de poder em 1917 (WAACK, 2011, p. 40).
16
A diplomacia e a comunicação caminham juntas. Na definição de Wight (2012,
p. 107), "diplomacia é o sistema e a arte da comunicação entre Estados. O sistema
diplomático é a instituição-mestra das Relações Internacionais". Com a maior interação
entre os Estados em foros internacionais6, a quantidade de trocas de informação também
se intensificou. Essa ampliação, ao longo do século XX, foi significativa,
principalmente, depois da Segunda Guerra Mundial, construindo espaços de diálogo
para as negociações internacionais (SEITENFUS, 2008, p. 25).
Dessa forma, com o passar dos anos, a Mídia Internacional7, estimulada por
uma demanda popular, passou a se interessar em produzir mais conteúdos vinculados à
política internacional. Contudo, a Revolução Digital não democratizou o poder entre os
Estados. A partir da década de 1960, começaram a ser feitas reflexões sobre o debate
Norte-Sul nas comunicações. Os países denominados de terceiro-mundo passaram a
discutir assuntos relacionados à informação-comunicação no sentido de democratizar8 o
conteúdo, do ponto de vista da emissão. As desigualdades, no tocante às TIC, fizeram
com que os países desenvolvidos se tornassem provedores dos setores de informação. A
existência de uma via única de informação, através dos monopólios das corporações de
comunicação, verticalizou as notícias e contribuiu para a construção de uma visão
distorcida sobre os países em desenvolvimento (CAMARGO, 2012, p.42 e 43).
De acordo com Santos (2008, p. 38), diante das relações de poder, existe tirania
no processo de globalização da informação que alicerça ações hegemônicas, percepções
fragmentadas e um discurso único, constituindo-se como uma forma de totalitarismo,
ou, em suas palavras, globaritarismo. As técnicas da informação são utilizadas por uma
minoria de Estados, em benefício de interesses particulares, criando e aprofundando
desigualdades. Ainda segundo Santos (2008), o que se transmite é uma informação
manipulada, que ao invés de esclarecer, confunde e torna a periferia ainda mais
marginalizada. Dessa forma, por vezes, a informação se transforma em ideologia
(SANTOS, 2008, p. 38).
6 Vale ressaltar a importância da experiência da Liga das Nações para a criação da Organização das Nações Unidas, fortalecendo o princípio de segurança coletiva, positivado no preâmbulo da Carta de São Francisco de 1945. 7 Mídia internacional é um conceito abrangente, contudo será adotado como agências internacionais de notícia, com escritórios ao redor do mundo, que produzem conteúdos vinculados a vários países (CAMARGO, 2012, p. 40). 8 A resolução da Unesco, de 1980, denominada One World, Many Voices (Um Mundo, Muitas Vozes) foi o primeiro documento de Política Internacional a tratar da temática da comunicação-informação. Ver: UNESCO, 1980.
17
Portanto, a Mídia Internacional, influenciada por interesses particulares de
grupos políticos, vinculada ou não a governos, atua como instrumento de soft power9
(poder brando) nas relações internacionais, influenciando pensamentos e persuadindo a
opinião pública para lograr um determinado objetivo, sem a utilização da coerção ou da
violência física.
A alta velocidade na transmissão de conteúdos entre os países ricos já era
possível na Europa e na América do Norte, desde o século XIX. A grande modificação
do século XX e XXI foi a redução de custos e de tempo, provocando o surgimento
excessivo 10 de informações. O que existe hoje é o paradoxo da abundância, em que o
excesso de informação leva à redução da atenção. Dessa forma, há dificuldades em se
concentrar em uma temática. Por isso muitas discussões importantes sobre poder não
ganham a relevância necessária (NYE, 2009, p.277-305).
1.2 Diplomacia secreta ou espionagem?
Diante da evolução das novas TIC, temia-se que, com os computadores, os
governos criassem um controle central de vigilância, como foi dramatizado no romance
de George Orwell, intitulado “1984”. A verossimilhança do romance veio à tona na
medida em que o debate sobre direito de acesso à informação tornava-se mais enfático.
A espionagem e a vigilância governamentais existem desde a Antiguidade
Clássica, mas ganharam novo escopo operacional com o surgimento das TIC, fazendo
com que esses subterfúgios fossem institucionalizados, a partir do século XX. Os
denominados serviços de inteligência são agências governamentais que coletam e
analisam informações importantes para as tomadas de decisão em determinadas áreas, a
exemplo da política externa e da defesa nacional. Essas agências são conhecidas pelos
seus serviços secretos ou de informação. Com o fim da Guerra Fria, houve uma
discussão sobre a real necessidade desses serviços, amplamente utilizados durante as
Grandes Guerras e a Guerra Fria. Na década de 1990, essas agências tiveram seus
orçamentos reduzidos. Contudo, diante da Nova Ordem Internacional, dotada de
incertezas, as demandas por informação especializada aumentaram. Com o surgimento
9 Para saber mais sobre softpower, hardpower, smartpower e cyberpower, veja KEOHANE; NYE, 2001; NYE, 2004; NYE, 2012. 10 161 bilhões de gigabytes de informações digitais foram criados só em 2006, quantidade informacional três milhões de vezes superior às informações em todos os livros já escritos (NYE, 2009, p. 278).
18
de empresas privadas de escala global, esse fluxo tornou-se ainda mais facilitado,
gerando uma remodelação desses serviços no século XXI (CEPIK, 2001, p. 8-12).
Segundo Cepik (2001), os serviços de inteligência são, porém, ainda pouco
explorados pela literatura de Política Internacional. A CIA, dos EUA; o Comitê de
Segurança do Estado (KGB), da antiga União das Repúblicas Socialistas
Soviéticas (URSS); o Instituto para Inteligência e Operações Especiais (Mossad), de
Israel; e o Serviço Secreto de Inteligência (Secret Intelligence Service, SIS), do Reino
Unido, são agências, cujas siglas são famosas, mas muito do que se conhece a respeito
delas foi construído no imaginário social, a partir da mídia, do cinema e da literatura
ficcional.
Os serviços secretos cresceram pelas mesmas razões que os serviços diplomáticos: a expansão do sistema de Estados e o crescimento do intercâmbio internacional. Provavelmente nunca será possível escrever a história da espionagem como uma instituição internacional, pois a maior parte das informações a respeito não existirá. Não há meios de saber, com certeza, com que frequência os dados obtidos por intermédio de fontes secretas de informação são valiosos, e muito menos de saber se, caso forem valiosas, decisões foram tomadas com base nelas (WIGHT, 2012, p. 111).
A diplomacia dos Estados deveria ser dotada de registros, de uma memória,
que pode ser útil para a tomada de decisões futuras de política externa. O perigo da
Revolução Digital não é apenas o de vazamento de informações, mas o de
desaparecimento de arquivos guardados sob a tutela do Estado, sendo esse um desafio.
A quantidade de arquivos anteriormente era menor, considerando que os Estados
lidavam com temáticas mais restritas. Com a ampliação da agenda política e com a
Revolução Digital, os arquivos passaram a ser mais numerosos, heterogêneos e
complexos (LAFER, 2011, p.14).
A espionagem e a manipulação externa de arquivos diplomáticos eram mais
difíceis quando o papel era prioritariamente utilizado como suporte técnico. Com os
arquivos digitais, a possibilidade de roubo de informações aumentou. Porém, também
possibilitou a maior transparência dos governos, ao mesmo tempo em que passou a ser
questionado o sigilo na vida diplomática (LAFER, 2011, 11-12).
A diferença entre a diplomacia e a espionagem é a diferença entre a arte da paz e arte da guerra; é também em parte a diferença entre a arte do governo constitucional e a arte do despotismo. Quando a paz se aproxima da guerra, a diplomacia e a espionagem tendem mais uma vez a se confundirem. Ou talvez devamos dizer que a diplomacia normal é substituída pela diplomacia revolucionária. A diplomacia revolucionária possui suas perversões em relação às três funções da diplomacia: espionagem ao invés de informação, subversão ao invés de negociação, propaganda ao invés de comunicação (WIGHT, 2012, p. 111).
19
A espionagem é uma conduta criminalizada em grande parte dos ordenamentos
jurídicos dos Estados. Nos EUA, por exemplo, a depender da gravidade, a pena jurídica
para um espião é de prisão perpétua ou até mesmo de pena de morte. Já o vazamento de
informações sigilosas pode ser penalizado por meio de processos administrativos, de
multas ou de prisão. Essa divulgação pode ser acidental ou proposital, com o objetivo
de expor alguma corrupção, arbítrio ou incompetência do Estado, que estava sendo
ocultada por meio do segredo público. Geralmente, os segredos governamentais são
salvaguardados pelos serviços de inteligência, que, de maneira paradoxal, têm como
objetivo descobrir os segredos governamentais de outros Estados (CEPIK, 2001, p.165-
168).
O aumento no fluxo de informação, ao longo dos anos, entre os governos e
entre o governo e a sociedade doméstica, com o intermédio da Mídia Internacional, foi
considerável e essa nova conjuntura perpassa por um debate sobre o que é público e o
que é privado. Bobbio (2000) afirma que existem duas interpretações sobre o que é
público. A primeira corresponde ao que é oposto a privado, na perspectiva jurídica
clássica dos romanos de ius publicum e ius privatum; ao passo que a segunda é a
oposição a secreto, no sentido de não pertencer à coisa pública ou ao Estado, mas sim de
caracterizar aquilo que está manifesto, evidente e visível. Dessa forma, a democracia
deve ser o governo do poder público em público (BOBBIO, 2000, p. 83-106).
Quando se vincula o direito de acesso à informação e o sigilo da vida
diplomática, o debate torna-se ainda mais polêmico. Deixando correr em paralelo a
complexidade do debate sobre a Teoria da Paz Democrática, de Oneal e Russett (2001),
cabe ressaltar que países democráticos devem levar em consideração a opinião pública
em processos de negociação, independentemente de culminar em solução pacífica de
controvérsias11. As lições de Kant contribuíram para a redução do segredo na vida
diplomática. Contudo, sem o sigilo de uma quiet diplomacy, não há condições de uma
negociação efetiva. Não há tratados negociados em praças públicas. Porém, como
sugere o célebre discurso dos Catorze Pontos12 de Woodrow Wilson, para o Congresso
estadunidense, em 1918, é preciso existir uma publicidade plena quanto aos resultados
11 Para a Teoria Realista de Relações Internacionais, a opinião pública é falha para a consecução da paz, uma vez que o objetivo primordial do Estado é a sobrevivência, portanto a opinião pública pode incentivar o Estado a ir à guerra, não necessariamente a buscar a paz, pois é vinculada a paixões, a manipulações e a interesses setoriais, por isso é falha (CARR, 2001, p.172-188; RODRIGUES, 2011, p. 33). 12 Os princípios da diplomacia aberta foram primados no art.18 do Pacto da Sociedade das Nações e no art. 102 da Carta de São Francisco da ONU.
20
do processo de negociação (CASARÕES, 2012, p. 43-77; MENDES, 2012, p. 79-111;
CARR, 2001, p. 172-188; LAFER, 2011, p. 14-15; JATOBÁ, 2013, p. 9).
Mesmo com a proposta de findar a diplomacia secreta, no começo do século
XX, é importante destacar que essa temática sobre a transparência interestatal era ainda
bastante vulnerável. Meses depois do discurso dos Catorze Pontos, Woodrow Wilson
estava negociando o Tratado de Versalhes13, secretamente, com Clemenceau e com
Loyd George, estadistas francês e britânico, respectivamente (RODRIGUES, 2011, p.
34).
A proposta de uma diplomacia aberta foi acatada posteriormente, em 1945, no
Artigo 10214, da Carta da ONU, garantindo a publicidade de tratados e de documentos
diplomáticos, registrados pelo Secretariado da ONU. O propósito é dar transparência às
atividades diplomáticas, além da possibilidade de monitoramento, em confluência com
as normas do Direito Internacional. Essa publicidade deve ser plena quanto aos
resultados da negociação, mas não quanto ao processo de negociação. Por isso, os
Estados devem prezar pela boa fé (LAFER, 2011, p. 14-15).
O direito de acesso à informação, a transparência nas democracias e os
mecanismos de accountability15 ganharam nova configuração para os estudos de
Política Internacional depois que o jornalista australiano Julian Assange trouxe ao
público, a partir de 200716, através do site WikiLeaks17, informações de governos, de
empresas e de organizações internacionais, classificadas como sigilosas. Essa
classificação de sigilo tem como dever ser a articulação prudente dos governos de
salvaguardar temas de interesse público. Porém, esta tipificação é arbitrária e elaborada
sob os auspícios do Poder Público, ou seja, é de decisão de gestores. Por isso, é
13 Assinado em 28 de junho de 1919, pôs fim à Primeira Guerra Mundial e foi fruto de meses de negociação. 14 O Artigo 102 da Carta das Nações Unidas garante respeito à memória diplomática e à transparência da vida jurídica internacional, ao versar que: 1. Todo tratado e todo acordo internacional, concluídos por qualquer Membro das Nações Unidas depois da entrada em vigor da presente Carta, deverão, dentro do mais breve prazo possível, ser registrados e publicados pelo Secretariado. 2. Nenhuma parte em qualquer tratado ou acordo internacional que não tenha sido registrado de conformidade com as disposições do parágrafo 1º deste Artigo poderá invocar tal tratado ou acordo perante qualquer órgão das Nações Unidas (UNICRIO, 2001, p. 55). 15 Conceito utilizado prioritariamente por neoliberais institucionais. Não há uma tradução adequada, porém está vinculado à ideia de responsividade e de prestação de contas. Accountability pode ser vertical, entre a sociedade e o Estado, e horizontal, entre as instituições do Estado. 16 O site wikileaks.org foi registrado em 4 de outubro de 2006, mas só foi ao ar em janeiro de 2007 (DOMINGOS; COUTO, 2011, p. 14). 17 Wiki é uma palavra de origem havaiana que significa rapidez. Leaks é uma palavra de origem inglesa que significa vazamento (DOMINGOS; COUTO, 2011, p. 11-15).
21
importante destacar que um tema classificado como sigiloso pelo governo talvez não
ganhasse a mesma tipificação diante da apreciação pública (LAFER, 2011, p. 13).
O objetivo do grupo fundador é combater atividades governamentais de caráter
duvidoso, incluindo crimes de guerra. Dessa forma, busca-se expor contradições e
hipocrisias dos Estados, para tornar o mundo mais cívico, concedendo responsabilidade
política e social aos atos cometidos. Alguns casos envolvendo prioritariamente os EUA
deram destaque ao site e o tornaram internacionalmente conhecido, a saber: o
vazamento de 251.288 telegramas18 das embaixadas dos EUA sobre Direitos Humanos,
economia, terrorismo, entre outros; o vazamento de um vídeo que mostra um
helicóptero dos EUA atacando civis19, em uma praça pública, em Bagdá, no Iraque
(DOMINGOS; COUTO, 2011, p. 30; LAFER, 2011, p.11).
O WikiLeaks dividiu opiniões. Uns acreditam que as novas tecnologias
possibilitam a ruptura do segredo e o tratam como um mecanismo de emancipação
política capaz de fortalecer a democracia, mitigar a hegemonia estadunidense no cenário
internacional e garantir o direito de acesso à informação. Outros acreditam que a
publicidade feita sobre os vazamentos é superior ao seu real significado, pois não há
nada de muito surpreendente no que foi revelado. Ademais, pontuam que além de
criminosos, por manipularem clandestinamente informações de governos, os fundadores
podem dificultar o trato entre nações e constranger as relações diplomáticas. Interpretam
o WikiLeaks, sob a ótica da razão de Estado (raison d'état). Por isso, a sociedade não
deve estar atrelada às negociações de Política Externa, acreditando que de fato os
verdadeiros interessados em Política Internacional são os observadores mais atentos.
Para esse grupo, as publicações do WikiLeaks geram embaraços e são insignificantes
(RODRIGUES, 2011, p. 32-35; SPEKTOR, 2011, p. 19).
Diante do exposto, pode-se constatar que a diplomacia é politicamente
amparada pelo sigilo. Os governos não são obrigados a negociar como se estivessem em
um aquário de vidro, configurando-se como uma ingenuidade a perspectiva de total
transparência (WAACK, 2011, p. 43). Nem a sociedade civil, na sua individualidade,
nem a diplomacia consegue tolerar com facilidade o excesso de instantaneidade e de 18 Os telegramas diplomáticos se transformaram em e-mails. Na diplomacia, ficou comprovado, com os vazamentos do WikiLeaks, que os arquivos diplomáticos digitais são mais vulneráveis que os de papel (LAFER, 2011, p. 14). 19 Durante o ataque, doze pessoas foram assassinadas, incluindo funcionários da agência de notícia Reuters, Namir Noor-Eldeen de 22 anos, fotógrafo, e o seu assistente e motorista, Saeed Chmagh, de 40 anos. Outro caso denunciado foi referente ao soldado estadunidense Bradley Manning, condenado a 35 anos de prisão, por fornecer documentos ao site, etc. (DOMINGOS; COUTO, 2011, p. 37; GREENWALD, 2012).
22
transparência (LAFER, 2011, p. 16). Entretanto, mesmo sendo reservado um ambiente
de sigilo ao Estado, se faz necessária uma maior transparência nas esferas interestatais
(RODRIGUES, 2011, p. 34).
Dessa forma, a falta de transparência pode ser subterfúgio para se atingir
mentiras e para esconder segredos. Com a licença para o jogo de palavras: o segredo
permite a ocultação da mentira e a mentira ajuda a esconder o segredo, em um
movimento dual. Logo, para que haja democracia, regime adotado por uma maioria20
esmagadora de Estados, é preciso haver também um processo de transparência na gestão
e na interação entre os Estados, principalmente através dos mecanismos de
accountability (LAFER, 2011, p. 13; WAACK, 2011, p.39-41).
Tempos depois do fervor do WikiLeaks, esse debate retorna às pautas de
discussão política por meio do denunciante Edward Snowden. Ele é um ex-agente da
CIA que delatou à Mídia informações sobre a política internacional de vigilância
eletrônica dos EUA, mais conhecido como PRISM, que monitora a vida digital da
população dos EUA e de outros países, com a confluência de servidores como
Facebook, Microsoft, Google, Skype e Apple21. Conversas pessoais e e-mails de civis e
de chefes de Estado e de Governo estavam sendo espionados22. Em entrevista23 ao
jornal The Guardian, Snowden, admitindo a sua motivação pessoal de impedir o
excesso de poder de vigilância24 dos EUA, decidiu divulgar tais informações com o
auxílio de dois jornais: The Guardian e The Washington Post (GREENWALD;
MACASKILL, 2013).
A Europa foi alvo de espionagem. Um caso especial chamou a atenção pelo
tempo de monitoramento. Casos envolvendo Espanha, Portugal, Itália e França foram
amplamente divulgados. Porém segundo o jornal The Wall Street Journal25, a apatia de
França e Espanha em exigir internacionalmente a retratação dos EUA pela espionagem
aos seus governos se deve ao fato de que são os seus próprios serviços secretos os
responsáveis pela espionagem, o que indica a participação europeia nesse esquema de
vigilância global, em colaboração com a NSA.
20 118 dos 193 países país do mundo são democráticas (ZAKARIA, 1997). 21 Um slide instruindo os analistas da NSA sobre o programa apregoa a sua eficácia e apresenta os logotipos das empresas envolvidas (THE WASHINGTON POST, 2013). 22 Segundo uma matéria publicada no The Guardian, os EUA monitoraram chamadas telefônicas de 35 líderes mundiais. Ver: BALL, 2013. 23 GREENWALD, Glenn. 2013b. 24 A ferramenta XKeyscore permite à NSA monitorar praticamente todas as atividades de usuários na Internet. 25 ENTOUS; GORMAN, 2013.
23
Em 5 de junho de 2013, o jornalista Glenn Greenwald26, do jornal The
Guardian, publicou a primeira matéria sobre a coleta de dados virtuais e de
monitoramento de ligações telefônicas de vários usuários dentro e fora27 dos EUA por
meio da NSA28. Em matéria29 publicada no jornal The Guardian, no dia 9 de junho, Glenn
Greenwald revelou que a fonte das informações era proveniente do ex-agente da CIA
Edward Snowden que até então estava em anonimato.
Quando decidiu divulgar o que havia descoberto, Snowden deixou o território
estadunidense. Em 20 de maio de 2013, foi para Hong Kong. Quando o governo dos
EUA tomou ciência da apropriação ilícita de tais informações sigilosas, foi feito um
pedido de extradição. Diante da insegurança30 e da suspeita de que autoridades locais
estavam ajudando a CIA a capturar Snowden, ele decidiu deixar a região, sob influência
chinesa31. Apoiado politicamente e logisticamente por Julian Assange, em 23 de junho de
2013, Snowden deixou Hong Kong em direção à Rússia32.
26 Desde que começou a publicar as informações adquiridas por Snowden no jornal The Guardian, o jornalista Glenn Greenwald passou a ser perseguido. O argumento ficou evidente com o caso David Miranda, brasileiro que foi detido por oficiais da Scotland Yard, no dia 18 de agosto de 2013, no aeroporto de Heathrow, em Londres. Ele é companheiro do jornalista e, no seu retorno ao Brasil, foi enquadrado no Terrorism Act, de 2000, que permite que autoridades inglesas fiscalizem áreas de fronteira, como portos e aeroportos, e detenham indivíduos suspeitos para interrogatórios. Levando em consideração a histórica aliança diplomática com os EUA, a falta de evidências que demonstrem ameaça à segurança do Reino Unido e o fato de ele ter ficado detido por nove horas, máximo de tempo permitido pela lei, demonstra uma retaliação ao jornalista. Essa conjuntura incitou ainda mais o debate sobre a liberdade de expressão no jornalismo (THE GUARDIAN. 2013c; UK, 2000; WATTS, 2013). 27 As denúncias de espionagem feitas por Snowden ganharam muita repercussão e comprometeram inclusive a legitimidade de algumas tomadas de decisão. Os repórteres da Revista Época, Leonardo Souza e Raphael Gomide publicaram, como matéria de capa, fragmentos de um documento que comprovam que os EUA adquiriram vantagem nas negociações de sanção ao Irã em 2010, ao espionar pelo menos oito países, tendo conhecimento sobre como cada país iria votar durante a sessão do Conselho de Segurança da ONU (SOUZA; GOMIDE, 2013). 28 Ver cronologia (G1, 2013). 29 GREENWALD; MACASKILL; POITRAS, 2013. 30 OWEN, 2013. 31 BORGER, 2013. 32 WIKILEAKS. 2013b.
24
Figura 1: Mapa da rota de Edward Snowden33.
Fonte: http://www.washingtonpost.com/world/national-security/the-flight-of-edward-
snowden/2013/06/23/4d5f03c6-dc69-11e2-9218-bc2ac7cd44e2_graphic.html
Com a revogação de seu passaporte, Snowden não pôde entrar em território
russo e ficou na área de trânsito do Aeroporto Internacional Sheremetievo, em Moscou,
por quarenta dias. Alegando risco de perseguição, Snowden enviou pedidos de asilo a
21 países34 35.
Em nota36 publicada no WikiLeaks, Snowden alegou que os EUA, defensores
dos Direitos Humanos e do direito político de asilo, estavam pressionando os Estados,
aos quais foram feitas as solicitações de asilo, a refutá-lo. No dia 1º de agosto de 2013,
Snowden recebeu asilo russo e deixou a área de trânsito do aeroporto. Segundo seu
advogado37, em novembro de 2013, ele começou a trabalhar para um grande site russo.
Porém, em fevereiro de 2014, foi eleito reitor da Universidade escocesa de Glasgow.
A espionagem do governo estadunidense entrou em pauta nas discussões
políticas do século XX com o escândalo38 de Watergate39, marcando a relação entre
33 Tradução do texto apontado na figura: 1) Antes de 9 de junho de 2013: Snowden deixa os EUA, provavelmente de Honolulu, onde trabalhava como contratado da NSA, com Booz Allem Hamilton. 2) 9 de junho de 2013: Snowden revela-se como a fonte dos documentos vazados da NSA. 3) Snowden chega ao aeroporto de Moscou. 4) A ser determinado: Snowden está solicitando asilo ao governo do Equador. Não há voos diretos de Moscou para o país sul-americano; logo, pode fazer escala em Havana ou Caracas ou em ambos. 34 Brasil, Alemanha, Áustria, Bolívia, China, Cuba, Equador, Espanha, Finlândia, França, Holanda, Índia, Irlanda, Islândia, Itália, Nicarágua, Noruega, Polônia, Rússia, Suíça e Venezuela. Apenas Venezuela e Bolívia aceitaram inicialmente ao pedido de Snowden. 35 WIKILEAKS, 2013c. 36 SNOWDEN, 2013. 37 GUTTERMAN, 2013. 38 Outro famoso caso de espionagem envolvendo os EUA foi o telegrama Zimmermann, trocado entre os agentes diplomáticos alemães Arthur Zimmermann e Heinrich von Eckardt, que articulavam uma aliança com o México contra os EUA, em caso de guerra entre Alemanha e EUA, através da promessa de incentivos financeiros e de devolução de alguns territórios ao México. O telegrama foi interceptado por britânicos, em 1917. Diante da conspiração, os EUA anteciparam a sua entrada na Primeira Guerra Mundial (WAACK, 2011, p. 40).
25
Mídia, Estado e Opinião Pública. Com esse episódio, a sociedade civil dos EUA passou
a ser mais vigilante com relação ao comportamento do governo e, em certo aspecto,
abandonou a reverência e a distinção que era devotada ao presidente. Os deslizes do
chefe de Estado não poderiam se sobrepor às leis que ordenavam a vida pública
(SORENSEN, 1974, p. 497-503).
Questões de segurança foram historicamente relevantes para a Política Externa
dos EUA. Porém, é importante perceber que, desde o 11 de setembro de 2001, a
Estratégia de Defesa Nacional estadunidense, gerenciando a sua insegurança,
incorporou a premissa de autodefesa antecipada por meio da “Guerra contra o Terror”.
Temas de segurança ganharam proeminência e o governo aumentou seus gastos
com as forças armadas, ampliou a quantidade de bases militares no exterior e reforçou
alianças na região Ásia-Pacífico. As preocupações dos EUA, durante a administração
Bush (2001-2009), em relação ao Eixo do Mal40 estar produzindo Armas de Destruição
em Massa (ADM), estimularam a construção de uma estratégia nacional de segurança
mais agressiva, dirigindo os seus interesses à confluência da prevenção contra o
terrorismo e contra a ameaça nuclear. A luta contra a Al-Qaeda fez com que os EUA se
aproximassem do mundo Islâmico, deixando a América Latina fora do radar
estadunidense. Diante do sentimento de insegurança no âmbito doméstico dos EUA,
começou uma tensão entre a necessidade de manter os Serviços de Inteligência dos
EUA, garantindo segurança à pátria, e os clamores em favor das liberdades individuais
(COLOMBO; FRECHERO, 2012, p. 190-201; BUZAN, 2002, p. 255-259).
Esse debate ficou claro com a promulgação do USA PATRIOT Act41 por meio
de mecanismo de checks and balances dos EUA. O Legislativo, sem consulta pública,
concedeu ao Executivo maiores poderes de vigilância para conter possíveis ataques
terroristas, através do Ato Patriótico. Impulsionada pelo sentimento de insegurança do
39 Durante o governo do 37º presidente dos EUA, o republicano Richard Nixon (1969-1974), atos de espionagem aos escritórios de integrantes do partido Democrata, no complexo Watergate, em Washington, foram descobertos com o auxílio de jornalistas investigativos do The Washington Post, em 1972. Nixon renunciou, antes de sua cassação por processo de impeachment, à presidência e foi substituído pelo vice-presidente Gerald Ford (1974-1977), que o concedeu anistia39, retirando responsabilidades legais perante qualquer infração que tivesse cometido. O processo de impeachment era moroso e poderia ter agravado a crise política da época. As pressões finais e mais eficazes que induziram Nixon a renunciar foram de seu partido e de sua equipe de assessores. Ele ficou marcado na história dos EUA como o único presidente a renunciar. 40 Irã, Iraque e Coréia do Norte. 41 Em português seria Ato Patriótico e é um acrônimo de: Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001. Em tradução livre, seria: Lei de 2001 para unir e fortalecer a América, fornecendo instrumentos apropriados requeridos para interceptar e obstruir o terrorismo. Ver: EUA, 2001.
26
11 de setembro42, essa lei pressupõe a perda de liberdades individuais em nome da
segurança nacional (WHITAKER, 2007, p. 1018).
Assinada por Bush, em 26 de outubro de 2001, o Ato Patriótico provocou
grandes alterações nas leis de imigração, na definição sobre terrorismo, na vigilância do
governo, no compartilhamento de informações e na articulação entre as agências de
inteligência e o governo. Representa um sistema legal paralelo com o objetivo de
dissuadir e prevenir ataques terroristas em solo americano (KASSOP, 2003, p. 514-
517).
Segundo Bobbio (2000), a existência do poder invisível 43 é uma das promessas
não cumpridas da democracia. Ao lado do Estado visível, sempre existe um Estado
invisível. As ações dos governos democráticos deveriam ser desenvolvidas
publicamente. Arcana imperii eram autoridades ocultas, misteriosas e valorizadas pelos
absolutistas. As decisões eram tomadas sem os olhares indiscretos do público, em
gabinetes secretos. Com o fim do Estado absolutista, a democracia surge com a
promessa de findar o poder mascarado, dando transparência às ações do governo, porém
essa promessa de ideal democrático, como sugere Bobbio (2000), não foi cumprida. Em
um regime democrático, a publicidade dos atos permite o controle dos cidadãos sobre os
atos governamentais. Dessa forma, Bobbio (2000) pontua que a falta de transparência
do setor público pode ser utilizada para esconder atividades ilícitas.
Com a Revolução Digital, os cidadãos podem melhor fiscalizar as ações do
governo através da troca de informações. Porém, se a “cyberdemocracia” pode
beneficiar os governados, não há dúvida sobre a possibilidade de prestação de serviços
aos governantes, isso porque há instrumentos técnicos à disposição dos detentores de
poder para conhecer capilarmente tudo que os cidadãos fazem. Outrora, os monarcas,
mesmo com a ajuda de espiões, jamais obtiveram sobre seus súditos as informações
que, atualmente, os governos, por mais democráticos que sejam, são capazes de obter de
seus cidadãos com o uso de cérebros eletrônicos. Com a Revolução Digital, há,
portanto, uma maior tendência do governo em controlar informações de civis que o
inverso (BOBBIO, 2000, p. 28-31).
Toda essa conjuntura sobre espionagem, vigilância e vazamento de
informações sigilosas, problematizada pelos EUA, como um problema de segurança
42 Depois do 11 de setembro, vários países criaram leis anti terroristas, a exemplo do Reino Unido, Austrália, Canadá, França, Alemanha e Japão (WHITAKER, 2007, p. 1018). 43 Máfias e serviços secretos incontroláveis.
27
internacional, envolvendo o WikiLeaks e Edward Snowden, foi cenário para o impasse
relativo à quebra de imunidade diplomática de Evo Morales, diante das especulações
sobre a possível fuga de Snowden para a Bolívia, no começo de julho de 2013.
1.3 Informação: hegemonia versus contra-hegemonia
Essa conjuntura pode ser interpretada através do debate sobre hegemonia nas
Relações Internacionais. A Teoria da Hegemonia foi desenvolvida por Antonio
Gramsci. Gramsci não construiu seu pensamento a partir de uma base internacional. No
entanto, Cox (1993), à luz das concepções gramscianas, transplantou o conceito de
hegemonia para o cenário internacional, construindo a Teoria Crítica, que trouxe
releituras do marxismo para as Relações Internacionais.
Para a Teoria Crítica, as teorias são um produto social da realidade, a produção
do conhecimento não é livre de interesses, constatando a incapacidade da formulação de
uma teoria de caráter totalmente imparcial e isenta (NOGUEIRA; MESSARI, 2005, p.
132-161). Os conceitos políticos são resultantes de atribuições históricas, referenciando
a Teoria Crítica, são desenvolvidos para alguém e para algum propósito (COX, 1996).
Dessa forma, toda produção teórica possui intencionalidades, para atender um
determinado objetivo. As teorias então são classificadas entre as que se pretendem
universais e aquelas que reconhecem o seu caráter parcial. Cox (1996) classifica as
primeira de teorias de solução de problemas (TSP) e as segundas de teoria crítica
(NOGUEIRA; MESSARI, 2005, p. 139-140).
Diante dessa perspectiva, Lima (2010) argumenta que as teorias positivistas
das Relações Internacionais são tidas como TSP, servindo como um meio para construir
soluções de problemas que possam ameaçar a manutenção do status quo do cenário
internacional, desenvolvidas a partir dos interesses das potências mundiais.
A Teoria Crítica não nega suas intencionalidades. Entretanto, diferente das
TSP: “sua forma de operar é totalmente diversa, pois trabalha em uma perspectiva que
transcende a ordem existente” (LIMA, 2010, p. 369), buscando alternativas ao status
quo e trabalhando para promover mudanças na realidade.
A Teoria Crítica enxerga o sistema internacional de Estados como um meio de
opressão, de exclusão e de conflito. Diferentemente da Escola de Frankfurt e do
Marxismo, busca perceber a interação estratégica dos Estados e a influência da
28
economia para compreender os níveis de dominação sistêmicos. Dessa forma, postula
que o Estado não é o único ator das relações internacionais.
O princípio de centralidade do Estado, das TSP, faz alusão à precedência do
Estado em detrimento das minorias sociais nos processos de discussão política. É
importante perceber que há uma relação da estrutura histórica com os preceitos
interativos do complexo de Estados, do Estado e da sociedade para a criação de uma
ordem mundial.
As instituições internacionais, em sua maioria, normatizam as condições
materiais que influenciam o comportamento dos atores, já que hegemonia exige
legitimidade e certo grau de institucionalismo. O FMI e o Banco Mundial são exemplos
de veículos dos termos financeiros de assistência aos países em desenvolvimento.
Através da aplicação de normas sistêmicas, buscam a manutenção da ordem
hegemônica.
A mudança da ordem hegemônica por meio de uma contra-hegemonia
pressupõe uma tríade transformação social, política e econômica, inserida em todos os
Estados, por meio de uma base sociopolítica de normas, instituições, regras e
mecanismos que influenciam o comportamento dos Estados, criando novos blocos
históricos. Assim, o bloco histórico torna-se uma concepção básica para a análise das
relações entre os Estados. As relações, ao longo da história, irão influenciar na mudança
da estrutura do sistema internacional e, consequentemente, nas teorias formuladas a
partir dessas mudanças.
Para Cox (1993), as estruturas são sujeitas à mudança. Ele, contudo, rejeita o
materialismo vulgar das versões ortodoxas do marxismo que associam o movimento
histórico ao movimento das forças produtivas, por acreditar que a perspectiva analítica é
mais ampla e envolve questões políticas, não apenas produtivas. Ao perceber que a
política é uma premissa ampla e não pertence apenas ao âmbito estatal, essa teoria
questiona o comportamento do Estado enquanto promotor e fortalecedor de exclusões,
propondo um universalismo que inclua o máximo de pessoas possível a uma perspectiva
ética e moral, baseada na razão.
Diante dessa lógica, Cox (1993) sugere, em sua concepção teórica, que esse
grau de exclusão deve ser extinto por meio da representatividade de grupos excluídos.
Concatenado com as premissas da Teoria Crítica, a mudança do status quo dos EUA só
seria possível com a transformação da consciência a respeito das relações de poder e
com a participação efetiva da sociedade, feita na escala social, de baixo para cima. Em
29
outras palavras, a sociedade possui papel funcional na transformação do processo
revolucionário. Essa possibilidade de transformação pode ser identificada tanto com a
desobediência civil de Julian Assange e Edward Snowden, como na reação dos chefes
de Estado da América Latina, via Twitter, como forma de diminuir o déficit de
representatividade e de aumentar a autonomia da região no cenário internacional.
O próximo capítulo aborda a relação entre Mídia e América Latina, desde os
meios de comunicação de massa, passando pelas dinâmicas das novas mídias,
expressões de funções pós-massivas. Também é feita uma apresentação sobre o Twitter
e o seu uso como ferramenta política por chefes de Estado da região.
30
2 MÍDIA E AMÉRICA LATINA: O TWITTER COMO FERRAMENTA
POLÍTICA
Diante da reação dos presidentes da Argentina, Equador e Venezuela, através
do Twitter, para expressar repúdio ao impasse aéreo europeu ao avião presidencial de
Evo Morales, em julho de 2013, torna-se essencial a reflexão sobre as expressões da
mídia na América Latina, tema amplo e complexo, por isso não há intenção de esgotar a
discussão, mas de incitá-la.
Dessa forma, este capítulo tem como objetivo principal conceder uma visão
panorâmica sobre como os meios de comunicação de massa tradicionais absorveram os
aspectos da globalização, hegemônica e homogeneizante, em contraponto à forma como
os meios de comunicação pós-massivos podem fornecer alternativas de comunicação,
através de um canal que permita a expressão do ponto de vista regional, em um caráter
anti-hegemônico, neste trabalho representado pelo Twitter.
Esse breve panorama auxiliará na compreensão de dois aspectos importantes: a
resistência dos países da América Latina frente às potências, na busca de maior
autonomia política, através da expressão de seu ponto de vista, reduzindo o déficit de
representatividade e de expressão comunicacional; e o uso do Twitter como meio de
expressão alternativo aos meios de comunicação de massa tradicionais, dominados por
interesses dos conglomerados e do capital internacional.
2.1 Mídia e América Latina
A América Latina viveu na segunda metade do século XX momentos históricos
de repressão à liberdade de expressão, através do controle da informação e da censura
das ditaduras, em uma confluência entre as elites locais e as ideologias dos países de
centro44. Com o processo de redemocratização política, a partir da década de 1980,
houve uma maior pressão pública para a democratização dos meios de comunicação.
Dessa forma, a região passou, de maneira geral, por um processo de transformação,
através da criação de marcos regulatório e de órgãos de fiscalização, com o objetivo de
garantir o pleno exercício do direito civil de liberdade de expressão (MATOS, p. 2013,
p. 29-59).
44 Referência à Teoria da Dependência, que classifica os países em: centro, semiperiferia e periferia.
31
Com a intensificação da globalização, no pós-Guerra Fria, o panorama
midiático da América Latina se alterou. A década de 1990 foi marcada pela introdução
de novas TIC, pelo aumento das companhias estrangeiras e pela expansão de serviços de
televisão a cabo. Esses novos modelos tiveram forte influência do estilo comercial e
diversional dos meios de comunicação dos Estados Unidos. Essa implementação tem
forte relação com os movimentos políticos e econômicos do neoliberalismo, o que
minou aspectos nacionalistas nos países da região, em favor da globalização.
A globalização não é um fenômeno recente, mas se transformou em tópico de
debate proeminente no final do século XX, ao construir um conflito entre o
internacionalismo e o nacionalismo45. Globalização é um conceito amplo e complexo,
cuja definição não atinge uma unanimidade entre autores. Porém, ganhou força como
expressão do capitalismo neoliberal, que fomenta uma complexa rede de
transnacionalização das relações econômicas, sociais, políticas e culturais. Essa
recriação de espaços, do ponto de vista do capitalismo neoliberal, corrobora para um
embate que vai de encontro às manifestações locais e regionais (SIMONETTI, 2010, p.
221- 232).
É sob a égide dessa perspectiva que será abordado o conflito entre o
internacionalismo, hegemônico, e o localismo, anti-hegemônico, referenciando o
pensamento político do capitalismo neoliberal e o pensamento político latino-americano
pós-neoliberal, respectivamente.
Com a ampliação da globalização, as empresas passaram a aderir à tendência
de migrar da perspectiva multinacional para metanacional. Ser multinacional é construir
uma rede empresarial eficiente de produção e de distribuição de produtos com o
objetivo de atingir determinados mercado. Porém, há uma modificação nessa
perspectiva, especialmente depois da década de 1990, no sentido de valorizar a
mobilidade de inteligência e de tecnologia. Além da redução de custos, não há limitação
geográfica. Ou seja, as empresas têm buscado uma vantagem metanacional que
referencia a capacidade de conectar conhecimentos dispersos no mundo, explorando
mercados internacionais, com a ajuda da alta mobilidade das informações, sem vínculos 45 O contraste entre internacionalismo e nacionalismo é percebido inclusive no ponto de vista do movimento socialista marxista, caracterizando o seu perfil internacionalista como um avanço com relação ao processo de globalização. O movimento socialista marxista se pautou na luta contra o capitalismo em todas as partes, dessa forma, adquiriu um perfil internacional, a partir das Internacionais. Ao pregar a união da classe trabalhadora, independentemente de sua nacionalidade, o movimento foi acusado de querer abolir a pátria e a nacionalidade. Contudo, durante o século XX, o internacionalismo entrou em choque com o nacionalismo, por causa da Revolução Russa de 1917, do fascismo da Segunda Guerra, das lutas pela independência colonial na Ásia e na África e das ditaduras na América Latina (PINTO, 2010).
32
geográficos e com custos cada vez menores. Querem maximizar o alcance e o poder das
empresas para além da mão-de-obra e da matéria prima barata, objetivos típicos das
multinacionais. Dessa forma, o objetivo principal é transformar o conhecimento
disperso em mercadoria de tal forma que seja consumido por clientes globais. É nesse
contexto que as corporações operam, buscando novas tecnologias para permitir que
mercadorias e serviços tenham alcance global. Um fator preocupante acerca dessa nova
conjuntura, apontada por Dupas (2005), refere-se ao setor comunicacional. Para o
capitalismo, a mídia impressa e eletrônica é vital para atingir um controle ideológico.
Portanto, a tendência à radical privatização de setores da informação, gerando uma
concentração de atores desse setor, através dos monopólios, pode representar uma
ameaça à democracia, pois o controle do que é público nas mãos de grupos seletos
compromete a formação da pluralidade de opinião, essencial para os regimes
democráticos. (DUPAS, 2005, p.99 e 101)
Segundo Matos (2013), a globalização da mídia imprime um aspecto negativo
na produção de desigualdades na América Latina, gerando, em certo aspecto, um
comportamento de autoritarismo por minar a perspectiva participativa da democracia.
Esse movimento de liberalização de mercados do neoliberalismo facilitou a criação e o
fortalecimento dos conglomerados, em uma confluência entre o capital financeiro
internacional e às elites locais. Os principais conglomerados da América Latina são:
Grupo Clarín e Telefônica, na Argentina; Grupo Santo Domingo e Grupo Ardilla, na
Colômbia; Grupo Cisneros e Grupo Philips, na Venezuela; o Grupo Televisa, no
México; Organizações Globo, no Brasil, etc.
Durante a década de 1990, o governo de Carlos Menem, na Argentina,
considerado por Zakaria (1997) como uma democracia iliberal46, permitiu concessões
da televisão à propriedade privada, ampliando o alcance da TV a cabo no país. Outros
países também tiveram dificuldades em aplicar o caráter público à mídia, a exemplo de
Peru, Chile, Venezuela e México.
Essa concentração midiática se relaciona intimamente com o contexto da
economia política internacional da época. Na década de 1990, o capitalismo neoliberal
estadunidense apontava sinais de vigor, o que gerou concentração de renda. Os efeitos
da internacionalização desse modelo econômico produziram assimetrias em várias
partes do mundo. A renda da classe média, que era estagnada na década de 1970 e 1980,
46 Iliberal em função ao desrespeito à constitucionalidade liberal.
33
caiu durante a década de 1990, ao passo que as famílias ricas aumentaram a renda média
anual, ampliando as desigualdades socioeconômicas.47 (CASTELLS, 1999, p. 156-164).
Nye (2009) argumenta que não existe uma relação automática entre a
desigualdade e a reação política, porém sugere que as assimetrias corroboram para a
emergência de lideranças políticas contrárias a essa conjuntura globalizante desigual.
Esses protestos são uma reação às mudanças produzidas pela interdependência, que
nesse contexto, reproduzem as lutas de poder (NYE, 2009, p.250). A globalização
produz uma estrutura excludente, que impede a participação política de atores no
sistema internacional em assuntos que lhes dizem respeito. Para romper com a exclusão,
é preciso promover a inclusão, a partir da participação política ativa, que proporcione
condições de plena liberdade de expressão e de atuação.
Com a emergência de governos progressistas, no começo do século XXI,
temática que será melhor explorada no capítulo 3, as políticas públicas no tocante à
regulamentação e à fiscalização dos meios de comunicação de massa passaram a ser
mais debatidas. Essa nova postura, em busca da democratização da mídia, tem sido
adotada por Brasil, Argentina, Bolívia, Equador e Chile, em especial através da
concepção de que a mídia possui um papel de desenvolvimento social e econômico
(MORAES, 2009, apud MATOS, 2013, p. 76). Segundo Young (2000, apud MATOS,
2013, p. 308-309), houve uma maior percepção acerca das relações neocoloniais, o que
impulsionou a adoção de medidas mais inclusivas de comunicação política, visando a
uma autonomia regional e local, para reverter a exclusão causada pelos meios de
comunicação de massa, influenciados pelo neoliberalismo, com um padrão normativo
anglo-americano.
A globalização e a TIC, de maneira paradoxal, passou a oferecer novos
mecanismos de comunicação e de produção de conteúdo. Essa nova conjuntura
possibilita a criação de diversos canais de desenvolvimento, com tendências tanto
progressistas quanto conservadores, através das novas mídias.
2.2 Novas Mídias
A Internet é para a Era da Informação o que a eletricidade foi para a Era
Industrial. No âmbito da comunicação social, a difusão da máquina de impressão foi
47 A desigualdade aumentou com o coeficiente de Gini, de 0,399, em 1967 para 0,450, em 1995 (CASTELLS, 1999, p. 156-164).
34
nomeada por Marshall McLuhan de “galáxia de Gutenberg”. Em analogia, Castells
(2003) define que agora vivemos na “galáxia da Internet”. O surgimento da Internet
tem íntima relação com as dinâmicas internacionais de guerra e de paz. Criada durante a
Guerra Fria, por incentivo do Departamento de Defesa dos EUA, a Internet passou a ser
a base tecnológica para organizar a Era da informação, através das redes (CASTELLS,
2003, p.7).
A aurora da Internet é datada em 1969, quando a Agência de Projetos de
Pesquisa Avançada de Defesa (em inglês, Advanced Reserch Poject Agency, Arpa) dos
EUA montou uma rede de computadores, denominada de Arpanet. A Arpa foi fundada,
em 1958, pelo Departamento de Defesa dos EUA. O objetivo era mobilizar recursos de
pesquisas universitárias, para atingir superioridade tecnológica militar em relação à
URSS, em um contexto de lançamento do primeiro Sputnik, em 1957 (CASTELLS,
2003, p.13-18).
O Escritório de Técnicas de Processamento de Informação (em inglês,
Information Processing Techniques Office, IPTO) (1962-1986), subordinado à Arpa,
inovou a informática, ao construir uma computação interativa. A agência utilizou uma
tecnologia revolucionária, na transmissão de informações, descentralizadas e flexíveis,
de tal forma que fosse capaz de sobreviver a um ataque nuclear. Os primeiros nós em
rede foram construídos em 1969, no âmbito acadêmico, entre universidades. Em 1971,
havia 15 nós de rede, em sua maioria, localizados nos centros de pesquisa. O aumento
dessas redes provocou o surgimento de uma rede de redes. Em 1975, a Arpanet foi
transferida da administração do Departamento de Defesa estadunidense para Agência de
Comunicação da Defesa (em inglês, Defence Communication Agency, DCA) com o
objetivo de criar conexão comunicacional entre as forças armadas estadunidenses. Essas
conexões passaram a ser operadas com o protocolo TCP/IP, mesmo padrão que a
Internet utiliza nos dias atuais. A Arpanet mudou de nome para Arpa-Internet e passou
a se dedicar à pesquisa. Em 1984, a Fundação Nacional de Ciência (em inglês, National
Science Foundation) passou a utilizar a Arpa-Internet como sua estrutura física de rede
(CASTELLS, 2003, p.13-15). Com o caráter descentralizado e flexível, a Internet, com
protocolos abertos, passou a ser desenvolvida por diversas formatações de redes de
computadores. Ou seja, os usuários poderiam aperfeiçoá-la (CASTELLS, 2003, p.13-
18).
A Internet teve seu primeiro ano de uso comercial em 1995 e contou com 16
milhões de usuários. No início de 2001, já eram mais de 400 milhões. (CASTELLS,
35
2003, p.8). Segundo o relatório anual da União Internacional de Telecomunicações
(UIT), denominado “Medindo a Sociedade de Informação 201348”, estima-se que já
existem 2,7 bilhões de usuários conectados à Internet, o que representa 40% da
população mundial. Esse rápido aumento foi atribuído à adesão da banda larga móvel,
que é o segmento que mais cresce do mercado mundial da TIC. Em 2013, a estimativa
era de alcançar 6,8 bilhões de assinaturas para telefones celulares com banda larga
móvel, número que representa quase a totalidade da população mundial.
Figura 2: Tendências da TIC.
Fonte: http://www.itu.int/en/ITU-
D/Statistics/Documents/publications/mis2013/MIS2013_infographics_1.pdf
A sociedade transformou a tecnologia de tal forma que ela também se torna
capaz de transformar a sociedade. A Internet modificou a maneira como a sociedade se
comunica. Seu caráter descentralizado permite a cooperação de usuários para o
desenvolvimento da rede. Portanto, o princípio participativo é seu elemento fundante.
Essa interação entre os usuários criou o que Lévy (1999, p.27) denomina de
comunidade virtual, um grupo de pessoas que interagem mutuamente por computadores
interconectados (CASTELLS, 2003, p. 9).
Muitas mudanças ocorreram desde a criação da Arpanet, na década de 1960,
até difusão da world wide web (WWW)49, na década de 1990. Ao longo dos anos
48 ITU. 2013. 49 A expressão em inglês significa, de maneira literal, teia mundial. De acordo com Pierre Lévy (2000, p. 27), a WWW é “uma função da Internet que junta, em um único e imenso hipertexto ou hiperdocumento (compreendendo imagens e sons), todos os documentos e hipertextos que a alimentam”.
36
subsequentes, o universo cibernético atravessou diversas transformações. A primeira
versão da web é denominada de Web 1.0. Seu conteúdo não permitia alterações por
parte de quem não nominada os códigos-fonte, era unidirecional, transformando o
usuário em apenas leitor/espectador, não o conduzia à produção coletiva de conteúdo. Já
a segunda geração é denominada de Web 2.0. Passaram a ser oferecidas novas
ferramentas que permitem a personalização de páginas, o que estimulou a criação e a
participação dos usuários, a partir da premissa de transformação e inserção de
informações e de conteúdos.
A computação social da Web 2.0 aporta uma modificação essencial no uso da web. Enquanto em sua primeira fase a web é predominantemente para leitura de informações, esta segunda fase cria possibilidades de escrita coletiva, de aprendizagem e de colaboração na e em rede. Exemplos estão em expansão hoje, como comprovam a popularidade de redes sociais como Facebook, Orkut, My Space, Multiply, os wikis, blogs e microblogs, os instrumentos de publicação coletiva de fotos, vídeos e música (como Flickr, YouTube, Bit Torrent), e a emergência de redes de “etiquetagem” do espaço urbano com mapas digitais (Google Earth, Maps) (LEMOS & LÉVY, 2010, p. 52-53).
A terceira fase, denominada de Web 3.0, é também conhecida como Web
semântica ou Web inteligente. É caracterizada pela intensificação da interação entre o
homem e a máquina, com o aperfeiçoamento da linguagem e dos mecanismos digitais.
Ganha a adjetivação de inteligente por organizar melhor as informações disponíveis na
web de maneira a relacioná-la com os interesses do usuário. A Web 2.0 conectou
pessoas e a Web 3.0 conectou informações.
O termo Web 3.0 surgiu em 2006 em um artigo de Jeffrey Zeldman. É um neologismo usado para descrever a evolução do uso e da interação na rede, através de caminhos diferentes; muitas vezes, é utilizada pelo mercado para promover melhorias com relação à Web 2.0. Ele inclui a transformação da rede em um banco de dados, em um movimento em direção ao conteúdo acessível por vários aplicativos não navegáveis, é o auge de tecnologias de inteligência artificial, chamada de Web Semântica, Web Geoespacial, 3D ou Web [Tradução livre] (FERNANDEZ NODARSE, 2013).
Cabe destacar que no processo evolutivo, há transição entre as fases, por isso
elas não são necessariamente excludentes. Essa organização é metodológica, porém é
preciso compreender que se trata de um processo difuso e dinâmico que foi estimulado
pelas tendências mercadológicas. As inovações de cada geração podem ser visualizadas
na imagem a seguir:
37
Figura 3: Evolução da Web.
Fonte: http://4b-2012-02.bligoo.com.br/evolu-o-da-web-do-1-0-ao-3-0-0
A web tem se transformado no sentido de ampliar a interação e a participação
dos usuários50, na construção do conhecimento on-line coletivo. As redes são mantidas
e alimentadas pelos usuários. Pierre Lévy (2007, p.28) define essa conjuntura, de
construção e distribuição do conhecimento em tempo real, em um movimento de
enriquecimento mútuo, através do conceito de inteligência coletiva.
Com tantos avanços, estimulados pelo aperfeiçoamento tecnológico, o
surgimento de novas mídias reconfigurou os espaços urbanos e dinamizou as noções de
mobilidade, transformando as cidades em unidades políticas cada vez mais complexas,
interconectadas em rede. Essa nova territorialidade é conceituada de ciberespaço.
“Ciberespaço é o novo meio de comunicação que surge da interconexão mundial de computadores. O termo especifica não apenas a infra-estrutura material da comunicação digital, mas também o universo oceânico de informações que ele abriga, assim como os seres humanos que navegam e alimentam esse universo” (LÉVY, 1999, p. 17).
50 Há ainda definições e conceituações sobre a Web 4.0 e Web 5.0, marcadas pela rede móvel e pela rede móvel sensorial.
38
De acordo com Lévy (LÉVY, 1999, p. 29), o crescimento do ciberespaço não
implica necessariamente no crescimento da inteligência coletiva, porém concede
subsídios para esse crescimento. Essa conjuntura pode alterar ainda mais os aspectos
tecno-sociais das interações, uma vez que tais processos comunicacionais, oriundos do
universo cibernético produzem cultura. A cibercultura é definida por Lévy (1999, p.17)
como “o conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de
modos de pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento
do ciberespaço”.
O ciberespaço é o suporte da inteligência coletiva, que atua como catalisador
tecno-social da cibercultura. As rápidas transformações que são provocadas pela
participação ativa dos usuários, alterando a cibercultura. Essas alterações podem gerar
exclusão daqueles que não conseguiram acompanhá-las. (LÉVY, 1999, p. 27-28).
Novo pharmakon51, a inteligência coletiva que favorece a cibercultura é ao mesmo tempo um veneno para aqueles que dela não participam (e ninguém pode participar completamente dela, de tão vasta e multiforme que é) e um remédio para aqueles que mergulham em seus turbilhões e conseguem controlar a própria deriva no meio de suas correntes (LÉVY, 1999, p. 30).
Essa nova condição, que permite ao usuário produzir e consumir conteúdo, em
um movimento dual, através dos processos interativos, é relacionada às novas mídias e
às suas funções pós-massivas. As funções pós-massivas, marcadas pelo uso de blogs,
podcasts, videocasts, redes sociais, softwares e smartphones, são caracterizadas pelo
relacionamento da sociedade com as mídias digitais. Essa conjuntura sugere a formação
de novos processos comunicacionais. Além de informar, essas mídias criam interações
bidimensionais, uma vez que não funcionam no âmbito da centralização, típica dos
meios de comunicação de massa. Não estão vinculadas a empresas de comunicação
tradicionais, não são concessões do Estado e não se limitam a um espaço geográfico. É
através do princípio de debate, conversação e interação que essas novas redes se
formam (LEMOS, 2007).
As mídias sociais vinculadas à Internet promovem mudanças significativas no
comportamento dos usuários, uma vez que ampliam a possibilidade de produção de
conteúdo e contribuem para uma maior interação entre o emissor e o receptor da
mensagem. Essa conjuntura pode ser identificada nos postulados de Castells (2009)
sobre desintermediação comunicacional e autocomunicação.
51 Em grego arcaico, pharmakon significa ao mesmo tempo veneno e remédio (LÉVY, 1999, p. 30).
39
Esse fenômeno é também estudado e definido por Jenkins (2009) como cultura
da convergência. A convergência não é apenas a transformação tecnológica, ela
modifica a interação dos consumidores com informação e com o entretenimento, a partir
de um processo de transformação na forma de produzir e de consumir. A convergência
também se torna possível quando as pessoas assumem o controle52 da mídia, tornando-
se protagonista, participante e agente, pois permite o uso do poder nas interações
diárias, gerando o que Jenkins (2009) denomina de cultura participativa, o que
contrasta com a antiga relação estática de emissor e de receptor que os meios de
comunicação de massa impunham aos leitores, ouvintes e telespectadores.
Por convergência, refiro-me ao fluxo de conteúdos através de múltiplas plataformas de mídia, à cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao comportamento migratório dos públicos dos meios de comunicação, que vão a qualquer parte em busca das experiências de entretenimento que desejam. Convergência é uma palavra que consegue definir transformações mercadológicas, culturais e sociais, dependendo de quem está falando e do que imaginam ter falado (JENKINS, 2009, p. 29).
As tecnologias reduzem o custo da comunicação e ampliam o raio de
distribuição do conteúdo. Podem se configurar em um movimento de baixo pra cima ou
de cima pra baixo, ou seja, através das formas alternativas de comunicação e das formas
tradicionais, ligadas às corporações. É o aspecto do domínio da mídia pelo usuário na
produção de conteúdo que será utilizado nesta análise, visto que os chefes de Estado dos
países latino-americanos, ao se sentiram atingidos pelo impasse diplomático,
envolvendo Evo Morales, atuaram por meio da autocomunicação, no sentido de exercer
plenamente o direito de livre expressão em uma comunicação direta com os seus
seguidores através do Twitter, o que garantiu direito de voz e de representatividade,
minando as possibilidades de distorção da cobertura dos meios de comunicação de
massa tradicionais.
Enquanto as mídias de massa, desde a tipografia até a televisão, funcionavam a partir de um centro emissor para uma multiplicidade receptora na periferia, os novos meios de comunicação social interativos funcionam de muitos para muitos em um espaço descentralizado. Em vez de ser enquadrado pelas mídias (jornais, revistas, emissões de rádio ou de televisão), a nova comunicação pública é polarizada por pessoas que fornecem, ao mesmo tempo, os conteúdos, a crítica, a filtragem e se organizam, elas mesmas, em redes de troca e de colaboração (LEMOS e LÉVY, 2010, p. 13).
As novas mídias podem produzir um efeito transformador nas estruturas
políticas materiais das democracias contemporâneas. Essa perspectiva abre o debate
52 De acordo com Jenkins (2009), Essa lógica cultural de controle na produção de conteúdo também pode gerar o cocooning52, conceito criado na década de 1990, para designar a tendência das pessoas que usam as novas tecnologias de se isolarem socialmente para conviver digitalmente.
40
sobre a participação da opinião pública internacional e sobre a redução do déficit
democrático. Essa conjuntura de transplante de debates políticos para plataformas
virtuais é denominada de ciberdemocracia53. No meio virtual, também se projetam
plataformas facilitadoras de fiscalização do Estado, garantindo maior transparência e
conscientização sobre a atuação das estruturas políticas.
A Internet é a base tecnológica da Era da Informação, cuja forma
organizacional é a rede. Para Castells (2003), rede é um conjunto de nós
interconectados. A formação de redes é uma prática antiga e remonta ao escopo social
da vida privada, marcada por hierarquias centralizadas. Essas redes, no entanto, ganham
novo formato com a Internet, pois organizam a vida virtual, de maneira flexível e
descentralizada, por isso adquirem uma natureza revolucionária. Permite a expressão
individual e a comunicação global, feita de maneira horizontal. Com as dinâmicas do
século XX, algumas estruturas se uniram em rede: a rede econômica, através da
globalização da produção e do comércio; as demandas sociais, através dos valores da
liberdade individual; e os avanços das telecomunicações. Dessa forma, a sociedade
ganhou uma nova forma, com o incentivo da Internet.
Essa interação entre os usuários através das novas mídias transporta as relações
sociais off-line para o âmbito digital on-line. De acordo com Recuero (2011), rede social
não é um conceito da Internet, mas apropriado por ela, em função de também se
expressarem no meio digital. São padrões de conexão social que são reconhecidos e
visualizados na Internet.
Uma rede social é definida como um conjunto de dois elementos: atores (pessoas, instituições ou grupos; nós de rede) e suas conexões (interações ou laços sociais). Uma rede é uma metáfora para observar os padrões de conexão de um grupo social, a partir das conexões estabelecidas entre os diversos atores. A abordagem de rede tem, seu foco na estrutura social, onde não é possível isolar os atores sociais nem suas conexões. (RECUERO, 2011, p.24)
Os atores são responsáveis por construir esses laços com outros atores, dentro
do sistema de conexão. No ciberespaço, esses atores podem ser weblogs, fotologs,
perfis de Twitter, Orkut, Facebook, etc. Esses atores constroem um eu, uma identidade e
uma narrativa que os identifica. É a partir do processo de individualização54 do ator,
que, por sua vez, se conecta com outro, que se torna possível construir uma rede de
interação (RECUERO, 2011, p. 25 -30). O segundo elemento das redes sociais, formado
53 Esse conceito também recebe nomenclaturas semelhantes, por exemplo: e-democracia, democracia eletrônica, netdemocracia, etc. 54 Por exemplo, através dos nicknames.
41
pelas conexões, é compreendido através da interação e das trocas sociais realizadas
pelos atores. A ação de um, em grande parte, gera a reação de outro ator, estabelecendo
um elo. Essa interação pode ser orientada através de conversas, comentários,
compartilhamentos, direcionamentos de hiperlinks etc. (RECUERO, 2011, p.30-40).
Recuero (2011) destaca dois tipos de laços, compreendidos por Wasserman e
Faust (1994, apud RECUERO, 2011, p. 40): os associativos e os dialógicos. Os
primeiros são construídos por laços, mediados pelos computadores, já os segundos são
relacionados a uma interação mútua.
Tabela 1: Tipos de laços.
Tipo de laço Tipo de interação Exemplo
Laço associativo Interação relativa Decidir ser amigo de alguém no Orkut,
trocar links com alguém no Fotolog, etc.
Laço dialógico Interação mútua Conversar com alguém através do MSN,
trocas recados no Orkut, etc.
Fonte: RECUERO, 2011, p.40.
Sites considerados tipicamente de redes sociais são estruturados através de um
sistema que deixa visível o caráter conectivo entre os atores. De acordo com Recuero
(2011, p. 104), alguns sites de redes sociais na Internet não eram originalmente voltados
pra mostrar laços sociais, mas os atores se apropriaram de sua estrutura com o objetivo
de deixar claro esse tipo de vínculo com outros atores. Não há um espaço apropriado
para a construção de um perfil, em sites como o Fotolog e o Twitter, mas os atores dão
novo sentido e constroem uma individualização. Portanto, o Twitter pode ser
considerado uma rede social, que, por definição, é capaz de difundir informações
através das conexões que foram estabelecidas.
2.3 Twitter
O Twitter55 é um microblog que foi criado em 2006, mas foi incorporado em
abril de 2007. A sede está localizada em São Francisco nos EUA, mas há vários
escritórios pelo mundo. Na América Latina, há dois escritórios, ambos localizados no
55 Significa piar, a palavra refere-se à onomatopeia, em inglês, do assobio de aves, por isso é representado por um pássaro azul.
42
Brasil, em São Paulo e no Rio de Janeiro. A empresa possui um total de 2.700
funcionários. O Twitter permite a troca de mensagens que recebem o nome de tweets.
São mensagens curtas de até 140 caracteres. Essa limitação de caracteres ampliou a
capacidade de síntese dos usuários na produção de conteúdo e deu novo significado a
noção de celeridade na publicação de informações. Tweets podem ser mais do que
palavras, uma vez que é possível adicionar fotos, links, vídeos, etc. As mensagens
publicadas por um usuário “A” podem ser compartilhadas na página de um usuário “B”,
através do retweets, desde que haja permissão do usuário “A” para tal atividade. Um
tweet publicado pelo usuário “A” também podem ser marcado como favorito por “B”,
sendo arquivado na lista pessoal de tweets favoritos de “B” (TWITTER, 2014a).
No Twitter, também existe uma lista de assuntos mais falados, denominada de
trending topics. Essa lista é catalogada, de modo geral, através das hashtags,
simbolicamente representadas pelo símbolo da cerquilha “#”, que, no Brasil, recebe o
nome popular de “jogo da velha”. Através das hashtags, é possível chamar a atenção
para um determinado tema. Ao publicar uma expressão posterior ao símbolo da
cerquilha, gera-se um hiperlink que ao ser acessado transporta o usuário para uma lista,
atualizada em tempo real, de publicações feitas pelos usuários do Twitter a respeito
desse mesmo tema, ou seja, torna-se possível visualizar o que outros usuários do Twitter
estão falando a respeito, criando uma coletânea de mensagens publicadas. Essa estrutura
permite que usuários, que não se conhecem, interajam, através das menções, que
identificam cada usuário, através do símbolo arroba @, adicionado de um nickname.
É possível que a interação entre usuários seja feita também através da
ferramenta de seguir, gerando um elo entre emissores e receptores das mensagens, como
o próprio Twitter sugere seguido e seguidor. É possível seguir usuários, recebendo o
conteúdo produzido por eles, e permitir que outros usuários o sigam, fazendo com que
esses seguidores recebam o conteúdo produzido por outrem. Dessa forma, a quantidade
e a qualidade das informações recebidas por cada usuário dependem primordialmente da
preferência pessoal, basta que o usuário siga contas apropriadas de produção de
conteúdo de seu interesse.
É possível receber, em tempo real, mensagens de usuários em todo mundo.
Esses usuários podem ser indivíduos comuns ou personalidades. Também podem ser
instituições, empresas de comunicação, organizações internacionais, etc. De acordo com
a descrição do próprio site, o Twitter suporta trinta e cinco idiomas e possui mais de 40
milhões de usuários. Em fevereiro de 2014, os fundadores contabilizaram 241 milhões
43
de usuários ativos, com o envio de 500 milhões de tweets por dia. É uma plataforma de
produção de conteúdo, visto que 76% de seus usuários ativos acessam o Twitter através
do celular e que 77% das contas são administradas fora dos EUA, o que demonstra o
uso global dessa ferramenta. De acordo com os fundadores, a missão do Twitter é “dar a
todos o poder de criar e compartilhar ideias e informações instantaneamente, sem
barreiras” (TWITTER, 2014a).
O Twitter surgiu como uma ferramenta para troca de mensagens entre taxistas.
Depois passou a ser uma espécie de diário que roteirizasse o cotidiano, em mensagens
de 140 caracteres. Porém, os usuários ampliaram essa proposição inicial, criando
verdadeiras redes de informação, em tempo real. O Twitter passou a funcionar através
da construção da inteligência coletiva, com auxílio mútuo na formação do
conhecimento.
Além do uso pessoal, o Twitter tem sido utilizado como ferramenta política.
Políticos usam Twitter para levar a sua mensagem para as massas, para um público
diretamente interessado, semanticamente representado por seguidores (TWITTER,
2014b).
O Twitter tem sido usado para fins políticos não somente pela sociedade civil,
mas por funcionários do governo, tanto do ponto de vista institucional quanto pessoal. A
possibilidade de publicar em tempo real concede subsídios para emitir opinião sobre
notícias de última hora, crises políticas ou quaisquer outros eventos que afetem
diretamente o governo ou seus integrantes. Antigamente, o público teria de esperar
muito tempo para ter acesso ao posicionamento oficial de seus representantes, porém
com essa ferramenta, os políticos são capazes de levar seus seguidores a bastidores de
eventos políticos importantes (TWITTER, 2014c).
Funcionários do governo e políticos podem explorar relações diplomáticas em
tempo real, produzindo conteúdo pros seguidores interessados. Esse posicionamento
permite ampliar o impacto sobre questões políticas em que estão envolvidos, indicando
diretamente e imediatamente ao seguidor qual a opinião sobre o debate em curso. Essa
possibilidade concede maior participação política dos líderes, permitindo mudanças
políticas (TWITTER, 2014d).
44
Figura 4: Número de usuários oficiais de política presidencial e institucional.
Fonte: http://twiplomacy.com/wp-content/uploads/2013/07/Top5_infographic_final.png
O Twitter tem sido utilizado, desde a sua criação, por diversas lideranças
políticas. Essa nova ferramenta permite um ambiente interacional que vem provocando
transformações, tanto individuais quanto coletivas. (ROSSINI; LEAL, 2012, p.98) De
acordo com Lemos (2010, p.161, apud ROSSINI; LEAL, 2012, p.98), a falta de
legitimidade dos meios de comunicação tradicionais faz com que esses novos
mecanismos ganhem credibilidade crescente, porque não são hierárquicos e permitem
que a mensagem original seja reproduzida em série por redes sociais. Essa forma de
publicação pode ser denominada de mass self comunication, em tradução livre, meio de
comunicação de massa pessoal. Essas são as denominadas funções pós-massivas, em
que se constatam mobilidades inéditas com novo formato interacional.
De acordo com Gomes (2004, apud ROSSINI; LEAL, 2012, p.100), as disputas
políticas buscam a construção de uma imagem pública através das indústrias de
informação, de tal forma que almejam o reconhecimento e a valorização. Em tempos
eleitorais, pode servir como canal informativo que contribua para a definição do voto do
eleitor. Os usuários decidem sobre as informações que vão consumir e podem
estabelecer interação. Dessa forma, o Twitter serve para aumentar e manter a
popularidade e a visibilidade de lideranças políticas.
45
O Twitter tem sido atualmente utilizado como ferramenta política de diversas
lideranças, seja no âmbito doméstico ou internacional. Segundo o site twitplomacy56,
mais de três quartos, 77,7%, dos 192 países integrantes da Organização das Nações
Unidas (ONU) possuem Twitter, seja de perfis pessoais dos chefes de Estado ou de
instituições representativas da política externa. As redes sociais são um espaço virtual
de convívio. O Twitter tem sido instrumento de aproximação entre lideranças políticas e
a sociedade doméstica e internacional, através de um canal que permite a interação.
A celeuma entre hegemonia e contra hegemonia é transplantada para o âmbito
virtual, visto que as maiores influências políticas dessa ferramenta são representações
hegemônicas57. Em 2013, o site twitplomacy elegeu o presidente estadunidense Barack
Obama e o papa Francisco58 como as personalidades mais influentes da rede, ilustrando
a assimetria de poder já mencionada. A corrida presidencial estadunidense de 2008 foi
um marco para essa conjuntura. Barack Obama se debruçou sobre essa rede social
digital para conquistar eleitores. Desde então, como reflexo, o Twitter se consolidou
como instrumento político de candidatos, de governantes, de ativistas e de setores da
sociedade civil.
Figura 5: Líderes mundiais mais seguidos no Twitter.
Fonte:http://twiplomacy.com/wp-content/uploads/2013/07/Top5_infographic_final.png
56 Twitplomacy é um site organizado pela empresa de relaciones públicas Burson-Marsteller. Disponível em: <http://twiplomacy.com/> 57 Ver Anexo 1. 58 O Twitter do presidente Barack Obama - @BarackObama - é o líder mundial, com mais de 41 milhões de seguidores. O Twitter do papa Francisco - @Pontifex - administra nove contas diferentes, em idiomas diferentes, é o perfil que ocupa a segunda posição com maior número de seguidores, atingindo a marca de 7 milhões.
46
A Internet transplanta para o meio virtual a sociedade internacional. As
relações de poder são igualmente representadas na rede. Apesar de tal assimetria, as
funções pós-massivas permitem a democratização das representações políticas, pois a
produção de conteúdo é descentralizada, dessa forma, há uma maior participação da
sociedade civil nos debates das agendas internacionais. Essas novas articulações não
necessariamente implicam na apropriação da esfera civil ao âmbito público de tomada
de decisão59, mas ampliam a democracia, a partir de uma perspectiva não apenas
representativa, mas participativa. No plano internacional de representações políticas,
essas redes possibilitam a projeção comunicacional de atores marginalizados pelas
estruturas hegemônicas.
Essa proposta de democratizar a informação, tanto de ponto de vista do
receptor, quanto do emissor, não se limitando aos meios de comunicação de massa
tradicionais, é denominada de ciberdemocracia. Concatenado com essa perspectiva, é
possível conceber a construção de espaços em que temáticas mitigadas pelos meios de
comunicação de massa tradicionais, reflexos de construções hegemônicas, ganham
novas dimensões e perspectivas interativas. O maior acesso às informações
governamentais e a ampliação da interação entre o Estado e a sociedade civil através de
novas mídias representam um avanço democrático, principalmente para os Estados
historicamente considerados periféricos.
Essa conjuntura auxilia na articulação de organizações de poder anti-
hegemônicas e corrobora para a construção de novos processos políticos. A
internacionalização da informação de maneira horizontal, descentralizada e democrática
possibilita a projeção de vozes outrora silenciadas. Forças políticas anti-hegemônicas
ganham maior representatividade e interatividade.
A possibilidade de comunicação em escala global e em tempo real de
expressões de oposição, de organizações ativistas e de posições de fala, negligenciadas
pelos meios de comunicação tradicionais, representa um processo migratório da
democracia representativa para a democracia participativa, nos níveis doméstico e
internacional. A ciberdemocracia preserva o espaço público, a partir da
internacionalização da democracia no âmbito digital. A Internet, de certa maneira,
contribui para reduzir o déficit democrático do sistema internacional, no nível de
representatividade estatal.
59 Ver democracia plug and play em José de Ribamar Lima da Fonseca Júnior (2009).
47
Concatenado com esse pensamento, no começo do século XX, na América
Latina, emergiram governos de esquerda, que modificaram aspectos relevantes de suas
políticas externas. A agenda política passou a ser pautada pelos os reais interesses dos
Estados. Ao adotarem perspectivas do regionalismo pós-liberal, a partir de uma
articulação política que exclui a presença estadunidense em foros sub-regionais60 de
debate, a região passou a ser considerada politicamente como uma força anti-
hegemônica e anti-imperialista no sistema internacional.
Na rede social Twitter, os chefes de Estado da América Latina também são
populares. De acordo com o twitplomacy, todos os países da América do Sul possuem
representação institucional no Twitter, exceto Suriname. A maioria dos presidentes
possui contas pessoais e frequentemente se comunicam uns com os outros.
Hugo Chávez (@chavezcandanga), ex-presidente da Venezuela, era o mais
popular na rede, com 4,5 milhões de seguidores. Sua última postagem foi em 18 de
fevereiro de 2013. Depois da morte de Chávez, Nicolas Maduro assumiu a presidência.
O perfil do atual presidente venezuelano (@NicolasMaduro) no Twitter possui 1,83
milhões de seguidores. A presidente do Brasil, Dilma Rousseff (@dilmabr), apesar de
ter mais de 2,9 milhões de seguidores, parou de usar a rede. Desde 13 de dezembro de
2010, período em que foi eleita, não mais fez publicações. Sua conta ficou inativa até o
dia 27 de setembro de 2013, quando voltou a usar o Twitter, porém esse período é
posterior ao embargo aéreo a Evo Morales, sendo esse o motivo pelo qual seu perfil não
foi objeto de análise. Rafael Correa (@MashiRafael), presidente do Equador, é um dos
mais influentes líderes latino-americanos na rede, com 1,4 milhões de seguidores e com
83% de seus tweets sendo repostados por outros usuários. Com a morte de Chávez, a
presidente argentina Cristina Fernández de Kirchner (@CFKArgentina) tornou-se a
líder atuante mais popular da América Latina na rede, com mais de 2,9 milhões de
seguidores61.
60 Exemplos de foros sub-regionais pautados no regionalismo pós-liberal: ALBA e UNASUL 61 Todos esses dados foram coletados e constantemente observados desde o início da pesquisa. A última verificação foi feita no dia 6 de março de 2014.
48
Tabela 2: Perfil dos presidentes latino americanos mais influentes no Twitter.
PAÍS Presidente Nick Seguindo Seguidores
Argentina Cristina Kirchner @CFKArgentina 57 2,6 milhões
Brasil Dilma Rousseff @dilmabr 336 2,9 milhões
Equador Rafael Correa @MashiRafael 5 1,4 milhões
Venezuela
Nicolas Maduro @NicolasMaduro 51 1,83 milhões
Hugo Chávez @chavezcandanga 22 4,51 milhões
Fonte: Verificação feita pela autora.
Os presidentes de Argentina, Brasil, Equador e Venezuela possuem uma
grande quantidade de seguidores, ao passo que seguem poucos usuários. Esse quadro
demonstra que eles utilizam a rede como um canal de saída de informações, não de
recebimento de conteúdo. Dessa forma, são tipificados como perfis de outputs ao invés
de inputs, em uma característica unilateral, que dialoga com as funções massivas,
desalinhada da proposta de interação mútua e pós-massiva do Twitter. Rafael Correa,
presidente do Equador, segue apenas cinco usuários da rede: a conta oficial do seu
partido político, Aliança País (@35pais); o presidente da Colômbia, Manuel Santos
(@JuanManSantos); a presidente da Argentina, Cristina Kirchner (@CFKArgentina);
Nicolas Maduro (@NicolasMaduro); e Hugo Chaves (@chavezcandanga) (ROSSINI;
LEAL, 2012, p. 107).
O Twitter faz parte de um rol de novos dispositivos que estão alterando a
maneira como os usuários se relacionam com o conteúdo de Política Internacional.
Segundo Castells (2009), a própria estrutura de poder pode ser modificada por essas
ferramentas, uma vez que a autocomunicação produz maior legitimidade e corrobora
para uma crise dos mecanismos tradicionais de intermediação nos processos
comunicacionais.
O próximo capítulo explora o incidente diplomático causado pelo o
impedimento de sobrevoo sofrido pelo avião presidencial boliviano, em julho de 2013.
Para compreender o contexto político da América Latina, é levada em consideração a
emergência de governos na América Latina e à propensão ao regionalismo pós-
neoliberal, através da Unasul, primeira instituição regional a ser ativada, fato que foi
abordado por Cristina Kirchner, em seu Twitter.
49
3 O BLOQUEIO DO ESPAÇO AÉREO EUROPEU AO AVIÃO DE EVO
MORALES
Denunciamos à comunidade internacional e aos diversos organismos multilaterais o agravo sofrido pelo presidente Evo Morales, que ofende não apenas ao povo boliviano,
mas a todas as nossas nações. (UNASUL, Declaração de Cochabamba, 2013).
Neste capítulo, será abordado o caso do embargo ao plano de voo de Evo
Morales em julho de 2013, a pedido dos EUA, com o objetivo de impedir que o
presidente boliviano levasse à América Latina o delator da espionagem estadunidense,
Edward Snowden. Diante da especulação de Evo Morales estava transportando o ex-
agente da CIA de maneira ilegal, Espanha, França, Itália e Portugal bloquearam seus
espaços aéreos, depois que Evo Morales já havia decolado. Esse impedimento causou
constrangimento a um chefe de Estado democraticamente eleito, além de trazer à tona as
premissas neocoloniais, diante do comportamento inamistoso dos países europeus.
O corpo diplomático de um Estado possui imunidade e essa perspectiva é
resguardada pela Convenção de Viena Sobre Relações Diplomáticas, de 1965, e pela
Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, de 1969. Os chefes de Estado
representam, por analogia, a liderança do corpo diplomático, portanto esse incidente se
enquadra na violação dessa norma de Direito Internacional.
Para compreender a reação dos países da América do Sul, em especial dos
integrantes da Unasul, é preciso levar em consideração a emergência de governos
progressistas e o redimensionamento da postura política externa através do regionalismo
pós-neoliberal. Portanto, é feito, neste capítulo um panorama sobre o contexto latino
americano, envolto entre o global e o regional, enfatizando a emergência de governos
progressistas, que buscam fortalecer o âmbito regional através de alternativas políticas,
o que inclui os processos de integração regional, através da Unasul. Por isso, cabe
refletir sobre a globalização e seus impactos na sociedade. Os arranjos globalizantes62
produzem desigualdades e projetam-se paralelamente às forças políticas locais. A
globalização articula as redes de interdependência, de maneira tal que convirja à
homogeneização. Em reação, os grupos políticos locais sentem-se ameaçados e
62 O modelo de inserção internacional da periferia foi pautado na globalização, como premissa da prioridade do espaço global sobre o regional. Esse contexto globalizante limitou a consecução do projeto cepalino de integração regional para a América Latina.
50
articulam-se defensivamente, na busca do fortalecimento, frente aos grupos dominantes.
Dessa forma, no final do século XX, ressurge um nacionalismo e outras formas de
particularismo como uma força anti-hegemônica (HALL, 2006, p. 80-97).
3.1 Emergência de governos progressistas e regionalismo pós-neoliberal
No início do século XXI, na América Latina, um novo quadro político
começou a ser construído a partir da emergência de governos progressistas. A
deterioração social e econômica, causada pela adesão acrítica da América Latina às
políticas neoliberais, contribuiu para que novas lideranças assumissem o compromisso
de promover alternativas que permitissem reparar os danos causados pelas políticas
globalizantes de privatização e de liberalização dos mercados. Em outras palavras, essas
lideranças populares ou neopopulistas se comprometeram a reduzir a pobreza e a
exclusão, a partir da valorização do local, em detrimento do global (DUPAS;
OLIVEIRA, 2008, p. 235-236). Cabe, portanto, recuperar o caminho que proporcionou
essa revisão crítica dos países latino-americanos.
O neoliberalismo63 nasceu depois da Segunda Guerra Mundial, na Europa e nos
EUA, em reação ao Estado intervencionista e de bem-estar. O objetivo era romper com
o poder dos sindicatos e diminuir gastos sociais. Em 1979, com o governo britânico de
Thatcher, houve um real empenho em colocar em prática o programa neoliberal, que
rapidamente disseminou-se pelo norte da Europa ocidental. O neoliberalismo
econômico tornou-se uma tendência no final da década de 1980 e no início da década de
1990, principalmente pelo movimento de privatizações de empresas estatais, porém
passou a alcançar não apenas aspectos econômicos, mas ideológicos e político.
Desenvolvido em um processo de universalização, configurou-se como uma tentativa de
reafirmação hegemônica dos EUA, após a Guerra Fria, procurando manter a América
Latina dentro da zona de influência dos EUA, mesmo que essa relação não implicasse
no interesse regional (ALTEMANI, 2005, p. 8-9). Na América Latina, o Chile foi o
primeiro a adotar o ciclo neoliberal, com a ditadura de Pinochet. A região passou a
adotá-lo paulatinamente, com presidência de Carlos Salinas, em 1988, no México; de
63 Na década de 1990, o capitalismo neoliberal estadunidense apontava sinais de vigor. Porém, os efeitos da internacionalização desse modelo econômico produziram a redução de renda em várias partes do mundo. A renda da classe média era estagnada na década de 1970 e 1980, mas caiu durante a década de 1990. Esses efeitos manifestaram-se de maneira distinta nas classes alta, média e baixa. As famílias ricas aumentaram a renda média anual, ao passo que a renda média das classes menos favorecidas foi reduzida63 (CASTELLS, 1999, p. 156-164).
51
Carlos Menem64, em 1989, na Argentina; de Carlos Andrés Perez, em 1989, na
Venezuela; e de Alberto Fujimori, em 1990, no Peru. México, Argentina e Peru
apresentaram êxito inicial, ao passo que a Venezuela65 fracassou mais rapidamente
(ANDERSON, 1995, p. 9-23).
O processo de integração latino-americano foi impulsionado, no começo dos
anos 1980, pela inserção econômica internacional, através do neoliberalismo. Esse
paradigma, denominado de regionalismo aberto, foi caracterizado pela liberalização
multilateral de mercados66 intra-regionais e inter-regionais.
Complementar ao Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT)67, à
Organização Mundial de Comércio (OMC) e ao Consenso de Washington, o
regionalismo neoliberal tinha como principal promessa o desenvolvimento da América
Latina. Contudo, com as crises econômicas na região, a crença nesse modelo diminuiu.
Caracterizado como um projeto estadunidense, o regionalismo aberto culminou na
ampliação da dependência econômica dos países latino-americanos. A abertura dos
mercados, proposta pelo Mercosul, pela Comunidade Andina (CAN) e pelo projeto68 da
Área de Livre Comércio das Américas (Alca), 69gerou crises econômicas e maiores
assimetrias sociais, o que fez com que esse ciclo de regionalismo fosse criticado
(HERZ, 2004, p.175).
Em função de um passado colonialista de exploração, o pensamento social e
político latino-americano esteve engendrado no questionamento sobre dependência
externa e distribuição desigual de riquezas. A implementação do modelo neoliberal na
América Latina ampliou as desigualdades sociais internas70. Entre 1987 e 1998, a
porcentagem da população que sobrevivia com menos de 1 dólar por dia aumentou de
64 O governo de Carlos Menem, na Argentina, é considerado por Zakaria (1997) como uma democracia iliberal 65 Único país da região a escapar das ditaduras militares e de regimes oligárquicos desde os anos 1950. 66 Tipos de integração econômica: área de livre comércio; união aduaneira; mercado comum e união monetária (HERZ, 2004, p. 170). 67 Sigla em inglês: General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). 68 Projeto foi lançado em 1994, mas não se concretizou. 69 Projeto rejeitado durante o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, durante a Cumbre de las Américas, em Mar del Plata, na Argentina, em 2005. 70 A instabilidade, causada por crises e por recessões financeiras, produzem efeitos sociais diretos, que se relacionam com o desemprego. Os efeitos da globalização da economia mundial podem, então, sofrer restrições (NYE, 2009, p.250).
52
22% para 23,5%71. Essa conjuntura contribuiu para a automática associação do
neoliberalismo72 ao subdesenvolvimento latino-americano (AYERBE, 2002, p. 9-16).
As crises financeiras no final da década de 199073, somadas às assimetrias
sociais, contribuíram para o surgimento de governos progressistas, que
redimensionaram a postura da América Latina frente a alguns tópicos da agenda
(SIMONETTI, 2010, p. 221- 232). Os efeitos sociais do neoliberalismo contribuíram
para a emergência de movimentos sociais inclusivos e de forças políticas voltadas para a
redução de assimetrias sociais. A ascensão de Hugo Chávez e de Evo Morales às
presidências da Venezuela e da Bolívia, respectivamente, são uma demonstração dessa
reação política (AYERBE, 2002, p. 9-16).
Na América Latina, ao longo do século XX, emergiram comportamentos de
oposição ao processo globalizante, a partir da tomada de consciência sobre a própria
condição histórica regional. As políticas neoliberais ampliaram as contradições e
provocaram uma nova percepção sobre as redes de poder no sistema internacional,
contribuindo para a construção de uma vontade política de rompimento com as relações
de dominação74 e de subserviência (SIMONETTI, 2010, p. 221- 232).
No começo do século XXI, a América Latina iniciou um processo de
reconfiguração de seu cenário político. Os países latino-americanos buscaram recuperar
o potencial de desenvolvimento da região, através do redescobrimento do espaço
regional como um meio para a discussão e para a ação coletiva. Apesar de heterogêneos,
os projetos para a América Latina tinham algo em comum: a crítica ao modelo
neoliberal75. Hugo Chávez (1998) e Nicolas Maduro (2013), na Venezuela, Luiz Inácio
Lula da Silva (2003) e Dilma Rousseff (2011), no Brasil, Néstor Kirchner (2003) e
Cristina Kirchner (2007), na Argentina, Tabaré Vasquez (2004) e José Mujica (2010),
no Uruguai, Evo Morales (2004), na Bolívia, Michelle Bachelet (2006-2010) (2014), no
71 Essa porcentagem representa em números populacionais um salto de 91 para 110 milhões de pessoas (AYERBE, 2002, p. 12). 72 Do ponto de vista econômico, o neoliberalismo não revitalizou o capitalismo. No aspecto social, o modelo logrou êxito, pois conseguiu atingir um de seus objetivos: reduzir gastos sociais e, em consequência, criar desigualdades. Do ponto de vista ideológico, atingiu louros jamais imaginados pelos seus fundadores, transformando-se em um fenômeno hegemônico (ANDERSON, 1995, p. 9-23). 73 A crise econômica da Argentina é um dos mais marcantes exemplos. A insatisfação popular gerou protestos conhecidos como panelaços, que culminaram na renúncia do então presidente Fernando de la Rúa.
75 Nos países onde as crises financeiras associadas ao Consenso de Washington foram mais severas, refletindo na maior assimetria social, houve uma ampliação de espaços políticos para os movimentos sociais e para os projetos progressistas. Contudo, é importante destacar que o neoliberalismo não foi mitigado, ele corre em paralelo. Cargos políticos importantes ainda foram mantidos por políticos neoliberais, apoiados pelas elites locais, o que limita a articulação do novo projeto progressista.
53
Chile, Rafael Correia (2007), no Equador, Daniel Ortega (2007), na Nicarágua, e
Ollanta Humala (2011), no Peru, apresentaram-se como as novas lideranças políticas, o
que modificou o perfil dos atores internos envolvidos no processo decisório de política
exterior (RIGGIROZZI, 2012, p. 131-133).
Esse reposicionamento político foi adotado como uma tentativa de romper com
as imposições políticas e econômicas das potenciais à região, na busca de uma postura
mais ativa e autônoma da América Latina no cenário internacional. Esse olhar crítico
fundamentou discussões sobre novas alternativas de integração regional, denominadas
por Serbin (2012) de processos pós-hegemônicos, pós-comerciais e pós-neoliberais.
Portanto, o rechaço latino-americano ao projeto da Alca e a aposta em novos processos
de integração regional foram fortalecidos em função da convergência ideológica com os
países vizinhos (PEDROSO, 2013, p. 333).
Os EUA possuem relação histórica com a América Latina e ainda exercem
grande influência na região, em especial através de acordos bilaterais e de instituições
internacionais, a exemplo da Organização dos Estados Americanos (OEA) e do Fundo
Monetário Internacional (FMI). Contudo, alguns acontecimentos exógenos modificaram
as prioridades da agenda de política externa dos EUA. Depois dos ataques de 11 de
setembro de 2001, o governo dos EUA passou a dedicar especial atenção às pautas de
segurança. Foram adotadas medidas preventivas, com o aumento da vigilância e com as
políticas contra terroristas, expressas, no âmbito doméstico, por exemplo, no Ato
Patriótico. As questões de segurança internacional contribuíram para que a Política
Externa estadunidense se dedicasse proeminentemente ao Oriente Médio, especialmente
em função da ocupação militar no Iraque e no Afeganistão. O aumento de gastos
militares, além da crise financeira, iniciada em 2008, oriunda do setor imobiliário dos
EUA, e com desdobramentos na crise na zona do euro, gerou mudanças nas dinâmicas
multilaterais, não apenas o cenário político dos EUA, mas implicou em consequências
regionais para a América Latina (SERBIN, 2012, p.9-16).
A América Latina desprendeu-se do eixo prioritário dos EUA, o que garantiu
maior autonomia e sinais de independência com relação às potências, diversificando
parcerias e fortalecendo instituições regionais. Dessa forma, a multipolaridade na região
começou a se consolidar, em detrimento da unipolaridade e da hegemonia dos EUA, em
uma perspectiva anti-imperialista. Os governos progressistas do Brasil, com seu
desenvolvimento econômico, e da Venezuela, com sua estratégia militar, fortaleceram
54
suas atuações como as principais lideranças da América Latina. São países
heterogêneos, com objetivos diferenciados (SERBIN, 2009, p 4-8).
Em países latino-americanos, a Política Externa não costuma ser tema de
campanhas eleitorais. Mesmo quando alguns tópicos da agenda diplomática são
debatidos em períodos eleitorais, não são caracterizados como elementos determinantes
de voto. Essa baixa relevância no âmbito doméstico é atribuída ao comportamento
pacífico do Legislativo em temáticas de Política Externa (ONUKI; OLIVEIRA, 2006, p.
145-155). Dessa forma, com o déficit de representatividade em favor do Executivo, a
eleição de líderes progressistas tem sido essencial para a transformação política do
contexto regional latino-americano.
Os impactos causados pelas políticas neoliberais demandaram posicionamentos
internacionais mais autônomos76. A população doméstica passou a eleger propostas
progressistas e novas lideranças surgiram. A consequência para evitar a perda de apoio
interno foi a modificação de algumas práticas de Política Externa, o que facilitou o
processo de integração, diante da aproximação ideológica77 dos líderes regionais
(DUPAS; OLIVEIRA, 2008, p. 238-240).
Foi a partir desse cenário de convergência ideológica que os países da América
do Sul passaram a articular melhor suas agendas de Política Externa. Essa
transformação repercutiu nos processos de integração regional que passaram a valorizar
o crescimento econômico como um elemento capaz de reduzir os elevados índices de
desigualdade social, herdados das políticas neoliberais. Vale ressaltar essa emergência
não rompeu com as diretrizes do neoliberalismo, mas apontou para novas alternativas,
em graus diferenciados. Brasil Argentina e Chile não se apartaram do neoliberalismo na
mesma proporção que Venezuela, Bolívia e Equador78 o fizeram. São projetos
diferenciados, porém aderiram, em certo aspecto, a preceitos do
neodesenvolvimentismo e do neopopulismo.
Segundo Gil (2008, p. 62), a política interna de um país não determina
necessariamente o seu posicionamento externo, porém o interno e o externo podem se
influenciar mutuamente. Dito isto, cabe inferir que a eleição de Evo Morales Ayma para
76 Dessa forma, a agenda regional, anteriormente vincula a temáticas prioritariamente neoliberais, apoiadas pelas elites locais conservadora, se modificou, dando início a um novo capítulo da integração regional. 77 Essa aproximação não significa ausência de tensões políticas. 78 Os olhares dos países de centro demonstraram maior preocupação com as políticas domésticas e com o comportamento internacional desses países andinos, principalmente porque são eles os maiores detentores de recursos energéticos, a exemplo do petróleo e do gás.
55
presidência da Bolívia, em 2006, foi bastante sintomática. Com a construção da Aliança
Bolivariana para os Povos de Nossa América – Tratado de Comércio dos Povos (Alba-
TCP)79, a Bolívia redefiniu sua Política Externa e aderiu às perspectivas bolivarianas de
soberania, solidariedade e integração com aspectos de alinhamento ao governo da
Venezuela e de Cuba. Por ter sido o primeiro indígena a ser eleito presidente da Bolívia,
Evo Morales Ayma, do partido Movimiento al Socialismo (MAS), endossou a pauta
indigenista, que foi positivada com a Constituição80 de 2009, ampliando o direito dos
povos indígenas. No âmbito da formulação da Política Externa, Evo Morales
reconfigurou o corpo político, através da valorização multicultural e indigenista. A
Bolívia, que historicamente foi governada por grupos conservadores que se alternavam
no poder, possuía um corpo diplomático de origem branca, oriundo de setores elitistas,
cuja influência estadunidense era identificada pela redação de documentos diplomáticos
em inglês. Morales reconfigurou o aparelho diplomático, com a nomeação de David
Choquehuanca, de origem aymara, para ministro das Relações Exteriores. A gestão
ministerial também incluiu outros representantes indigenistas e campesinos. Dessa
forma, essas novas lideranças contribuíram para que a Bolívia começasse a construir
uma nova etapa política (GIL, 2008, p. 60-63).
Assim como outros países da América Latina, a Bolívia sentiu os impactos
causados pelas políticas neoliberais (1985-2005), o que gerou descontentamento
popular, principalmente no tocante aos recursos energéticos. No caso boliviano,
algumas crises ganharam destaque, a saber: a política de erradicação da coca81 e a
guerra da água (2000)82, durante o governo de Hugo Banzár (1997); e as revoltas
populares contra a construção do gasoduto para o Chile, com o objetivo de exportar o
gás natural para os EUA, durante o governo de Sánchez de Lozada (2002).
Segundo Chaves (2010), é importante destacar que essas crises políticas
bolivianas receberam atenção regional. Com a criação da Unasul, em 2008, a Bolívia foi
79 Alba-TCP é um acordo celebrado entre Bolívia, Cuba e Venezuela para estabelecer um processo de integração regional alternativo, incluindo regras de comércio. Ver: ALBA-TCP, 2006. 80 Os direitos dos povos indígenas estão dispostos no Capítulo 4, Artigos 30 e 190. Ver: BOLIVIA, 2009. 81 Os camponeses cultivadores de coca protestaram contra a medida de erradicação do cultiva da coca, uma vez que o consumo de coca é vinculado às tradições culturais indígenas. Os chás e a mastigação da folha de coca aliviam os efeitos da altitude, de tal forma que contribui para a adaptação a altitude boliviana que atinge 3 mil metros. O uso tradicional da coca não poderia então ser confundido com a utilização da folha de coca, geralmente oriunda de plantações ilegais, como matéria prima para drogas, em especial a cocaína. 82 Revoltas populares contra a privatização de água, em Cochabamba, no ano 2000, geraram crises políticas. Foi declarado estado de sítio pelo presidente Hugo Banzár. Para saber mais, veja: BID. Quem ganhou a guerra da água?. Disponível em: <http://www.iadb.org/idbamerica/index.cfm?thisid=3539>. Acesso: 8 jan. 2014.
56
tema da primeira gestão de crise da região no âmbito institucional. Apesar das
hesitações de Morales em ceder parte de sua soberania, diante de uma instituição
baseada na integração, a crise com relação às disputas83 pelo gás natural chegou a um
ponto crítico e foi levada à Unasul, em uma reunião de emergência no dia 15 de
setembro de 2006, em Santiago, no Chile. Essa participação institucional na mediação
de crises a favor do governo de Evo Morales é reflexo da confiabilidade e da
credibilidade que foram geradas em seu comportamento nos foros regionais (CHAVES,
2010, p. 123, 161-164).
Dessa forma, as articulações da Unasul iniciaram um novo ciclo da integração
regional, pautado no pós-neoliberalismo. As estratégias regionais, fundamentadas na
proximidade geográfica, histórica, social, político e cultural, passaram a representar os
reais interesses dos Estados, em defesa dos interesses nacionais84 (SANAHUJA, 2008,
p. 11- 53).
Impulsionado por governos progressistas, principalmente, pela Venezuela, os
projetos alternativos ganharam fôlego, na busca de maior autonomia. Essa
independência regional tem se baseado em duas expressões: Alba85 e a Unasul.
Concatenado com a premissa de emergência de governos progressistas e os novos
pressupostos políticos fundamentado em uma crítica ao paradigma neoliberal, a Unasul,
caracteriza-se como uma alternativa de processo de integração regional e foi a
instituição política a qual os chefes de Estado da região recorreram para se manifestar
contra o incidente ocorrido com o avião presidencial de Evo Morales, em julho de 2013.
83 A guerra do Gás foi um conflito entre as forças policiais e militares do governo central e os grupos políticos da região conhecida como meia-lua, departamentos de Beni, Pando, Tarija e Santa Cruz, ricos em gás natural. As discordâncias sobre a autonomia dos departamentos na aplicação dos impostos arrecadados com o gás e sobre a privatização da produção nacional começaram em 2003 e se ampliaram, gerando instabilidade democrática e suspeita de Golpe de Estado. O conflito atingiu caráter internacional, quando houve interrupção na distribuição do gás para o Brasil e para a Argentina. Com o aumento das tensões, o caso foi debatido no âmbito da Unasul e a instituição se posicionou a favor do governo de Evo Morales (Chaves, 2010, p.15-39). 84 O debate entre nacionalismo e regionalismo não é novo, mas a perspectiva adotada para este projeto é a do neonacionalismo, que se baseia no ganho de autonomia, não contra o fechamento da economia, mas através do incentivo das exportações, tendo o Estado fortalecido como instrumento de uma maior competitividade no cenário internacional. 85 A Alba é um projeto alternativo de integração regional, em construção, protagonizado pela Venezuela, em clara oposição a Alca, que se inspirava no teade not aid, ao passo que a Alba se articulou na ideia de troca, não na de livre comércio. O projeto é alicerçado em um discurso claramente antiglobalizador e anti-estadunidense, inserindo-se no paradigma do regionalismo pós-neoliberal. O propósito é não se comprometer em servir ao imperialismo nem às oligarquias nacionais, sendo direcionado ao desenvolvimento econômico dos setores sociais dos povos latino-americanos (ALTMANN, 2008, p.1-7). Alguns esforços já estão sendo concretizados, a exemplo da Telesur, dos proyectos de las grannacionales (PG) e das empresas grannacionales (EG), da Petrocaribe e do Banco do Sul.
57
Portanto, cabe analisar a importância política da instituição, assunto que será abordado
na próxima seção.
3.2 A importância política da Unasul
Formada por doze países da América do Sul, A UNASUL foi formalizada em
2008, mas suas origens remontam ao início da década, com o marco da I Cumbre de
Presidentes Sudamericanos, em 2000, aos auspícios da liderança do então presidente
brasileiro, Fernando Henrique Cardoso. O projeto começou a ser discutido somente em
2004, em Cusco, no Peru, durante a III Cumbre de Presidentes Sudamericanos e foi
formalmente estabelecido através da Declaração de Cusco86, que deu origem à
Comunidade Sul-Americana de Nações (Casa) e estabeleceu os seus princípios87 e
principais objetivos, a saber: a convergência entre o Mercosul e a CAN; a integração
física; e a cooperação política (BRICEÑO RUIZ, 2010, apud RIGGIROZZI, 2012, p.
143).
O Brasil ganhou ênfase na região, dentre outros motivos, pela convergência
ideológica entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) e Dilma Rousseff
(2011-2014) e os demais líderes regionais (PEDROSO, 2013, p. 330). Segundo Nafalski
(2010), houve um fortalecimento do âmbito nacionalista da diplomacia brasileira com a
nomeação de Celso Amorim para o Ministério das Relações Exteriores (2003-2010), de
Samuel Pinheiro Guimarães como 1º secretário do Itamaraty, e de Marco Aurélio
Garcia para assessor da presidência para assuntos de Política Externa, o que
incrementou ideologicamente as relações Sul-Sul.
Segundo Nafalski (2010), apesar de existir consonância de interesses entre os
países da região, no tocante ao fortalecimento da integração regional, o projeto
Casa/Unasul gerou discordância entre Brasil e Venezuela, quanto à efetividade e à
implementação. O debate foi importante para redesenhar os propósitos do projeto. A
Venezuela, que demonstrou ter influência sobre Bolívia, Equador e Argentina, resistiu
ao projeto brasileiro, por não perceber um posicionamento firme à esquerda. Porém, 86 UNASUl, 2004. 87 O novo modelo de integração foi fundamentado em seis princípios, a saber: (1) solidariedade e cooperação, na busca de maior equidade social e de multilateralismo; (2) soberania e da autodeterminação dos povos; (3) manutenção da zona de paz, através da solução pacífica de controvérsias; (4) democracia e pluralismo para valorizar os direitos humanos dos povos originários, dos afrodescendentes e dos imigrantes, respeitando os movimentos sociais e as organizações da sociedade civil; (5) universalidade e indivisibilidade dos Direitos Humanos87; e (6) preservação ambiental, para garantir o desenvolvimento regional (CSA, 2010, p. 28-31).
58
com as descobertas do pré-sal, somadas ao poder econômico e ao pragmatismo
diplomático brasileiro, a implementação da Unasul ganhou apoio regional. Essas
divergências fizeram com que Hugo Chávez se distanciasse do projeto brasileiro. Em
consequência, fundou a Alba-TCP, em 2004 (BRICEÑO RUIZ, 2010, apud
RIGGIROZZI, 2012, p. 144).
Em maio de 2008, a Casa deixou de existir para dar lugar à Unasul que tem
adquirido importância geoestratégica. Compreende um território de 17.658 km², tem
aproximadamente 380 milhões de pessoas, dentre as quais 18 milhões tem vínculo com
algum povo originário, e seu PIB, em 2008 foi de 2,9 bilhões de dólares, o que
corresponde a 5,6% do PIB mundial88. A ideia de união transformou esse projeto
integrativo sub-regional em algo ambicioso, uma vez que a palavra unir significa junção
das partes, em uma perda relativa de soberania. O que a torna diferente de outros
projetos é a perspectiva da política nacional, uma vez que os presidentes que firmaram
esse acordo de união são diferentes dos anteriores, que priorizaram políticas neoliberais
em seus países. A proposta é mais ampla que mera transação comercial, dando maior
espaço para movimentos e para organizações sociais. Essa perspectiva fica nítida com o
aumento significativo, desde o começo do século XXI, dos gastos sociais dos Estados,
visando o bem estar da população (CSA, 2010, p 35-75).
O projeto Casa/Unasul, sob a liderança brasileira, assim como a Alba, sob a
liderança venezuelana, foi albergado na essência do conceito otra integración es
posible89, defendido na Declaração de Brasília (2005) e na Declaração de Cochabamba
(2006) (CSA, 2010, p. 28-31).
Em seu Tratado Constitutivo90, criado em 2008, na Reunião Extraordinária de
Chefes de Estado e de Governo, nas suas cláusulas preambulares, fica clara a intenção
de lutar pela emancipação das unidades sul-americanas. No Artigo 19, fica explícita a
proposta anti-hegemônica da Unasul, uma vez que apenas Estados da América Latina e
do Caribe poderão se associar à organização. De forma prática, a instituição demonstrou
atuação política enfática nas crises da guerra do gás na Bolívia (2008), na insurreição
88 Dados do Fundo Monetário Internacional (FMI) de 2008. 89 Tais princípios emergiram em contraposição ao modelo da Alca, uma estratégia estadunidense de livre comércio. A partir da articulação de movimentos sociais e da sociedade civil, os países da região refutaram o projeto da Alca, durante a Cumbre de las Américas, em Mar del Plata, na Argentina, em 2005. 90 O Tratado Constitutivo entrou em vigor em 2011 e foi inspirado nas Declarações de Cusco de 2004 e de Cochabamba de 2005 (CSA, 2010, p.35). A UNASUL é formada por: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname, Uruguai, Venezuela e Paraguai. Panamá e México participam como membros observadores e poderão, futuramente, integrar a comunidade.
59
policial envolvendo Rafael Correa, no Equador (2010), no golpe de Estado no Paraguai
(2012) e no rechaço ao embargo aéreo europeu de Espanha, França, Itália e Portugal ao
avião presidencial de Evo Morales (2013) e no apoio ao governo de Nicolas Maduro,
durante os protestos de extrema direita, comandados por Leopoldo López (2014).
A Unasul, diante da proposta de convergência entre o Mercosul e a CAN,
também se articula através do regionalismo aberto, típico da década de 1990, porém
estipula um novo objetivo: o de fortalecer a instituição para além das questões
comerciais, primando pela autonomia política com relação às potências, em especial
EUA e União Europeia. Dessa forma, a criação do Conselho de Defesa reforça o
interesse em limitar a interferência estadunidense (RIGGIROZZI, 2012, p. 144).
Essa nova liderança multipolar da Unasul é vista como uma alternativa política
à OEA, posto que a presença dos EUA, de certa maneira, coage o comportamento dos
Estados integrantes. Em três diferentes momentos históricos distintos, a OEA permitiu a
intervenção unilateral estadunidense na região, a exemplo da Invasão da Baía dos
Porcos, em 1961, da intervenção militar na República Dominicana, em 1965 e das
invasões a Granada e ao Panamá, em 1983 e 1989, respectivamente. Os EUA
destacaram-se por negociar bilateralmente, enfraquecendo a estrutura multipolar da
OEA. Dessa forma, a Unasul apresenta-se como uma alternativa multilateral à
hegemonia dos EUA91, a partir da formulação de uma agenda com base anti-
imperialista. Contudo, ainda é preciso fundamentar sua institucionalidade para
sobreviver em longo prazo (SERBIN, 2009, p.4-7).
A pauta política da Unasul, inserida em um paradigma pós-neoliberal,
estabelece novas bases para o regionalismo, ultrapassando os anseios meramente
econômicos. Sua atuação está construindo um novo espaço de diálogo político,
resignificando a cooperação regional. Um de seus principais desafios será conciliar
essas demandas econômicas, que envolvem os anseios da globalização, e as demandas
sociais e políticas, reclamadas pelo âmbito doméstico e regional. Para tal, é preciso que
os Estados da América Latina se associem em favor da coesão regional, contudo, vale
salientar a histórica relação de proximidade econômica entre EUA e alguns países da
região, como Chile, Peru, Colômbia e México. Apesar de tal quadro dissidente, cabe dar
relevância às novas oportunidades regionais que estão sendo criadas pelas novas
91 Depois da reunião de Cúpula das Américas, em Mar del Plata, em 2005, o outro projeto liderado pelos EUA, a Alca começou a se fragmentar (SERBIN, 2009, p. 5).
60
lideranças que estão rompendo paradigmas e estabelecendo novos desafios para a
integração regional (RIGGIROZZI, 2012, p. 148).
3.3 O bloqueio
O bloqueio do espaço aéreo europeu92 ao avião presidencial de Evo Morales,
em 3 de julho de 2013, representou um impasse diplomático. No contexto regional
latino-americano, esse conflito de interesses é ainda mais caloroso, porque se projeta
sob a égide histórica da exploração colonial, visto que os envolvidos são países
europeus, antigas metrópoles colonizadoras, e países latino-americanos que outrora
foram colônias de exploração. Por isso, é importante levar em consideração que a ideia
de América Latina foi construída como um contra conceito assimétrico93. Diante dessa
conjuntura, o bloqueio aéreo a Evo Morales pode ser interpretado, de acordo com a
Teoria Crítica de Cox (1993), como uma expressão do debate sobre hegemonia e contra
hegemonia.
O bloqueio representou um mal-estar diplomático, por se tratar de um chefe de
Estado democraticamente eleito. Evo Morales Ayma, presidente da Bolívia desde 2006,
cumpria agenda de política externa, em Moscou, na Rússia. Ele participou da II Cúpula
de Países Produtores de Gás, durante os dias 1 e 2 de julho, de 2013. O plano de voo de
seu retorno à La Paz, feito em avião94 presidencial, previa uma parada técnica em
Portugal, cujo imperativo era a reposição de combustível95. Com a negação de Lisboa, o
92 Trata-se de um fato recente, não há material acadêmico relevante para descrever o bloqueio. Portanto, foram utilizadas notícias de portais digitais relevantes, assim como documentos oficiais de governos e organizações internacionais, além das declarações dos chefes de Estado em suas contas pessoais no Twitter. 93 Os conceitos e contra-conceitos assimétricos formam um par antagônico com significados diametralmente opostos, identificando aqueles que fazem parte do grupo e aqueles que estão à margem dele. Para ilustrá-los, Kosellec (1985, apud SOUZA, 2011) elenca três parelhas antitéticas: Heleno/Bárbaro; Cristão/Pagão; Übermensch/Utermensch. Concatenado com essa linha argumentativa, o conceito de América Latina é igualmente resultante de uma dinâmica construção histórica. Não há unanimidade sobre a origem da nomenclatura. Contudo, a literatura dominante, prioritariamente colonizadora, se ocupou de interpretar negativamente a identidade latino-americana. À América, metonimicamente representada pelos EUA, coube a adjetivação positiva e superior, herdada de uma origem anglo-saxônica, manifestada na racionalidade, no autocontrole, na austeridade e na responsabilidade, ilustrada como um ambiente urbano, industrial, desenvolvido e sofisticado. Enquanto a América Latina foi vislumbrada como um ambiente rural, atrasado, paupérrimo, formado por indivíduos não brancos com um comportamento que sugere violência. Dessa forma, América Latina representa um contra-conceito assimétrico, por denotar uma negação da auto-imagem coletiva de América (SOUZA, 2011; FERRES JR., 2003). 94 Dassault Falcon 900EX, da força aérea boliviana, portanto, um avião do Estado boliviano. Ver: FISHER, 2013. 95 O avião é de pequeno porte e não tem autonomia energética para viagens muito longas.
61
plano de voo foi alterado. A Espanha inicialmente negou o sobrevoo, porém,
posteriormente, admitiu a passagem pelo território espanhol para que Evo Morales se
deslocasse até as Ilhas Canárias. Contudo, França e Itália impediram96 o sobrevoo do
avião presidencial até o território espanhol. Diante desse impasse, a aeronave solicitou
um certificado de emergência para pouso em Viena, na Áustria, que foi aprovado,
configurando-se como uma escala não programada. Espanha, França, Itália e Portugal
negaram97 o sobrevoo em função da suspeita de que Edward Snowden pudesse estar a
bordo.
Figura 6: Plano de voo de Evo Morales.
Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2013/07/1306118-Unasul-se-reune-em-apoio-a-
evo-por-bloqueio-de-aviao-na-europa.shtml
96 ROBERTS, 2013. 97 THE GUARDIAN. 2013b.
62
Depois da mudança de rota, a aeronave boliviana ficou retida no aeroporto
vienense por treze horas. Evo Morales interpretou como tentativa de violação à
soberania de seu avião o pedido do embaixador da Espanha, na Áustria, Alberto
Carnero, de ascender ao avião para tomar um café98. Além desse pedido, agentes
aeroportuários checaram99 a origem dos tripulantes, que eram bolivianos, concedendo a
autorização de decolagem do avião. A inspeção foi considerada pela Bolívia como uma
agressão e uma violação do Direito Internacional, porém o vice chanceler austríaco,
Michael Spindelegger, declarou100 que a inspeção foi necessária para certificar a
identidade dos passageiros e que Evo Morales a aceitou voluntariamente.
Após a reconsideração dos países europeus envolvidos nesse impasse
diplomático, diante da confirmação de que Snowden não estava a bordo, o avião
presidencial boliviano teve seu plano de voo de regresso à Bolívia autorizado. Morales
saiu da Áustria101 e pousou102 no aeroporto de Las Palmas de Gran Canaria, nas Ilhas
Canárias, território espanhol, e na cidade de Fortaleza103, no Brasil, para paradas de
caráter técnico, chegando à cidade de El Alto, próxima de La Paz, às 0h40, horário de
Brasília, do dia 4 de julho de 2013104.
O comportamento inamistoso dos países europeus foi associado a uma
articulação dos EUA, uma vez que Snowden representa uma peça estratégica para a
salvaguarda da defesa nacional estadunidense, em função das informações obtidas pelo
delator, como abordado na seção anterior. A justificativa dada pelos países europeus
embargantes foi a de que o ex-agente da CIA, acusado de espionagem e de traição à
pátria pelos EUA, estava em Moscou, na área de trânsito do Aeroporto Internacional
Sheremetievo, e estaria sendo levado à América do Sul para obter asilo político no
Equador, por intermédio de Evo Morales, que coincidentemente passou pelo mesmo
aeroporto. Vale ressaltar que todos os países europeus envolvidos fazem parte da
98 Essa situação reportada pelos noticiários também foi mencionada pela presidente argentina Cristina Kirchner em seu Twitter pessoal @CFKArgentina no dia 2 de julho de 2013. Segundo ela, durante uma chamada telefônica com o presidente da Bolívia, Evo havia mencionado a tentativa de inspeção de seu avião e a sua negativa em permitir: "Y no voy a permitir que revisen mi avión. No soy un ladrón". Ver ANEXO 3 99 A inspeção foi considerada pela Bolívia como uma violação do Direito Internacional. Ver: GRUBER; FARGE, 2013. 100 REUTERS, 2013. 101 WATTS; ROBERTS, 2013. 102 TELESUR, 2013a. 103 TELESUR, 2013b. 104 ABC, 2013.
63
Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), cuja liderança é exercida pelos
EUA.
Os países latino-americanos consideraram o bloqueio europeu como uma
manipulação imperialista do governo estadunidense contra a Bolívia e, por
consequência, contra a unidade latino-americana105 106. A reação dos chefes de Estado
latino-americanos foi semelhante, no sentido de pedir explicações aos países europeus.
A reação institucional regional mais rápida foi feita via Unasul. Na tarde do dia 4 de
julho, foi realizada uma reunião extraordinária, a pedido de Rafael Correa, presidente do
Equador, na cidade de Cochabamba, na Bolívia, para produzir um ato de desagravo em
favor de Evo Morales. A reunião teve como documento substancial a Declaração de
Cochabamba107, pedindo retratação pública dos países europeus pelo comportamento,
denominado de hostil e de colonialista.
A Declaração de Cochabamba foi elaborada pelos presidentes108 da Argentina,
Cristina Kirchner; do Uruguai, José Mujica; da Venezuela, Nicolás Maduro; do
Equador, Rafael Correa; do Suriname, Desiré Bouterse; e por outros representantes
diplomáticos. No texto, em cláusulas preambulares e operativas, a Unasul defende que
houve violação de tratados internacionais que regem a convivência pacífica. O
impedimento de deslocamento de Evo Morales e de sua comitiva diplomática foi
classificado como um ato hostil, ilegal e estranho, com um perfil neocolonialista. De
acordo com a Declaração de Cochabamba (2013), o bloqueio aéreo não causou
constrangimento somente para a Bolívia, mas para todas as nações integrantes da
América Latina109, abrindo um perigoso precedente para o Direito Internacional. Foi
dito que Evo tornou-se praticamente um refém, uma vez que sua liberdade foi
temporariamente privada. Dessa forma, foi feita a exigência de que os governos da
Espanha, França, Itália e Portugal expliquem suas razões para o impedimento de trânsito
do avião presidencial e façam pedidos públicos de desculpa. Também foram
mencionadas as atividades de espionagem dos EUA como atentados aos direitos dos
cidadãos e à convivência entre os Estados.
105 TELESUR, 2013h. 106 KINZER, 2013. 107 UNASUL, 2013. 108 Os presidentes de Peru, Colômbia, Chile e Brasil, que não puderam participar desta cúpula extraordinária da Unasul na Bolívia, também manifestaram, posteriormente, sua condenação ao agravo sofrido por Evo Morales na Europa. 109 No texto, é evocado a ideia de Pátria Grande, reforçando a unidade latino americana.
64
Outras organizações regionais também se manifestaram posteriormente. A
OEA elaborou no dia 9 de julho de 2013, durante sessão do Conselho Permanente, a
Resolução110 1017, em solidariedade ao presidente Evo Morales, condenando o
bloqueio aéreo como violação de normas e de princípios básicos do Direito
Internacional, como a inviolabilidade dos Chefes de Estado, e exigindo desculpas por
partes dos países europeus envolvidos. Já o Mercado Comum do Sul (Mercosul),
durante a 45ª Cúpula, que aconteceu no dia 12 de julho de 2013, elaborou uma
declaração111 que protesta conta o bloqueio. Outras organizações regionais, também
foram órgãos consultivos sobre esse impasse diplomático, a exemplo da Associação
Latino Americana de Integração (Aladi)112, da Alba e da Comunidade dos Estados
Latino-americanos e Caribenhos (Celac)113.
Diplomaticamente, além das manifestações em organizações internacionais,
Evo Morales ameaçou retirar a embaixada dos EUA, na Bolívia114. Os países europeus,
envolvidos no impedimento de sobrevoo do avião presidencial boliviano, depois das
demandas dos chefes de Estado e de Governo de diversos países, pediram desculpas115.
Evo Morales as aceitou116, alegando que havia superado o conflito diplomático com os
países europeus envolvidos, principalmente com a Espanha117. Dessa forma, o
presidente118 optou por não se referir a nenhum país em específico, mas ao incidente
sofrido por ele.
Esse impasse diplomático envolvendo Evo Morales tornou-se pauta de
discussões políticas nas organizações e foros119 internacionais. Os países integrantes da
Unasul demonstraram publicamente seu rechaço ao bloqueio e ao comportamento dos
países europeus. A rápida articulação da organização possui confluência com o contexto
histórico e político em que está inserida, principalmente com a emergência de governos
progressistas, na região, através de uma revisão crítica às propostas neoliberais.
110 OEA, 2013. 111 MERCOSUL, 2013. 112 TELESUR, 2013c. 113 TELESUR, 2013j. 114 THE GUARDIAN. 2013a. 115 TELESUR, 2013d; TELESUR. 2013e; TELESUR, 2013f. 116 TELESUR, 2013g. 117 TELESUR, 2013i. 118 Evo Morales, em setembro de 2013, fez viagem oficial à Espanha, para uma reunião com o primeiro ministro, Mariano Rajoy, e à Itália, para visitar o Papa Francisco. 119 A exemplo da Cumbre Antiimperialista em 31 de julho de 2013. Organizada por cinco entidades sociais da Bolívia, aconteceu em Cochabamba e a estimativa é de que participaram 200 mil pessoas. Ver: MIRANDA, 2013.
65
Depois da abordagem sobre o impasse diplomático sofrido por Evo Morales, o
último capítulo aborda a reação política de Argentina, Equador e Venezuela, levando
em consideração o contexto político regional e o uso do Twitter como ferramenta de
política externa.
66
4 TWITTER COMO FERRAMENTA DE POLÍTICA EXTERNA: A REAÇÃO
ARGENTINA, EQUATORIANA E VENEZUELANA AO BLOQUEIO
AÉREO EUROPEU A EVO MORALES
Lo que es con Bolivia, es con tod@s
Rafael Correa
Para articular este capítulo é preciso recuperar elementos importantes dos
capítulos já apresentados. É preciso levar em consideração a relação entre mídia e
relações internacionais, a importância política de novas mídias e os processos políticos
em curso na América Latina, desde o começo do século XXI, com a emergência de
governos progressistas e com a mudança no perfil dos atores formuladores de política
externa.
Com o impasse diplomático sofrido por Evo Morales, os países da América do
Sul reagiram por intermédio de declarações oficiais e de instituições internacionais, a
exemplo da Unasul, Mercosul e OEA. Contudo, diante do crescente uso de novas
mídias como expressão política, os presidentes de Argentina, Equador e Venezuela
utilizaram suas contas oficiais para explicar o ocorrido para seus seguidores, que
compreendem representados e a sociedade civil internacional, de modo geral. Dessa
forma, o Twitter foi utilizado como ferramenta de política externa, para demonstrar o
posicionamento dos Estados que representam, frente a um incidente internacional.
Portanto, este capítulo explora o conceito de política externa e as publicações feitas no
Twitter por Cristina Kirchner, Rafael Correa e Nicolas Maduro sobre o incidente
envolvendo Evo Morales.
4.1 O que é política externa?
As teorias de Política Externa começaram a ser desenvolvidas como sub área
das Relações Internacionais, primordialmente, depois da Segunda Guerra Mundial.
Correspondem a um conjunto de instrumentos organizados para analisar a conduta dos
países em um processo de negociação e de formulação da tomada de decisão, com foco
na articulação entre o sistema internacional e o âmbito doméstico. Três estudiosos
foram paradigmáticos para o desenvolvimento desse campo do conhecimento, a saber:
Richard Snyder, James Rosenau e Herold e Margareth Sprout. Os estudos iniciais
67
buscaram compreender as tomadas de decisão, a política externa comparada e as
explicações psicológicas e sociais da política externa (HUDSON, 2008, p.11-30).
Por política exterior deve-se entender o estudo da forma como um Estado condiz suas relações com outros Estados, se projeta para o exterior, isto é, refere-se à formulação, implementação e avaliação das opções externas, desde o interior de um Estado, vistas desde a perspectiva do Estado, sem atender à sociedade como tal. Em nenhum caso cabe, pois, utilizar esta denominação como sinônimo de relações internacionais, pois estas referem-se a um objeto muito mais amplo (ARENAL, 1990, p. 21, apud ALTEMANI, 2005, p.2).
Para entender a política externa de um Estado, é preciso compreender que
instituições domésticas contribuem para a formação de preferências nacionais,
interpretadas, grosso modo, através do voto. Dessa forma, para se estabelecer acordos
internacionais, é preciso haver convergência entre os interesses dos grupos internos. Ou
seja, a política externa se relaciona com os elementos que definem a decisão política, a
formulação da agenda, por isso o interesse nacional deve ser visto como flexível,
dinâmico e multável. Logo, é importante integrar o ambiente doméstico e o
internacional no processo analítico (FIGUEIRA, 2011, p. 20-21). Segundo RUSSELL
(1990, p. 255 apud ALTEMANI, 2005, p. 5), a política externa abrange três dimensões:
a político-diplomática; a militar-estratégica; e a econômica; projetadas em relações
bilaterais e multilaterais, principalmente através de instituições.
A disciplina de Análise de Política Externa articulou, a partir de 1960120, duas
perspectivas: enfatizou a necessidade de uma teoria mais científica e questionou a
prioridade dada ao plano internacional, diante de algumas críticas sobre a diferença
entre Relações Internacionais e Ciência Política, visto que, de acordo com a visão dos
adeptos de Análise de Política Externa, o plano externo não seria qualitativamente
diferente do doméstico (ALTEMANI, 2005, p. 22).
Essa foi considerada a primeira geração e foi marcada pelo positivismo e pelos
métodos quantitativos que buscavam definir padrões, estabelecendo relações positivistas
de causalidade. Contudo, o excesso de quantificação, envolvendo as ciências exatas
gerou críticas e, em consequência, houve a formação de uma segunda geração de
estudos, baseada na interdisciplinaridade e na diversidade metodológica, com o objetivo
120 Os primeiros estudos foram desenvolvidos por James Rosenau, no texto Pre-theories and theories of foreign policy (1966), que influenciou nos estudos de Política Externa comparada; por R. Snyder, W. Bruch e B. Sapen em Decision making as an approach to the study of international politics (1963); por Harold e Margaret Sprout com os textos Man-Milieu relationship hypotheses in the context of international politics (1956) e The ecological perspective on human affairs with special reference to international politics (1965) (FIGUEIRA, 2011, p. 21) .
68
de romper com o excesso de positivação, concedendo à análise qualificada um papel de
destaque (FIGUEIRA, 2011, p. 21-23).
Para esses estudos, Robert Putnam foi fundamental, pois desenvolveu o modelo
conhecido como jogos de dois níveis, para compreender a relação entre o ambiente
doméstico e o internacional, o que contribuiu para os estudos sobre a interferência de
burocratas e do poder Legislativo, além de grupos de interesse, como a opinião pública
e as organizações não-governamentais, na elaboração de política externa (FIGUEIRA,
2011, p. 24).
Segundo Lafer (1984, p.104, apud ALTEMANI, 2005, p.9), a Análise de
Política Externa é uma tentativa de compatibilizar o cenário doméstico com o
internacional, por isso torna-se necessário analisar as duas dimensões doméstica e
internacional, que são distintas, porém complementares (ALTEMANI, 2005, p. 9).
Como já abordado no capítulo 3, em países latino-americanos, a política
externa é não enfaticamente abordada em campanhas eleitorais e historicamente não
representa elemento determinante de voto. Com a apatia da maioria dos poderes
Legislativos da América Latina em temáticas de política externa, o poder Executivo
ganha proeminência na elaboração da política externa. (ONUKI; NUNES DE
OLIVEIRA, 2006, p. 145-155).
Segundo Altemani (2005), no caso brasileiro, por exemplo, a sociedade, salvo
algumas exceções, está à margem desse processo de elaboração de agenda de política
externa. De acordo com Albuquerque (2002, apud ALTEMANI, 2005, p. 24), os
partidos políticos, assim como a mídia e a opinião pública estão distantes das pautas de
política externa, concedendo ao Itamaraty o poder de administrar os interesses externos
brasileiros, através de uma burocracia weberiana.
Dito isto, vale salientar que a emergência de novas lideranças políticas, com a
eleição de governos progressistas, desde o começo do século XXI, modificou o perfil
dos atores, diretamente envolvidos com a elaboração da política externa. Diante de
novas lideranças no Executivo, o comportamento externo dos países da América Latina
também se modificou indo ao encontro das premissas pós-neoliberais.
Para esta análise foram escolhidos três presidentes da América do Sul que estão
inseridos no paradigma progressista. No âmbito digital, possuem contas oficiais no
Twitter que são utilizadas como canal de comunicação tanto institucional quanto
pessoal. Por vezes, em suas publicações, comentam a agenda de política externa de seus
respectivos países. No caso do embargo a Evo Morales, expressaram o comportamento
69
que seria adotado por seus Estados e comunicaram seus posicionamentos políticos, em
um comportamento de independência e de autonomia política, através de uma
comunicação direta com seus seguidores, como poderá ser visualizado na próxima seção
deste capítulo.
4.2 A reação de Cristina Kirchner, Rafael Correa e Nicolas Maduro através do
Com a facilidade comunicacional das novas mídias, os chefes de Estado de
Argentina, Equador e Venezuela recorreram ao Twitter como uma ferramenta de
política externa para se posicionar internacionalmente frente ao incidente ocorrido com
Evo Morales, em julho de 2013. Em tempo real, Cristina Kirchner foi a mais atuante, ao
publicar, além de seu posicionamento externo, a descrição de como recebeu a notícia e
de como administrou a contenda, através da publicação autoral e sequencial de 23
tweets. Já Rafael Correa fez uso de quatro publicações de sua autoria, além de três
retweets, sendo dois de seu partido político, Aliança País, e um da rede multiestatal de
comunicação Telesur. Nicolas Maduro fez uso de duas mensagens autorais e de quatro
retweets, sendo dois deles da ativista Genesis Aldana, um da Telesur e outro da Ola
Bolivariana (em português, Onda Bolivariana).
Tabela 3: Quantidade de tweets dos presidentes de Argentina, Equador e Venezuela
sobre o incidente diplomático envolvendo Evo Morales, em julho de 2013.
PAÍS Presidente Nickname Nº de tweets
Nº de retweets
Argentina Cristina Kirchner
@CFKArgentina 23 0
Equador Rafael Correa
@MashiRafael 4 3 (2 de @35PAIS; 1 de @telesurtv)
Venezuela
Nicolas Maduro
@NicolasMaduro 2 4 (2 de @genesis_aldanar; 1 de @telesurtv;
1 de @OlaBolivariana) Fonte: Verificação feita pela autora.
70
4.2.1 Argentina
O surgimento de uma nova liderança política, na Argentina, assim como em
outros países da região, foi impulsionado tanto por fatores internos quanto externos.
Néstor Kirchner assumiu a presidência de 25 de maio de 2003 a 10 de dezembro de
2007, sendo sucedido por sua esposa Cristina Kirchner, que alcançou a maioria no
gabinete ministerial, em clara evidência de continuísmo do modelo de governo. Em
2007, Cristina Kirchner ganha as eleições e é eleita a primeira presidente mulher da
Argentina. (STUART, p.15-38)
Cristina começou a utilizar o Twitter em 26 de agosto de 2010. Suas primeiras
trocas de mensagens foram com os ex-presidentes Hugo Chávez, da Venezuela, e
Sebastián Piñera, do Chile. Na época, cumprimentou o presidente chileno pelo resgate
aos mineiros presos, em outubro de 2010. Seu Twitter é utilizado para comunicação
institucional e para declarações pessoais. No âmbito institucional, anuncia obras e
realizações do governo e posicionamentos de política externa. No âmbito pessoal, sua
publicação mais popular foi a declaração de que seria avó, feita pouco depois da morte
de Néstor Kirchner, em 2010. Cristina Kirchner publica uma média de nove tweets por
dia. Embora não interaja muito com seus seguidores, com perfil de outputs, ela interage
com outros chefes de Estado latino-americanos, demonstrando aproximação e
convergência política. (TWIPLOMACY, 2014a)
Figura 7: Perfis com maiores menções feitas por Cristina Kirchner no Twitter.
Fonte: http://twiplomacy.com/wp-
content/uploads/2013/07/CFKArgentina_twitonomy_analytics.pdf
No tocante ao incidente com Evo Morales, Cristina publicou 23 tweets,
descrevendo como recebeu a mensagem e como se conectou com outros presidentes.
Sua capacidade de síntese na elaboração de uma ideia em 140 caracteres não foi exitosa,
71
uma vez que utilizou vários tweets para concluir uma frase. Suas descrições envolviam
primordialmente presidentes latino-americanos. Vale ressaltar que nas publicações, os
presidentes mencionados são pertencentes a países integrantes da Unasul. Ela fez
declarações sobre o ativismo de Ollanta Humana e Rafael Correa na convocação da
reunião de emergência da Unasul e dos consequentes resultados do encontro, com a
Declaração de Cochabamba. Sua principal interação foi feita com Rafael Correa, que
lhe contou o incidente. Ela também menciona ligações feitas para José Mujica e para
Evo Morales, reportando aos seus seguidores como ambos estão com relação ao
incidente. Cristina demonstra sua indignação em alguns tweets, levando em
consideração as normas de Direito Internacional e a importância da Corte de Haia para o
amparo jurídico do caso. De maneira pessoal, ainda duvida da sanidade dos países
envolvidos no bloqueio. Segue na tabela abaixo todas as publicações feitas sobre o caso.
Tabela 4: Tweets de Cristina Kirchner sobre o bloqueio ao avião de Evo Morales, em
julho de 2013.
HORÁRIO DE BRASÍLIA
TWEETS TWEETS – TRADUÇÃO LIVRE
23:19 (2/7/2013)
Volví a la Rosada. Olivos, 21:46hs. Me avisan, Presidente Correa al teléfono. “Rafael?. Pásamelo”.
Voltei à [Casa] Rosada. [Quinta oficial de] Olivos121, 21h46. Avisam-me que o presidente Correa está ao telefone. “Rafael? Passem-me o telefone”.
23:19 (2/7/2013)
“Hola Rafael, cómo estás?”. Me contesta entre enojado e angustiado. “No sabés que está pasando?”.
“Olá Rafael, como estás?”. Ele responde entre irritado e angustiado. “Você não sabe o que está acontecendo?”.
23:20 (2/7/2013)
“No, que pasa?”. Yo en babia. Raro, porque siempre estoy atenta… y vigilante. Pero recién había finalizado una reunión.
“Não, o que houve?”. Eu estava sem noção do que acontecia. Estranho, porque eu estou sempre atenta... e vigilante. Mas, eu tinha acabado de terminar uma reunião.
23:20 (2/7/2013)
“Cristina. Lo han detenido a Evo con su avión, y no lo dejan salir de Europa”.
“Cristina. Detiveram Evo e seu avião e não querem deixá-lo sair da Europa”.
23:20 (2/7/2013)
“Qué? Evo? Evo Morales detenido?” Inmediatamente me viene a la mente su última fotografía, en Rusia…
“O quê? Evo? Evo Morales detido?”. Imediatamente vem à mente sua última fotografia na Rússia...
121 Nome da residência oficial da presidência da Argentina, localizada na cidade de Olivos, na região metropolitana de Buenos Aires.
72
23:21 (2/7/2013)
Junto a Putín, Nicolas Maduro y otros Jefes de Estado. “Pero que pasó Rafael?”
Junto com Putín, Nicolas Maduro e outros chefes de Estado. “Mas, o que aconteceu, Rafael?”
23:21 (2/7/2013)
“Vários países le revocaron el permiso de vuelo y está en Viena”, me contesta.
“Vários países o revogaram permissão de voo e ele está em Viena”, ele responde.
23:21 (2/7/2013)
Definitivamente están todos locos. Jefe de Estado y su avión tiene inmunidad total. No puede ser este grado de impunidad.
Definitivamente estão todos loucos. Chefe de Estado e seu avião tem imunidade total. Não pode ser esse grau de impunidade.
23:22 (2/7/2013)
Rafael me dice que va a llamar a Ollanta Humana para reunión urgente UNASUR.
Rafael me diz que vai ligar para Ollanta Humana para uma reunião de emergência na Unasul.
23:23 (2/7/2013)
Llamo a Evo. Del otro lado de la línea, su voz me responde tranquila. “Hola compañera, cómo está?”. El me pregunta a mí como estoy.
Eu ligo para Evo. Do outro lado da linha, sua voz me responde tranquilamente. “Olá companheira, como você está?”. Ele me pregunta como estou.
23:23 (2/7/2013)
Me lleva miles de años de civilización en ventaja. Me cuenta la situación. “Estoy aquí, en un saloncito en el aeropuerto…”.
Leva-se milhares de anos de civilização em vantagem. Conta-me a situação. “Eu estou aqui, em uma pequena sala no aeroporto...”.
23:23 (2/7/2013)
“Y no voy a permitir que revisen mi avión. No soy un ladrón”. Simplemente perfecto. Fuerza Evo.
"E eu não vou deixar que revistem meu avião. Eu não sou um ladrão”. Simplesmente perfeito. Força Evo.
23:25 (2/7/2013)
CFK: Dejáme que llame a Cancillería. Quiero ver jurisdicción, Tratado y Tribunal al cual recurrir. Te vuelvo a llamar”. “Gracias compañera”.
CFK: Deixe-me chamar Chancelaria. Eu quero ver jurisdição, Tratado e Tribunal ao qual recorrer. Eu ligo depois. “Obrigada, companheira”.
23:25 (2/7/2013)
“Hola Susana”. No querido, Susana Ruiz Cerruti. Nuestra experta en legales internacionales de Cancellería…
“Oi Susana”. Não querida, Susana Ruiz Cerruti. Nosso especialista em Direito Internacional da Chancelaria...
23:26 (2/7/2013)
Me confirma inmunidad absluta por derecho consuetudinario, receptado por Convención de 2004 y Tribunal de La Haya.
Ela me confirma imunidade absoluta por direito consuetudinário, receptado pela Convenção de 2004 e pelo Tribunal de Haia.
23:26 (2/7/2013)
Si Austria no lo deja salir o quiere revisar su avión puede presentarse ante la Corte Internacional de La Haya y pedir…
Se a Áustria não deixá-lo sair ou quiser revistar seu avião podem se apresentar frente a Corte Internacional de Haia e pedir...
23:26 (2/7/2013)
Siiii! UNA MEDIDA CAUTELAR. No se si ponerme a reír o llorar. Te dás cuente para que son las
Sim! Uma medida cautelar. Não sei se começo a rir ou chorar. Você percebe que são as medidas
73
medidas cautelares. cautelares. 23:26 (2/7/2013)
Bueno, sino le podemos mandar algún juez de acá. Madre de Dios! Qué mundo!
Bem, caso contrário, podemos enviar um juiz daqui. Mãe de Deus! Que mundo!
23:27 (2/7/2013)
Lo llamo a Evo nuevamente. Su Ministro de Defenda toma nota. En Austria son las 3 AM. Van a intentar comunicarse con las autoridades.
Ligo pra Evo novamente. Seu ministro da Defenda faz anotações. Na Áustria, são 3h00. Eles vão tentar se comunicar com as autoridades.
23:27 (2/7/2013)
Hablo con Pepe (Mujica). Está indignado. Tiene razón. Es todo humillante. Me vuele a hablar Rafa.
Falo com Pepe (Mujica). Ele está indignado. Ele tem razão. É tudo humilhante. Volto a falar com Rafa.
23:27 (2/7/2013)
Me avisa que Ollanta va a convocar a reunión de UNASUR. Son las 00:25 AM. Manaña va a ser un día largo y difícil. Calma. No van a poder.
Avisa-me que Ollanta vai convocar uma reunião da Unasul. São 00h25. Amanhã será um dia longo e difícil. Calma. Eles não vão conseguir.
20:43 (4/7/2013)
Cochabamba. Reunión urgente de UNASUR en Bolivia. pic.twitter.com/Oqc1tjIgnx
Cochabamba. Reunião urgente da Unasul na Bolívia. pic.twitter.com/Oqc1tjIgnx
0:54 (5/7/2013)
Declaración de UNASUR em Cochabamba http://t.co/CirsEkFZ4R
Declaração da Unasul em Cochabamba http://t.co/CirsEkFZ4R
Fonte: Verificação e tradução feita pela autora, através do perfil oficial da presidente da Argentina, Cristina Kirchner @CFKArgentina.
4.2.2 Equador
Rafael Correa é eleito presidente do Equador em 2007. Em 2009, é reeleito
com 51,9% por cento dos votos. Em 2013, foi reeleito para seu terceiro mandato
consecutivo. Seu perfil político, dente outros aspectos, visa ao combate das publicações
tendenciosa dos meios de comunicação de massa, por isso recorre ao tweets como um
canal alternativo de comunicação. Por vezes, faz críticas a notícias, artigos e editoriais
publicados, por isso é acusado de cercear a imprensa tradicional (TWIPLOMACY,
2014b).
Seu apoio às novas mídias e aos meios de comunicação alternativos ficou claro
quando concedeu asilo político a Julian Assange do WikiLeaks, na embaixada do
Equador, em Londres. Apoio semelhante aconteceu com o caso do delator Edward
Snowden, uma vez que o Equador o concedeu asilo político, sendo esse um indício de
que Evo Morales levaria em seu avião presidencial o ex-agente da CIA de Moscou para
o Equador.
74
A primeira publicação de Rafael Correa sobre o embargo a Evo Morales faz
clara menção a esse contexto de crítica à mídia tradicional. Em tradução livre: “A
imprensa dos vermes não pôde mostrar que eu conhecia o salvo conduto a Snowden,
como afirmaram. Outra vez: mentirosinhos...”.
Figura 8: Primeiro tweet de Rafael Correa sobre o incidente diplomático envolvendo
Evo Morales em julho de 2013.
Fonte: https://twitter.com/MashiRafael/status/352180094153916417
Rafael Correa é identificado no Twitter por Mish, que em quéchua, língua
indígena dos povos andinos, significa camarada. Ele começou a utilizar o Twitter em 30
de julho de 2011, com uma média de seis tweets por dia, sendo 83% de suas publicações
respostas por seguidores. Com tamanha interação, seu perfil é marcado tanto por
outputs quanto por inputs. (TWIPLOMACY, 2014b)
75
Figura 9: Líderes latino-americanos que mais respondem a seus seguidores.
Fonte: Twitplomacy. http://www.youpix.com.br/redes-sociais-2/analise-dos-lideres-
globais-mais-ativos-no-twitter/
No caso do embargo a Evo Morales, a segunda publicação de Rafael Correa
tem tom de indignação. Em tradução livre: “Incrível! Negam ingresso do espaço
europeu ao avião de Evo Morales. E depois querem falar de cúpula entre União
Europeia e América Latina? A reagir, Pátria Grande!”. Nesta publicação, Rafael Correa
critica os esforços de aproximação política da União Europeia com a região, ao passo
que se comportam em tom inamistoso, através do bloqueio. A expressão Pátria Grande
faz menção aos históricos esforços de integração regional da América Latina, iniciados
com Simon Bolívar e José Martí, desde os processos de independência.
Figura 10: Segundo tweet de Rafael Correa sobre o incidente diplomático envolvendo
Evo Morales em julho de 2013.
Fonte: https://twitter.com/MashiRafael/status/352237762952437761
76
A terceira publicação de Rafael Correa declara solidariedade a Evo Morales.
Em tradução livre: “Nossa solidariedade a Evo e ao bravo povo boliviano. Nossa
América não pode tolerar tanto aviso! O que é com a Bolívia, é com todos”. Nuestra
América, assim como Pátria Grande, são expressões que evocam a integração regional
da América Latina. Em tom de unidade, Rafael Correa se declara igualmente ofendido
com o incidente, ao afirmar que na compreendida Nuestra América uma agressão feita a
um integrante é inevitavelmente feita com todos.
Figura 11: Terceiro tweet de Rafael Correa sobre o incidente diplomático envolvendo
Evo Morales em julho de 2013.
Fonte: https://twitter.com/MashiRafael/status/352238588928335872
A última publicação de Rafael Correa sobre a incidente faz menção novamente
à abordagem midiática distorcida sobre o caso, com referência ao jornal britânico The
Guardian. Porém a matéria a qual referencia não foi apontada através de hiperlinks.
77
Tabela 5: Quarto tweet de Rafael Correa sobre o incidente diplomático envolvendo Evo
Morales em julho de 2013. HORÁRIO DE BRASÍLIA
TWEETS TWEETS TRADUÇÃO LIVRE
21:34
(2/7/2013)
Mis declaraciones para The
Guardian totalmente
descontextualizadas. Felizmente
tenemos grabado. ¡A no caer en
la trampa de los de siempre!
Minhas declarações para o The
Guardian estão totalmente
descontextualizadas. Felizmente
temos tudo registrado. Não caiam
nas fraudes dos de sempre!
Fonte: https://twitter.com/MashiRafael/status/352238944915689472
4.2.3 Venezuela
Com a morte de Hugo Chávez, em março de 2013, Nicolas Maduro torna-se
presidente. Em seu Twitter, considera-se filho de Chávez. Em certo aspecto, na rede, ele
herdou a influência de Chávez. Começou a usar o Twitter em março de 2013 como
ferramenta de campanha eleitoral. Atualmente, ele possui 1,83 milhões de seguidores e
publica uma média de 13 tweets por dia. No âmbito doméstico, ele disputa as atenções
políticas no Twitter com Henrique Capriles (@hcapriles), principal político de oposição.
Suas publicações fazem frequente referência a Hugo Chávez e à revolução bolivariana,
por isso transformou-se em uma importante ferramenta política. No âmbito da política
externa, suas publicações fazem críticas aos EUA, em especial diante dos protestos,
iniciados a princípio de 2014, e das conjecturas de tentativa de golpe de Estado, sob a
liderança de Leopoldo López, ex-prefeito do munícipio venezuelano de Chacao (2000-
2008) (TWIPLOMACY, 2014c).
Maduro fez apenas duas publicações em seu Twitter sobre o incidente. Na
primeira, declarou que a motivação do incidente foi marcada pela violação da
imunidade diplomática e pela ganância imperialista dos países europeus e dos EUA. Em
tradução livre: “Estou em contato com Evo, violaram todas as imunidades
internacionais que protegem chefes de Estado por causa da obsessão imperial”.
78
Figura 12: Primeiro tweet de Nicolas Maduro Correa sobre o incidente diplomático
envolvendo Evo Morales em julho de 2013.
Fonte: https://twitter.com/NicolasMaduro/status/352330090660638720
Na segunda publicação, Nicolas Maduro declarou solidariedade, em nome da
Venezuela, a Evo Morales, demonstrando seu posicionamento político com relação ao
incidente. Em tradução livre: “Ratifico toda a solidariedade a Evo Morales e da
Venezuela responderemos a esta perigosa agressão, desproporcionada e inaceitável”.
Figura 13: Segundo tweet de Nicolas Maduro Correa sobre o incidente diplomático
envolvendo Evo Morales em julho de 2013.
https://twitter.com/NicolasMaduro/status/352330639846019073
79
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho tem como principal objetivo analisar a reação dos chefes de
Estado de Argentina, Equador e Venezuela, através do Twitter, diante do bloqueio do
espaço aéreo europeu, praticado por França, Itália, Portugal e Espanha ao avião de Evo
Morales, presidente da Bolívia, em julho de 2013, a pedido dos Estados Unidos da
América (EUA). Com isso, pretendeu-se fortalecer a discussão sobre as alternativas de
comunicação das novas mídias, em confluência com as funções pós-massivas.
Para atingir essa perspectiva discursiva, os quatro capítulos. O primeiro deles
contextualiza os eventos que antecederam o impasse diplomático do bloqueio aéreo,
com ênfase na espionagem estadunidense e no caso Snowden, relacionando Mídia e
Política Internacional. O segundo capítulo aborda a relação entre meios de comunicação
de massa e a América Latina, apresentando as dinâmicas das novas mídias. Também há
uma apresentação sobre o Twitter e sobre o seu uso como ferramenta política por chefes
de Estado. O terceiro capítulo explora o bloqueio do espaço aéreo europeu, praticado
por Espanha, França, Itália, Portugal, levando em consideração a emergência de
governos na América Latina e à propensão ao regionalismo pós-neoliberal. No quarto
capítulo, é feita uma breve explicação sobre o conceito de política externa; seguida de
uma análise sobre a reação de Argentina, Equador e Venezuela, diante do impasse
diplomático sofrido por Evo Morales, utilizando o Twitter como um instrumento de
política externa e de canal de comunicação alternativo.
No âmbito político, a consequente perseguição ao delator Edward Snowden se
relacionou à Evo Morales, a partir do momento em que Washington indicou a passagem
do presidente boliviano pelo Aeroporto Internacional Sheremetievo, em Moscou, na
Rússia, como o possível trajeto de fuga de Snowden, gerando a suspeita de que
Snowden estaria a bordo do avião boliviano. Essa conjectura incitou o bloqueio do
espaço aéreo europeu, com o objetivo de capturar Edward Snowden, o que provocou
constrangimento diplomático a um presidente democraticamente eleito que teve sua
imunidade diplomática violada. A espionagem dos EUA, delatada por Edward
Snowden, é a raiz do impasse diplomático, envolvendo Evo Morales, como sugere
Lamrani (2013). Ficou clara a intromissão dos EUA e a colaboração dos países
europeus, por isso as discussões sobre imperialismo e sobre neocolonialismo foram
revitalizadas. Em reação ao comportamento inamistoso dos referidos países europeus,
os Estados da América do Sul se articularam politicamente em bloco através da Unasul,
80
evocando as premissas do regionalismo pós-neoliberal, em um posicionamento de
autonomia.
Desse quadro apresentado, cabe considerar algumas perspectivas pra incitar as
discussões políticas sobre o constrangimento causado a Evo Morales. O WikiLeaks e
Snowden tornaram público o mais extenso arquivo diplomático e militar, fortalecendo
os ideais do hacktivismo, no âmbito da TIC. Foi a partir desses vazamentos que se
ampliou o debate público sobre o acesso a materiais de importância histórica e sobre o
direito de acesso à informação. Diante desse ambiente de denúncias de espionagem,
cabe destacar que a União Europeia foi vítima de espionagem dos EUA, mas houve
fidelidade política dos países europeus aos EUA, mesmo quando eles os violaram por
meio da espionagem. Os países vitimados, ao invés de protegerem o denunciante
Edward Snowden, trabalharam para capturá-lo. Essa interpretação é semanticamente
percebida no momento em que Espanha, França, Itália e Portugal decidem acatar as
conjecturas estadunidenses e bloqueiam seus espaços aéreos ao avião que transportava
um chefe de Estado, democraticamente eleito e detentor de imunidade diplomática. Não
houve uma investigação contundente, era apenas uma especulação de que Edaward
Snowden seria um dos passageiros do avião boliviano e que foi comprovada como falsa.
Dessa forma, o comportamento de Espanha, França, Itália e Portugal, que vale ressaltar
são integrantes da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), pode ser
considerado como acrítico e não independente.
Em contraposição ao comportamento dos países europeus, os países da
América do Sul se organizaram em bloco e ativaram o sistema político regional da
Unasul. Cabe destacar que a Unasul foi a organização que mais rapidamente se articulou
através de uma reunião extraordinária, convocada por Rafael Correa, na cidade de
Cochabamba, na Bolívia, em apenas dois dias após o incidente. Os presidentes regionais
organizaram suas agendas políticas pra pessoalmente produzir a Declaração de
Cochabamba (2013) de repúdio ao comportamento europeu. A OEA poderia ter sido a
primeira organização a ser ativada pela região, em função da sua multilateralidade e de
seu sistema interamericano de direitos, mas em função da presença dos EUA e dos
presságios imperialistas e neocoloniais, os presidentes da América do Sul optaram pela
instituição fora do escopo dos EUA. Dessa forma, é possível perceber que a Unasul tem
sido a promessa de autonomia regional, de caráter pós-hegemônicas, pós-comercial e
pós-neoliberal, como denomina Serbin (2012). Além disso, a Unasul tem demonstrado
grande potencial na gestão de crises, como sugere Sanahuja (2012, p.52)
81
O ciclo do regionalismo pós-neoliberal é uma forma de resistência à
hegemonia dos EUA na América Latina, fundamentando discussões sobre novas
alternativas de integração regional. Cabe também destacar a importância da emergência
de governos progressistas pra construção desse processo. Dessa forma, é possível inferir
que a aposta em alternativas de integração regional foi fortalecida em função da
convergência ideológica com os países da região (PEDROSO, 2013, p. 333).
Outro aspecto que cabe destaque é a ausência brasileira na reunião
extraordinária da Unasul, no dia 4 de julho de 2013. A Unasul foi criada a partir de um
desenho institucional do Itamaraty, como argumenta Sanahuja (2012, p.34). Dessa
forma o Brasil apresenta-se como o principal promotor da Unasul, o que demanda uma
ação de engajamento. Porém, é preciso considerar que:
Como líder regional, Brasil mantiene una relación ambivalente con
UNASUR. En ocasiones pareciera reconocer que asumir un rol de líder
regional –y asumir los costos políticos y económicos de este liderazgo- es un
pre-requisito para convertirse en un líder internacional y en otras, el país
actúa como un actor internacional único, sin representar (formal e
informalmente) a UNASUR y sus socios (SANAHUJA, 2012, p.42).
A ausência de Dilma Rousseff, em uma reunião marcada pela presença de
presidentes da região, pode ser semanticamente interpretada pela diluição da premissa
progressista durante a sua gestão e pela crise de pertencimento do Brasil à história do
nacionalismo da América Latina, como versa Pinto (2010). Além dessa perspectiva,
cabe destacar a influência estadunidense no delineamento política externa brasileira122,
ao longo da sua construção.
Mesmo com a ausência brasileira, a Unasul está redefinindo os espaços de
diálogo e o próprio conceito de regionalismo, em uma direção muito além da
perspectiva econômica, que sim existe através do neoliberalismo, que corre em paralelo
à perspectiva pós-neoliberal, através de um processo endógeno de convergência entre a
CAN e o Mercosul, mas que abre debate para novas temáticas, que buscam a construção
de uma vontade política fidedignamente regional de rompimento com as relações de
dominação e de subserviência (SANAHUJA, 2012, p. 17-70). O regionalismo pós-
neoliberal é um processo que está em curso e, diante de sua importância, merece a
observação atentada do universo acadêmico.
Já no âmbito midiático, as ponderações a serem feitas giram em torno das
vantagens das novas mídias no tocante à transmissão de informações. Há um
122 ALTEMANI, 2005.
82
impedimento geográfico para a cobertura in loco dos meios de comunicação de massa
para eventos de Política Internacional. A empresa de comunicação, geralmente, elenca,
diante de seus interesses, as localidades onde delegará compromisso jornalístico com o
envio de correspondentes. Essa escolha é parcial, o que faz com que regiões e
problemáticas não recebam o olhar jornalístico dos meios de comunicação tradicionais.
Outro fator diz respeito ao fato de os meios de comunicação de massa
representaram instrumentos de manutenção ideológicos do modelo capitalista liberal.
Há uma conformação entre os meios de comunicação de massa e o capitalismo,
formando uma conjuntura hegemônica na busca pela manutenção do status quo de
determinados atores no sistema internacional. Por isso, historicamente, os meios de
comunicação de massa negligenciam eventos políticos em polos de contra-poder, o que
limita de maneira significativa o debate sobre temas de Política Internacional.
As funções pós-massivas promovem uma nova concepção de mobilidade,
fazendo emergir outras estruturas de produção e de recepção de conteúdo, por isso se
configuram, por vezes, como uma mídia alternativa e contra-hegemônica, já que são
espaços de expressão que rompem com a lógica dos meios de comunicação de massa.
Dessa forma, há uma ruptura com as tradicionais abordagens dos meios de comunicação
de massa, que precisam de um olhar analítico e crítico. Por meio de tais funções, é
possível construir um debate sobre diversos temas que não são explorados de maneira
satisfatória ou que não tiveram abordagem jornalística tradicional. Esses debates podem
aproximar a sociedade dos tomadores de decisão, construindo e fortalecendo uma
ciberdemocracia.
Essas redes sociais podem se transformar em redes de indignação123. Pode
gerar transformações que serão advindas da experiência, não postuladas por
proclamação. A desigualdade e a exclusão também existem na era da Internet. Dessa
forma, como Castells (2003, p. 8) sugere: “Ser excluído dessas redes é sofrer uma das
formas mais danosas de exclusão de nossa economia e em nossa cultura”.
As novas mídias possuem caráter emancipatório, pois a Internet pode auxiliar
no desenvolvimento dos países de Terceiro Mundo. “Nem utopia, nem distopia, a
Internet é a expressão de nós mesmos através de um código de comunicação específico,
que devemos compreender se quisermos mudar nossa realidade” (CASTELLS, 2003,
p.10-11).
123 CASTELLS, 2013.
83
Em um movimento democratizante, as novas mídias possibilitam a redução dos
déficits de representatividade, através da ampliação do direito de acesso à informação e
da liberdade de expressão, abrindo possibilidades de transformação política.
[...] o novo sentido que o local começa a ter nada tem de incompatível com o uso das tecnologias comunicacionais e das redes informáticas. Hoje essas redes não são unicamente o espaço no qual circulam capital, as finanças, mas também um lugar de encontro de multidões, de minorias e comunidades marginalizadas ou de coletividades de pesquisa e trabalho educativo ou artístico. (MARTÍN-BARBERO, 2010, p. 59)
Dessa forma, este trabalho procurou incitar as discussões e contribuir para um
debate sobre as possibilidades emancipatórias das novas mídias e para os novos arranjos
políticos da América Latina.
84
RESUMEN En este trabajo se analiza la reacción de los presidentes de Argentina, Ecuador y Venezuela, a través de Twitter, frente al impasse diplomático provocado por el bloqueo del espacio aéreo europeo, practicado por Francia, Italia, Portugal y España, al avión presidencial de Evo Morales, en julio de 2013, a petición de Washington. La discusión se encuentra en el contexto de las acusaciones de espionaje por parte del gobierno estadunidense y de la persecución del denunciante Edward Snowden, un ex-agente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos, acusado de traición y de ayuda al enemigo. Además, la discusión se relaciona con el debate sobre los nuevos medios de comunicación y las posibilidades de emancipación de las funciones post-masivas. La metodología se basa en un estilo cualitativo, con énfasis en el análisis explicativo y bibliográfico. Se utiliza una literatura específica del campo de las Relaciones Internacionales y de la Comunicación Social. Los perfiles oficiales de Twitter de los jefes de Estado de América del Sur fueron utilizados como fuete de primer grado para darse cuenta de la respuesta condenatoria a la intervención contra Evo Morales, en un comportamiento anti-hegemónico. Este incidente fue sintomático y contribuyó al pensamiento acerca de la obtención de la autonomía de América Latina, además del fortalecimiento de la ciberdemocracia y del debate sobre las posibilidades de utilizar Twitter como una extensión de la comunicación de la política exterior, acercando la Política Internacional de la Sociedad Civil Internacional Temática. PALABRAS CLAVE : Espionaje . América Latina. Twitter. Ciberdemocracia.
85
Referências ABC. Evo Morales llega a Bolivia en medio de una grave crisis diplomática entre Europa y Latinoamérica. La Paz, 4 jul. 2013. Disponível: <http://www.abc.es/internacional/20130704/abci-morales-bolivia-201307040603.html>. Acesso em: 17 jan. 2014. ALBA-TCP. ALBA-TCP Agreement. Havana, 29 abr. 2006. Disponível em <http://www.alba-tcp.org/en/contenido/alba-tcp-agreement-0>. Acesso em: 8 jan. 2014. ALMEIDA, Paulo Roberto de; ALTEMANI, Henrique; LESSA, Antônio Carlos. Integração Regional: uma introdução. São Paulo, Saraiva. 2013. ALTEMANI, Henrique. Política Externa Brasileira. São Paulo: Editora Saraiva, 2005. ALTMANN, Josette. Alba: ¿un proyecto alternativo para América Latina?. ARI, Nº 17/2008, 08 de fevereiro de 2008. Disponível em:<http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/78a360004f0198a9884bec3170baead1/ARI17-2008_Altmann_ALBA.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=78a360004f0198a9884bec3170baead1>. Acesso em: 20 ago. 2013. ANDERSON, Perry. Balanço do neoliberalismo. In: SADER, Emir. Pós-neliberalismo: as políticas sociais e o Estado democrático. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995. AYERBE, Luis Fernando. Estados Unidos e América Latina: construção da hegemonia. São Paulo, Editora Unesp, 2002. AYERBE, Luis Fernando. Novas lideranças políticas e alternativas de governo na América do Sul. São Paulo: Editora UNESP, 2008. BALL, James. NSA monitored calls of 35 world leaders after US official handed over contacts. The Guardian, 25 out. 2013. Disponível em: <http://www.theguardian.com/world/2013/oct/24/nsa-surveillance-world-leaders-calls>. Acesso em: 9 jan. 2014. BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as consequências humanas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999. BID. Quem ganhou a guerra da água?. Disponível em: <http://www.iadb.org/idbamerica/index.cfm?thisid=3539>. Acesso: 8 jan. 2014. BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia. São Paulo: Paz e Terra, 2000. BOLIVIA. Constitución política del Estado de Plurinacional de Bolivia. 2009. Disponível em: <http://www.presidencia.gob.bo/documentos/publicaciones/constitucion.pdf>. Acesso: 8 fev.2014
86
BOLÍVIA-MRE. Bolivia denuncia “inexplicable” cancelación de plan de vuelo que puso en riesgo la vida del presidente Morales. La Paz, 2 jul. 2013b. Disponível em: <http://www.rree.gob.bo/webmre/notasprensa/2013/2013_julio/np03.htm>. Acesso em: 29 nov. 2013. BOLÍVIA-MRE. Presidente Morales en Rusia aboga por la defensa de los recursos naturales y pide apoyo tecnológico en foro de gas. Moscú, Rusia, 1 jul. 2013a. Disponível em: <http://www.rree.gob.bo/webmre/notasprensa/2013/2013_julio/np02.htm>. Acesso em: 29 nov. 2013. BORGER, Julian. Edward Snowden's choice of Hong Kong as haven is a high-stakes gamble. The Guardian, 9 jun. 2013. Disponível: <http://www.theguardian.com/world/2013/jun/09/edward-snowden-hong-kong-gamble>. Acesso em: 9 jan. 2014. BUZAN, Barry. As Implicações do 11 de Setembro para o Estudo das Relações Internacionais. Revista Contexto Internacional. Rio de Janeiro, vol. 24, nº 2, julho/dezembro 2002, pp. 233-265. Disponível em: <http://contextointernacional.iri.puc-rio.br/media/Buzan_vol24n2.pdf>. Acesso em: 28 nov. 2013. CAMARGO, Julia Faria. Mídia e Relações Internacionais: lições da invasão do Iraque em 2003. Curitiba: Juruá, 2012. CANO, Wilson. Soberania e política econômica na América Latina. São Paulo: Editora UNESP, 2000. CARR, Edward Hallett. Vinte anos de crise 1919-1939: uma introdução ao estudo das Relações Internacionais. 2ª Edição. Tradução Luiz Alberto Figueiredo Machado. Brasília: Universidade de Brasília, Instituto de Pesquisa em Relações Internacionais: 2001. CASARÕES, Guilherme Stolle Paixão. Qual o lugar da democracia nas Relações Internacionais? Uma narrativa teórica. Contexto Internacional (PUC). Rio de Janeiro, vol. 34, nº1, janeiro/junho 2012, p. 43-77. CASTELLS, Manuel. A Galáxia da Internet. Rio de Janeiro: Zahar, 2003. CASTELLS, Manuel. Comunicación y Poder. Madrid: Alianza Editorial, 2009. CASTELLS, Manuel. Fim do milênio. São Paulo: Paz e Terra, 1999. CASTELLS, Manuel. Fim do milênio. São Paulo: Paz e Terra, 1999. CASTELLS, Manuel. Redes de indignação: movimentos sociais na era da internet. Rio de Janeiro: Zahar, 2013. CASTELLS, Manuel. Sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, 1999.
87
CEPIK, Marco Aurélio Chaves. Serviços de inteligência: agilidade e transparência como dilemas de institucionalização. Rio de Janeiro: IUPERJ, 2001. Disponível em: <https://www2.mp.pa.gov.br/sistemas/gcsubsites/upload/60/Servi%C3%83%C2%A7os%20de%20Intelig%C3%83%C2%AAncia.pdf>. Acesso em: 20 nov. 2013. CÉSAIRE, Aimé. Une tempete. Points French, 1997. CHAVES, Daniel Santiago. Autonomias: Bolívia no tempo presente. Rio de Janeiro: Editora Multifoco, 2010. CHEYRE, Juan Emilio. Unasur: ¿Germen autodestructivo?. La tercera, 11 ago. 2009. Disponível em: <http://www.latercera.com/contenido/895_167211_9.shtml>. Acesso em: 26 ago. 2013. COLOMBO, Sandra; FRECHERO, J. Ignacio. Yes We Can? A Política Externa de Obama para a América Latina: Da Decepção à Autonomização da Região. Revista Contexto Internacional: Rio de Janeiro, vol. 34, Nº1, janeiro/junho 2012, p. 189-222. Disponível em: <http://contextointernacional.iri.puc-rio.br/media/6artigo.pdf>. Acesso em: 28 nov. 2013. COX, Robert. Gramsci, Hegemony and International Relations: an essay in method. In: GILL, Stephen (ed.). Gramsci, historical materialism and international relations. Cambridge: Cambridge University Press, 1993. COX, Robert. Social Forces, States and World Order: beyond international relations theory. In ________. Approaches to World Order. Cambrigde: University Press, 1996. CSA (Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas). UNASUR: el Proceso de Integración Suramericano: Elementos para una estrategia sindical. Porto Alegre/João Pessoa, 2010. Disponível em: <http://www.justice.gov/archive/ll/what_is_the_patriot_act.pdf>. Acesso em: 9 jan. 2014. DOMINGOS, José Antônio; COUTO, Sério Pereira. Wikileaks: segredos, informação e poder. São Paulo: Idea Editora, 2011. DOMSCHEIT-BERG, Daniel. Os bastidores do WikiLeaks: a história do site mais controverso dos últimos tempos escrita pelo seu ex-porta-voz. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. DUPAS, Gilberto. Atores e poderes na nova ordem global: assimetrias, instabilidades e imperativos de legitimação. São Paulo: Editora Unesp, 2005. DUPAS, Gilberto; OLIVEIRA, Marcelo Fernandes de. A União Sul-Americana de Nações: oportunidades econômicas e entraves políticos. In: AYERBE, Luis Fernando. Novas lideranças políticas e alternativas de governo na América do Sul. São Paulo: Editora UNESP, 2008.
88
ENTOUS, Adam; GORMAN, Siobhan. Phone Records Collected Were Handed Over to Americans to Help Protect Allied Troops in War Zones. The Wall Street Journal, 29. out. 2013. Disponível em: <http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702304200804579165653105860502?tesla=y&cb=logged0.3308144479524344>. Acesso em: 20 fev. 2014. EUA. The USA PATRIOT Act: Preserving Life and Liberty. Departamento de Justiça, 26 out. 2001. FAWCETT, Louise. Regional Institutions. In: Williams, Paul D. (Org.). Security Studies: an introduction, London/New York: Routledge, 2008, p. 307-324. FERNANDEZ NODARSE, Francisco A.. Sobre Comercio electrónico en la WEB 2.0 y 3.0. Rev cuba cienc informat, La Habana, v. 7, n. 3, set. 2013 . Disponível em: <http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2227-18992013000300009&lng=es&nrm=iso>. Acesso em: 10 mar. 2014. FERRES JR., João. Latin America como Conceito: A constituição de um outro americano. Revista Teoria e Sociedade. Nº 11.2, 2003, p. 18-41. Disponível em: <http://www.academia.edu/3620019/Latin_America_como_conceito_A_constituicao_de_um_outro_americano>. Acesso em: 8 ago. 2013. FIGUEIRA, Ariane C. R. Processo decisório em política externa no Brasil. Tese de Doutorado. São Paulo: Universidade de São Paulo – FFLCH, 2009. FIGUEIRA, Ariane Roder. Introdução à Análise de Política Externa. São Paulo: Saraiva, 2011. FISHER, Max. Evo Morales’s controversial flight over Europe, minute by heavily disputed minute. The Washington Post, 3 jul. 2013. Disponível em: <http://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2013/07/03/evo-morales-controversial-flight-over-europe-minute-by-heavily-disputed-minute/>. Acesso em: 16 jan.2014. FOUCAULT. Michel. Microfísica do Poder. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1979. G1. Entenda o caso de Edward Snowden, que revelou espionagem dos EUA. 2 jul. 2013. Disponível em: <http://g1.globo.com/mundo/noticia/2013/07/entenda-o-caso-de-edward-snowden-que-revelou-espionagem-dos-eua.html>. Acesso em: 7 de janeiro de 2014. GALEANO, Eduardo. Veias abertas da América Latina. Porto Alegre: L&M, 2012. GECF. Lista de eventos oficiais da Gas Exporting Countries Forum. Disponível em:<http://www.gecf.org/pressroom/eventspublic>. Acesso em: 16 jan.2014. GECF. Site oficial da Gas Exporting Countries Forum. Disponível em:<http://www.gecf.org/home>. Acesso em: 16 jan. 2014.
89
GIL, Aldo Duran. Bolívia e Equador no contexto atual. p. 39-82. In: AYERBE, Luis Fernando. Novas lideranças políticas e alternativas de governo na América do Sul. São Paulo: Editora UNESP, 2008. GILBOA, Eytan. Global Communication and Foreign Policy. Journal of Communication. 1 de dezembro de 2002; 52, 4; ABI/INFORM Global. p. 731-748. Disponível em: < http://www.asc.upenn.edu/usr/ogandy/c734%20resources/Gilboa-GlobalCommunicationandForeignPolicy.pdf>. Acesso em: 28 nov. 2013. GREENWALD, Glenn. Bradley Manning: a tale of liberty lost in America. The Guardian, 30 nov. 2012. Disponível em: <http://www.theguardian.com/commentisfree/2012/nov/30/bradley-manning-liberty-lost-america>. Acesso em: 7 jan. 2014. GREENWALD, Glenn. Edward Snowden's worst fear has not been realised – thankfully. The Guardian, 14 jun. 2013a. Disponível em: <http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/jun/14/edward-snowden-worst-fear-not-realised>. Acesso em: 7 jan. 2014. GREENWALD, Glenn. XKeyscore: NSA tool collects 'nearly everything a user does on the internet'. The Guardian, 31 jul. 2013b. Disponível em : <http://www.theguardian.com/world/2013/jul/31/nsa-top-secret-program-online-data>. Acesso em: 7 jan. 2014. GREENWALD, Glenn; MACASKILL, Ewen. NSA Prism program taps in to user data of Apple, Google and others. The Guardian, 7 jun. 2013. Disponível em: <http://www.theguardian.com/world/2013/jun/06/us-tech-giants-nsa-data>. Acesso em: 7 jan. 2014. GREENWALD, Glenn; MACASKILL, Ewen; POITRAS, Laura. Edward Snowden: the whistleblower behind the NSA surveillance revelations. The Guardian, 10 jun. 2013. Disponível em: <http://www.theguardian.com/world/2013/jun/09/edward-snowden-nsa-whistleblower-surveillance>. Acesso em: 16 jan.2014. GRUBER, Angelika; FARGE, Emma. Avião do presidente boliviano decola de aeroporto na Áustria após inspeção. Reuters, 3 jul. 2013. Disponível em: <http://br.reuters.com/article/topNews/idBRSPE96200J20130703>. Acesso em: 11 set. 2013. GUTTERMAN, Steve. Russian lawyer says Snowden to start website job. Reuters, 31 out. 2013. Disponível em: <http://www.reuters.com/article/2013/10/31/us-usa-security-snowden-russia-idUSBRE99U0F720131031>. Acesso em: 7 jan. 2014. HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A, 2006. HERZ, Mônica; HOFFMANN, Andrea Ribeiro. Organizações Internacionais: história e práticas. Rio de Janeiro, Elsevier, 2004.
90
HUDSON, Valerie M. The history and evolution of foreign policy analysis. In: SMITH, Steve; HADFIELD, Amelia, DUNNE, Tim (Orgs.). Foreign Policy: Theories, Actors, Cases. Nova Iorque: Oxford University Press, 2008. IANNI, Octavio. Teorias da globalização. Rio de Janeiro. Editora Civilização brasileira, 2004. ITU. Measuring the Information Society. 2013. Disponível em: <http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/mis2013.aspx>. Acesso em: 2 mar.2014.
JATOBÁ, Daniel. Teoria das Relações Internacionais. São Paulo: Saraiva, 2013. JENKINGS, Henry. Cultura da convergência. São Paulo: Aleph, 2009. KALDOR, Mary. New & Old Wars: organized violence in a global era. Stanford: Stanford University Press, 2001. KANT, Immanuel. A Paz Perpétua. Covilhã: Universidade da Beira Interior, 2008. Disponível em: <http://www.lusosofia.net/textos/kant_immanuel_paz_perpetua.pdf>. Acesso em: 5 mar. 2014. KASSOP, Nancy. The war power and its limits. Presidential Studies Quarterly, Vol. 33, No. 3, The Permanent War (Sep., 2003), p. 509-529. Disponível em: <http://www.jstor.org/stable/27552511>. Acesso em: 16 out.2013. KEOHANNE, Robert; NYE, Joseph. Power and Interdependence. Nova Iorque: Editora Longman, 2001. KINZER, Stephen. Latin America sees US diverting Morales' plane as Yankee imperialism. The Guardian, 5 jul. 2013. Disponível em: <http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/jul/05/latin-america-us-morales-imperialism>. Acesso em: 17 jan. 2014. KOSELLECK, Reinhart. Futures Past: On the Semantics of Historical Time. Cambridge and London: The MIT Press, 1985. LAFER, Celso. Vazamentos, sigilo e diplomacia: a propósito do significado do WikiLeaks. Política Externa. São Paulo: Paz e Terra. Vol. 19. Nº4. Março/Abril/Maio/2011, p.11-17. LAMRANI, Salim. 25 verdades sobre o caso Evo Morales/Edward Snowden. Opera Mundi, 3 jul. 2013. Disponível em: <http://operamundi.uol.com.br/conteudo/opiniao/29791/25+verdades+sobre+o+caso+evo+moralesedward+snowden.shtml>. Acesso em: 4 jan.2014. LEAL, Paulo Roberto Figueira; ROSSINI, Patrícia Gonçalves da Conceição. Relações entre representantes e representados no twitter: os perfis de presidentes latino-americanos e a construção de uma agenda de pesquisa. XXI Encontro Anual da Compós, Universidade Federal de Juiz de Fora, 12 a 15 de junho de 2012. Disponível
91
em:<http://www.petfacom.ufjf.br/wordpress/arquivos/artigos/COMPOS2012-LEAL_representados-twitter.pdf>. Acesso: 30 de agosto de 2013. LEMOS, André. Cidade e Mobilidade. Telefones Celulares, funções pós-massivas e territórios informacionais. Matrizes, Revista do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação. USP, ano 1, n.1, São Paulo, 2007, pp.121-137. Disponível em:<http://www.facom.ufba.br/ciberpesquisa/andrelemos/Media1AndreLemos.pdf>. Acesso em: 30 de agosto de 2013. LEMOS, André; LÉVY, Pierre. O futuro da internet: em direção a uma ciberdemocracia planetária. São Paulo: Paulus, 2010. LÉVY, Pierre. A inteligência coletiva: por uma antropologia do ciberespaço. São Paulo: Loyola, 2007. LÉVY, Pierre. Cibercultura. Rio de Janeiro: Editora 34, 1999. LEVY, Pierre. Ciberdemocracia. Instituto Piaget, 2002. LIMA, Marcos Costa. Teoria Crítica e Relações Internacionais. In: MEDEIROS; Marcelo de Almeida; et al. (Org.). Clássicos das Relações Internacionais. Editora Hucitec: São Paulo, 2010. MARINUCCI, Raquel Boing. Relações Internacionais e mídia. Universitas Relações Internacionais, v.6, no.1,Brasília, 2008: 43-52. Disponível em: <http://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/index.php/relacoesinternacionais/article/view/836/712>. Acesso em: 30 de agosto de 2013. MARTÍN-BARBERO, Jesús. Globalização comunicacional e transformação cultural. In: MORAES, Denis de (Org.). Por uma outra comunicação: mídia, mundialização cultural e poder. 5. ed. Rio de Janeiro: Record, 2010. MATOS, Carolina. Mídia e política na América Latina: globalização, democracia e identidade. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 2013. MATTELART, Armand. História da sociedade da informação. São Paulo: Edições Loyola, 2001. MENDES, Flávio Pedroso. Clausewitz, o Realismo Estrutural e a Paz Democrática: uma Abordagem Crítica. Contexto Internacional (PUC). Rio de Janeiro, vol. 34, nº1, janeiro/junho 2012, p. 79-111. MERCOSUL. Decisão dos Estados Partes do Mercosul de respaldo ao presidente Evo Morales. Montevidéu, 12 jul. 2013. Disponível em: <http://www.mercosur.int/innovaportal/file/5615/1/declarac%E3o_de_respaldo_ao_presidente_morales_pt.pdf>. Acesso em: 16 jan. 2014. MINGST, Karen. Princípios de Relações Internacionais. Rio de Janeiro: Campus, 2009.
92
MIRANDA, Héctor. Comienza en Cochabamba, Bolivia, Cumbre Antiimperialista. Telesur, 31 jul. 2013. Disponível em: <http://www.telesurtv.net/articulos/2013/07/31/comienza-en-cochabamba-bolivia-cumbre-antiimperialista-1635.html>. Acesso em: 16 jan. 2014. NOGUEIRA, João Pontes; MESSARI, Nizar. Teoria das Relações Internacionais: correntes e debates. Rio de Janeiro, Elsevier, 2005. NYE, Joseph. Cooperação e Conflito nas relações internacionais. São Paulo: Editora Gente, 2009. NYE, Joseph. O Futuro do Poder. São Paulo: Benvirá, 2012. NYE, Joseph. Soft Power: The Means to Success in World Politics. Cambridge: Perseus Books Group, 2004. OEA. Solidariedade dos Estados Membros da OEA com o presidente do estado plurinacional da Bolívia, Evo Morales Ayma, e o povo boliviano. Resolução 1017 do Conselho Permanente da OEA, 9 jul. 2013. Disponível em: <http://www.oas.org/consejo/pr/resolucoes/res1017.asp>. Acesso em: 16 jan.2014. ONEAL, John; RUSSETT, Bruce. Triangulating peace: democracy, interdependence and international organizations. Nova Iorque: W.W. Norton, 2001. ONUKI, Janine; OLIVEIRA, Amâncio Jorge Silva Nunes de. Eleições, Política Externa e Integração Regional. Rev. Sociol. Polít., Curitiba, 27, p. 145-155. São Paulo, 2006. OWEN, Paul. Edward Snowden not safe in Hong Kong, warns human rights chief. The Guardian, 11 jun. 2013. Disponível em: <http://www.theguardian.com/world/2013/jun/11/edward-snowden-not-safe-hong-kong>. Acesso em: 7 jan. 2014. PDVSA. Proyecto y empresa grannacional en el marco del ALBA. Disponível em: <http://www.pdvsa.com/index.php?tpl=interface.sp/design/biblioteca/readdoc.tpl.html&newsid_obj_id=5422&newsid_temas=111>. Acesso em: 11 set. 2013. PEDROSO, Carolina Silva. O Brasil de Lula da Silva: entre o regional e o global. O Caso da UNASUL. Revista de Relações Internacionais da UFGD, Vol.2, nº3, 2013. Disponível em: <http://www.periodicos.ufgd.edu.br/index.php/moncoes/article/view/2388>. Acesso em: 26 jan.2014. PINTO, Céli Regina. Globalização vis-a-vis. A História do nacionalismo na América Latina: o caso do Brasil. In: CARVALHO, Edemir de. (Org.). Perspectivas da globalização. São Paulo: LCTE, 2010, p 15 - 60. POZO, José del. História da América Latina e do Caribe: dos processos de interdependência até os dias atuais. Petrópolis: Editora Vozes, 2008.
93
RAMALDES, Dalva. Twitosfera: a expansão da ágora digital e seus efeitos no universo político. In: Biblioteca Virtual da Plataforma democrática da Fundação IFHC. Disponível em: <http://www.plataformademocratica.org/Publicacoes/13794_Cached.pdf> Acesso em: 28 de agosto de 2013. RECUERO, Raquel. Redes sociais na Internet. Porto Alegre: Salina, 2012. RESENDE, Erica Simone Almeida. Aporia e Trauma na Crise de Significados do Onze de Setembro. Revista Contexto Internacional. Rio de Janeiro, vol. 32, Nº1, janeiro/junho 2010, p. 205-238. Disponível em: < http://contextointernacional.iri.puc-rio.br/media/v32n1a07.pdf>.Acesso em: 28 nov. 2013. REUTERS. Only Bolivians aboard Morales plane in Vienna: Austria. Viena, 3 jul. 2013. Disponível em: <http://www.reuters.com/article/2013/07/03/us-usa-security-snowden-plane-idUSBRE9620A520130703>. Acesso em: 13 jan. 2014. RICUPERO, Rubens. O mundo após o 11 de setembro: a perda da inocência. Revista Tempo Social. Vol.15 no.2 São Paulo Nov. 2003. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/S0103-20702003000200002>. Acesso em: 28 nov. 2013. RIGGIROZZI, Pía. Re-territorializando consensos: Hacia un regionalismo post-hegemónico en América Latina. p. 129-152. In: SERBIN, Andrés; MARTÍNEZ, Laneydi; RAMANZINI JÚNIOR, Haroldo. El regionalismo “post–liberal” en América Latina y el Caribe: Nuevos actores, nuevos temas, nuevos desafíos Anuario de la Integración Regional de América Latina y el Gran Caribe 2012. Buenos Aires: Cries (Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales), 2012. Disponível em: <http://www.ieei-unesp.com.br/portal/wp-content/uploads/2012/10/2012-Anuario-CRIES-1.pdf>. Acesso em: 11 jan. 2013. ROBERTS, Dan. Bolivian president's jet rerouted amid suspicions Edward Snowden on board. The Guardian, 3 Jul. 2013. Disponível em: <http://www.theguardian.com/world/2013/jul/03/edward-snowden-bolivia-plane-vienna>. Acesso em: 13 jan. 2014. ROCHA, Antonio Jorge Ramalho. O Sistema Político dos EUA: Implicações para suas Políticas Externas e de Defesa. Revista Contexto internacional. Vol. 28, Nº 1, janeiro/junho 2006, pp. 53-100. Disponível em: <http://contextointernacional.iri.puc-rio.br/media/Antonio_vol28n1.pdf>. Acesso em: 28 nov. 2013. RODRIGUES, Pedro Luiz. Westphalia x WikiLeaks: um nó a ser desatado. Revista Política Externa. Vol. 19. Nº4. Março/Abril/ Maio de 2011, p.31-38. Editora Paz e Terra, 2011.
94
ROSSINI, Patrícia Gonçalves da Conceição; LEAL, Paulo Roberto Figueira. Os perfis de presidentes latino-americanos no Twitter: desafios da representação política no contexto da desintermediação comunicacional. Rio de Janeiro: Cadernos de Estudos Sociais e Políticos, Vol.1, Nº2, 2012. Disponível em: <http://cadernos.iesp.uerj.br/index.php/CESP/article/viewArticle/61>. Acesso em: 28 de agosto de 2013. RÜDIGER, Francisco. As teorias da cibercultura: perspectivas, questões e atores. Porto Alegre: Salina, 2013. SANAHUJA, José Antonio. Del regionalismo abierto al regionalismo post-liberal: crisis y cambio en la integración regional en América Latina. In: AFONSO, Laneydi; PEÑA, Lázaro; VASQUEZ, Mariana (Org.). Anuario de la integración regional de América Latina y el Gran Caribe. Nº 7, 2008. Disponível em: <http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2009/02450.pdf>. Acesso em: 11 set. 2013. SANAHUJA, José Antonio. Regionalismo post-liberal y multilateralismo en Sudamérica: El caso de UNASUR. p. 19-72. In: SERBIN, Andrés; MARTÍNEZ, Laneydi; RAMANZINI JÚNIOR, Haroldo. El regionalismo “post–liberal” en América Latina y el Caribe: Nuevos actores, nuevos temas, nuevos desafíos Anuario de la Integración Regional de América Latina y el Gran Caribe 2012. Buenos Aires: Cries (Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales), 2012. Disponível em: <http://www.ieei-unesp.com.br/portal/wp-content/uploads/2012/10/2012-Anuario-CRIES-1.pdf>. Acesso em: 11 jan. 2013. SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal. Rio de Janeiro: Editora Record, 2008. SEITENFUS, Ricardo Antônio Silva. Manual das Organizações Internacionais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008. SERBIN, Andrés (Org.). El regionalismo “post–liberal” en América Latina y el Caribe: Nuevos actores, nuevos temas, nuevos desafíos Anuario de la Integración Regional de América Latina y el Gran Caribe 2012. Buenos Aires: Cries (Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales), 2012. Disponível em: <http://www.ieei-unesp.com.br/portal/wp-content/uploads/2012/10/2012-Anuario-CRIES-1.pdf>. Acesso em: 11 jan. 2013. SERBIN, Andrés. A América do Sul em um mundo multipolar. A Unasul é a alternativa?. Nueva Sociedad, 2009. Disponível em: <http://www.nuso.org/upload/articulos/p7-1_1.pdf>. Acesso em: 26 ago. 2013. SIMÕES, Maria Carolina Vargas. Imunidades e privilégios diplomáticos dos chefes de Estado. Âmbito Jurídico, Rio Grande, XV, n. 98, mar 2012. Disponível em: <http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=1132>. Acesso em: set 2013.
95
SIMONETTI, Mirian Claudia Lourenção. A geografia dos movimentos sociais na América Latina. In: CARVALHO, Edemir de. (Org.). Perspectivas da globalização. São Paulo: LCTE, 2010, p. 221 - 232. SNOWDEN, Edward Joseph. Statement from Edward Snowden in Moscow. WikiLeaks , 1 jul. 2013. Disponível em: <http://wikileaks.org/Statement-from-Edward-Snowden-in.html>. Acesso em: 7 jan. 2014. SORENSEN, Theodore. Watergate and American Foreign Policy. The World Today. Vol. 30. Nº 12. Dezembro de 1974. p. 497-503. Disponível em: <http://www.jstor.org/stable/40394749>. Acesso em: 20 jun. 2013. SOUZA, Ailton de. América Latina, conceito e identidade, algumas reflexões da história. PRACS (Revista Eletrônica de Humanidades do Curso de Ciências Sociais da UNIFAP), Nº 4, 2011. Disponível em: <http://periodicos.unifap.br/index.php/pracs/article/view/364/n4Ailton.pdf>. Acesso em: 8 ago. 2013. SOUZA, Leonardo; GOMIDE, Raphael. Espiões da era digital: Documento secreto revela como os Estados Unidos espionaram ao menos oito países – entre eles o Brasil – para aprovar sanções contra o Irã. Revista Época, 27 jul. 2013. Disponível em: <http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2013/07/bespioesb-da-era-digital.html>. Acesso em: 7 jan. 2014. SPEKTOR, Matias. WikiLeaks nas Relações Internacionais. Revista Política Externa. Vol. 19. Nº4. Março/Abril/ Maio de 2011, p.19-30. Editora Paz e Terra, 2011. STUART, Ana Maria. Novas lideranças na América do Sul: o caso Kirchner. In: AYERBE, Luis Fernando. Novas lideranças políticas e alternativas de governo na América do Sul. São Paulo: Editora UNESP, 2008. TEIXEIRA JR, Augusto W. M. O Conselho de Defesa Sul-Americano da Unasul: criação institucional e cultura estratégica. In: Marcos Aurélio Guedes de Oliveira. (Org.). Comparando a Defesa Sul-Americana. 01ed.Recife: Editora Universitária UFPE, 2011, v. 1, p. 127-147. TEIXEIRA JR, Augusto W. M. Regionalismo y seguridad sudamericana: ¿son relevantes el Mercosur y la Unasur?. 2010. Disponível em: <http://www.flacsoandes.org/iconos/images/pdfs/Iconos38/5Dossier-Regionalismo-seguridad.pdf>. Acesso em: 25 ago. 2013. TELESUR. Aladi rechaza humillación sufrida por presidente boliviano Evo Morales. 11 jul.2013c. Disponível em: <http://www.telesurtv.net/articulos/2013/07/11/aladi-rechaza-humillacion-sufrida-por-presidente-boliviano-evo-morales-3712.html>. Acesso em: 16 jan. 2014. TELESUR. ALBA y CELAC deben tomar medidas por agresión de EE.UU. contra Venezuela.19 set. 2013j. Disponível em: <http://www.telesurtv.net/articulos/2013/09/19/morales-exige-al-alba-y-celac-tomar-medidas-por-agresion-de-ee.uu-contra-venezuela-1002.html>. Acesso: 17 jan. 2014.
96
TELESUR. Avión del presidente de Bolivia llega al aeropuerto de Las Palmas de Gran Canaria. 3 jul. 2013a. Disponível em: <http://www.telesurtv.net/articulos/2013/07/03/avion-del-presidente-de-bolivia-llega-al-aeropuerto-de-las-palmas-de-gran-canaria-9395.html>. Acesso em: 16 jan.2014. TELESUR. Avión presidencial de Evo Morales llegó a territorio brasileño. 3 jul. 2013b. Disponível em: <http://www.telesurtv.net/articulos/2013/07/03/avion-presidencial-de-evo-morales-llega-a-territorio-brasileno-8674.html>. Acesso em: 16 jan.2014. TELESUR. España se disculpa con Bolivia por incidente con avión de Evo Morales. 15 jul. 2013d. Disponível em: <http://www.telesurtv.net/articulos/2013/07/15/espana-envio-disculpas-oficiales-sobre-incidente-con-vuelo-de-evo-morales-9596.html>. Acesso em: 16 jan. 2014. TELESUR. Evo Morales asegura que Bolivia superó conflicto diplomático con España. 3 set.2013i. Disponível em: <http://www.telesurtv.net/articulos/2013/09/03/rajoy-se-niega-a-dar-una-rueda-de-prensa-conjunta-con-evo-morales-1240.html>. Acesso em: 16 jan. 2014. TELESUR. Hollande se disculpó con Evo Morales por incidente con avión presidencial. 21 jul. 2013f. Disponível em: <http://www.telesurtv.net/articulos/2013/07/21/presidente-frances-se-disculpo-con-evo-morales-por-accionar-de-su-nacion-durante-impase-aereo-2761.html>. Acesso em: 16 jan. 2014. TELESUR. Portugal pide disculpas a Bolivia por no dejar aterrizar avión presidencial. 19 jul.2013e. Disponível em: <http://www.telesurtv.net/articulos/2013/07/19/portugal-pide-disculpas-a-bolivia-por-no-dejar-aterrizar-avion-presidencial-2370.html>. Acesso em: 16 jan. 2014. TELESUR. Presidente de Bolivia aceptó disculpas de países europeos. 24 jul. 2013g. Disponível em: <http://www.telesurtv.net/articulos/2013/07/24/morales-acepto-disculpas-de-paises-europeos-tras-incidente-con-avion-presidencial-5086.html>. Acesso em: 16 jan. 2014. TELESUR. Presidentes latinoamericanos defenderán su derecho ante cualquier agresión. 29 jul. 2013h. Disponível em: <http://www.telesurtv.net/articulos/2013/07/29/presidentes-latinoamericanos-defenderan-su-derecho-ante-cualquier-agresion-278.html>. Acesso em: 17 jan.2014. THE GUARDIAN. European states were told Snowden was on Morales plane, says Spain. 5 jul. 2013b. Disponível em: <http://www.theguardian.com/world/2013/jul/05/european-states-snowden-morales-plane-nsa>. Acesso em: 13 jan. 2014.
97
THE GUARDIAN. Evo Morales threatens to close US embassy in Bolivia as leaders weigh in. Cochabamba, Bolívia, 5 jul. 2013a. Disponível em: <http://www.theguardian.com/world/2013/jul/05/bolivia-morales-close-us-embassy>. Acesso em: 13 jan. 2014 THE GUARDIAN. Glenn Greenwald's partner detained at Heathrow airport for nine hours. 19 ago. 2013c. Disponível em: <http://www.theguardian.com/world/2013/aug/18/glenn-greenwald-guardian-partner-detained-heathrow>. Acesso em: 7 jan. 2014. THE WASHINGTON POST. NSA slides explain the PRISM data-collection program. 6 jun. 2013. Disponível em:<http://www.washingtonpost.com/wp-srv/special/politics/prism-collection-documents/>. Acesso em: 16 jan.2014. TWIPLOMACY. Argentina. Disponível em: <http://twiplomacy.com/info/south-america/argentina/>. Acesso em: 2 mar. 2014a. TWIPLOMACY. Equador. Disponível em: <http://twiplomacy.com/info/south-america/ecuador/>. Acesso em: 2 mar. 2014b. TWIPLOMACY. Venezuela. Disponível em: <http://twiplomacy.com/info/south-america/venezuela/>. Acesso em: 2 mar. 2014c. TWITTER. About: company. Disponível em: <https://about.twitter.com/company>. Acesso em: 2 mar. 2014a.
TWITTER. Tweeting a presidential speech. Disponível em:
<https://media.twitter.com/success/tweeting-a-presidential-speech>. Acesso em: 2 mar.
2014b.
TWITTER. Using Twitter to facilitate policy change. Disponível em: <https://media.twitter.com/best-practice/using-twitter-to-facilitate-policy-change>. Acesso em: 2 mar. 2014d.
TWITTER. Why live-tweeting is important for government officials. Disponível em:
<https://media.twitter.com/best-practice/why-live-tweeting-is-important-for-
government>. Acesso em: 2 mar. 2014c.
UK. Terrorism Act. 21 set. 2000. Disponível em: <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/11/pdfs/ukpga_20000011_en.pdf>. Acesso em: 8 jan. 2014. UNASUL. Declaração de Cochabamba. Cochabamba, 4 jul. 2013. Disponível em: <http://www.unasursg.org/inicio/centro-de-noticias/archivo-de-noticias/declaraci%C3%B3n-de-la-unasur-frente-al-agravio-sufrido-por-el-presidente-evo-morales>. Acesso em: 10 set. 2013.
98
UNASUL. Declaración del Cusco sobre la Comunidad Sudamericana de Naciones III Cumbre Presidencial Sudamericana. Cusco, 8 dez. 2004. Disponível em: <http://www.unasursg.org/uploads/92/49/92492edfad3b9cf35387d22e39e5b9b1/Declaracion-del-Cusco-sobre-la-Comunidad-Suramericana-de-Naciones-2004.pdf>. Acesso: 8 fev.2014. UNASUL. Tratado Constitutivo. 2008. Disponível em: <http://www.unasursg.org/uploads/cb/f2/cbf2f9520ad902831b19a51f5b886959/Tratado-Constitutivo-version-portugues.pdf>. Acesso em: 26 ago.2013. UNESCO. One World, Many Voices: Towards a new more just and more efficient world information and communication order. 1980. Disponível em: <http://www.un-documents.net/macbride-report.pdf>. Acesso em: 28 nov. 2013. UNICRIO. Carta das Nações Unidas e Estatuto da Corte Internacional de Justiça. Rio de Janeiro, 2001. Disponível em: <http://unicrio.org.br/img/CartadaONU_VersoInternet.pdf>. Acesso em: 28 dez. 2013. WAACK, Wiliam. WikiLeaks, jornalismo e diplomacia. Revista Política Externa. São Paulo: Paz e Terra. v. 19. nº4. mar. 2011, p. 39-44. WATTS, Jonathan. David Miranda: 'They said I would be put in jail if I didn't co-operate'. The Guardian, 12 ago. 2013. Disponível em: <http://www.theguardian.com/world/2013/aug/19/david-miranda-interview-detention-heathrow>. Acesso em: 7 de janeiro de 2014. WATTS, Jonathan; ROBERTS, Dan. Bolivian president leaves Austria as diplomatic row erupts over diversion. The Guardian, 3 jul. 2013. Disponível em: <http://www.theguardian.com/world/2013/jul/03/bolivian-president-evo-morales-austria-plane>. Acesso em: 13 jan. 2014. WHITAKER, Beth Elise. Exporting the Patriot Act? Democracy and the 'War on Terror' in the Third World. Third World Quarterly, Vol. 28, No. 5 (2007), pp. 1017-1032. Disponível em: <http://www.jstor.org/stable/20454977>. Acesso em: 16 out. 2013. WIGHT, Martin. A política do poder. Brasília: Ed. UnB/IPRI; São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2002. WIKILEAKS. Edward Snowden submits asylum applications. 2 jul. 2013c. Disponível em: <http://wikileaks.org/Edward-Snowden-submits-asylum.html>. Acesso em: 7 jan. 2014. WIKILEAKS. Transcript of WikiLeaks Press Conference on Edward Snowden’s Exit From Hong Kong. 26 jun. 2013b. Disponível em: <http://wikileaks.org/Transcript-of-WikiLeaks-Press.html>. Acesso em: 7 jan. 2014. WIKILEAKS. What is Wikileaks?. Disponível em:<http://wikileaks.org/About.html>. Acesso em: 7 jan. 2014.
99
WIKILEAKS. WikiLeaks Statement On Edward Snowden’s Exit From Hong Kong. 23 jun. 2013a. Disponível em: <http://wikileaks.org/WikiLeaks-Statement-On-Edward,253.html>. Acesso em: 7 jan. 2014. ZAKARIA, Fareed. The Rise of Illiberal Democracy. Foreign Affairs: 1997. Disponível em: <http://www.foreignaffairs.com/articles/53577/fareed-zakaria/the-rise-of-illiberal-democracy>. Acesso em: 10 fev.2014