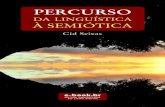UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA INSTITUTO DE …§ão... · Modelo de ficha catalográfica fornecido...
Transcript of UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA INSTITUTO DE …§ão... · Modelo de ficha catalográfica fornecido...
-
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA INSTITUTO DE HUMANIDADES, ARTES E CINCIAS
PROFESSOR MILTON SANTOS - IHAC PROGRAMA MULTIDISCIPLINAR DE PS-GRADUAO
EM CULTURA E SOCIEDADE
CSSIA MARIA ALVES NUNES
O QUE EU FARIA COM AQUILO QUE
ENTRAVA PELOS MEUS OLHOS? GESTO E POTICA NA FOTOGRAFIA DE ROGRIO FERRARI
Salvador
2016
-
CSSIA MARIA ALVES NUNES
O QUE EU FARIA COM AQUILO QUE
ENTRAVA PELOS MEUS OLHOS? GESTO E POTICA NA FOTOGRAFIA DE ROGRIO FERRARI
Dissertao apresentada ao Programa Multidisciplinar de
Ps-Graduao em Cultura e Sociedade da Universidade
Federal da Bahia, como requisito para obteno do grau de
mestre em Cultura e Sociedade.
Orientadora: Professora-Doutora Edilene Dias Matos
Salvador
2016
-
Modelo de ficha catalogrfica fornecido pelo Sistema Universitrio de Bibliotecas da UFBA para ser confeccionadapelo autor
Nunes, Cssia Maria Alves "O que eu faria com aquilo que entrava pelos meusolhos?": Gesto e potica na fotografia de Rogrio Ferrari/ Cssia Maria Alves Nunes. -- Salvador, 2016. 223 f. : il
Orientadora: Edilene Dias Matos. Dissertao (Mestrado - Programa Multidisciplinar de Ps-Graduao em Cultura e Sociedade) -- Universidade Federal daBahia, Instituto de Humanidades, Artes e Cincias ProfessorMilton Santos - IHAC, 2016.
1. Fotografia. 2. Documento/Arte. 3. Gesto. 4. Ciganos. 5.Antropologia. I. Matos, Edilene Dias. II. Ttulo.
-
CSSIA MARIA ALVES NUNES
O QUE EU FARIA COM AQUILO QUE
ENTRAVA PELOS MEUS OLHOS? GESTO E POTICA NA FOTOGRAFIA DE ROGRIO FERRARI
Dissertao apresentada ao Programa Multidisciplinar de Ps-Graduao em Cultura e
Sociedade do Instituto de Humanidades, Artes e Cincias Professor Milton Santos - IHAC,
Universidade Federal da Bahia, como requisito obrigatrio obteno do grau de Mestre em
Cultura e Sociedade.
Aprovada em 21 de dezembro de 2016
Banca Examinadora
Edilene Dias Matos Orientadora________________________________________________
Doutora em Comunicao e Semitica
Pontifcia Universidade Catlica de So Paulo
Helosa Helena Fernandes Gonalves da Costa Avaliadora externa____________________
Doutora em Sociologia da Cultura
Universit du Qubec Montral
Renata Pitombo Cidreira Avaliadora interna______________________________________
Doutora em Comunicao e Cultura Contemporneas
Universidade Federal da Bahia
-
Para M., por me ensinar que as gotas de diferentes mares so iguais.
-
AGRADECIMENTOS
Minha gratido a todos que contriburam para a realizao deste trabalho. Em especial,
agradeo:
Minha filha, urea, fonte perene de inspirao amorosa, pela generosa e to preciosa ajuda ao
longo da pesquisa.
Minha me, Nailde, pelo amor e estmulo ao estudo, desde os primeiros anos, e pelo apoio
contnuo no perodo de realizao da pesquisa.
Meu pai, Anfilfio (in memoriam), pelo amor e reconhecimento do meu trabalho.
Meus irmos, Jos Olmpio e Simone Maria, pela presena amiga e incentivo constantes.
Minha Professora Orientadora, Edilene Dias Matos, pela partilha generosa dos seus
conhecimentos, pela orientao competente, e pelas pores de carinho e poesia nos nossos
encontros de orientao.
Rogrio Ferrari que, imbudo de to bela misso, instiga o pensamento e os sentidos, nos
inspirando nesta dissertao de mestrado.
Professor Omar Barbosa Azevdo, pelo generoso apoio e reflexes produtivas ao longo da
pesquisa.
Professora Linda Rubim, por acreditar nesta proposta de trabalho acadmico.
Professoras Doutoras Renata Pitombo e Helosa Costa, que aceitaram fazer parte da banca
dando importantes contribuies para esta dissertao.
Alan Amaral, das Obras Sociais Irm Dulce, pelo apoio essencial para a realizao deste
projeto.
Centro de Estudos Exobiolgicos Ashtar Sheran e Instituto Roerich da Paz e Cultura do
Brasil, pelos conhecimentos que fortalecem minha alma.
Professores e colegas do Ps-Cultura, pelas contribuies ao desenvolvimento da pesquisa.
Ktia Borges e Daniela Castro, pelas primeiras e boas conversas na bancada da Revista
Muito/A Tarde.
E, finalmente, expresso minha gratido M., meu mestre, que me concedeu asas para voar.
-
A linguagem da arte
Chinolope vendia jornais e engraxava sapatos em Havana. Para
deixar de ser pobre, foi-se embora para Nova York.
L, algum deu de presente a ele uma mquina de fotografia.
Chinolope nunca tinha segurado uma cmera nas mos, mas disseram
a ele que era fcil:
Voc olha por aqui e aperta ali.
E ele comeou a andar pelas ruas. Tinha andado pouco quando
escutou tiros e se meteu num barbeiro e levantou a cmera e olho por
aqui e apertou ali.
Na barbearia tinham baleado o gngster Joe Anastasia, que estava
fazendo a barba, e aquela foi a primeira foto da vida profissional de
Chinolope.
Pagaram uma fortuna por ela. Chinolope tinha conseguido fotografar
a morte. A morte estava ali: no no morto, nem no matador. A morte
estava na cara do barbeiro que a viu.
Eduardo Galeano (2005, p. 25)
-
NUNES, Cssia Maria Alves. O que eu faria com aquilo que entrava pelos meus olhos?
Gesto e potica na fotografia de Rogrio Ferrari. 223 f. il. 2016. Dissertao (mestrado)
Instituto de Humanidades, Artes e Cincias Professor Milton Santos, Universidade Federal da
Bahia, Salvador, 2017.
RESUMO
Partindo de consideraes sobre a capacidade da fotografia documental de portar e difundir
informao e memria, e, ao mesmo tempo, de expressar contedos de natureza esttica, esta
pesquisa objetiva refletir sobre a frico documento/arte no mbito da fotografia
contempornea, buscando aferir as evidncias dessas tenses no livro Ciganos (2011), do
fotgrafo e antroplogo Rogrio Ferrari. Por meio de um conjunto de 87 fotografias em preto
e branco, a obra revela o cotidiano de grupos ciganos mapeados em 40 municpios da Bahia,
atravs de uma perspectiva de contraponto ao esteretipo que marca a histria desse povo. O
volume em recorte integra o Projeto Existncias-Resistncias, que, levantando importantes
questes sociopolticas, vem possibilitando ao autor baiano documentar povos e movimentos
sociais em luta por autoafirmao, em um profcuo dilogo com a antropologia. A leitura
desta narrativa visual que modula densidade temtica e leveza esttica, prope caminhos para
a compreenso da fotografia de Ferrari como proposta de ao, compartilhada com o
espectador atravs de sua obra.
Palavras-Chave: Fotografia, documento/arte, gesto, ciganos, antropologia.
-
NUNES, Cssia Maria Alves. What would I do with that that entered my eyes? Attitude
and poetics in Rogrio Ferraris photography. 223 f. il. 2016. Master Dissertation Instituto
de Humanidades, Artes e Cincias Professor Milton Santos, Universidade Federal da Bahia,
Salvador, 2017.
ABSTRACT
Documentary photography has the ability to carry and diffuse information and memory, and,
simultaneously, to express contents of aesthetic nature. Based on this consideration, this
research aims to reflect on the document/art intersection in the context of contemporary
photography, attempting to gauge the evidence for this intersection in the book Ciganos
(2011), by the photographer and anthropologist Rogrio Ferrari. By means of an ensemble of
87 black and white portraits, his work reveals the everyday of groups of gypsies located in 40
municipalities in Bahia, through a contrapuntal view to the stereotype that marks the gypsy
history. Ciganos is part of project Existncias-Resistncias, through which the author
documents peoples and social movements in their fight for self-affirmation. Thereby, it raises
important sociopolitical questions and establishes a fruitful dialogue with anthropology. With
the study of this visual narrative that articulates thematic density and aesthetic lightness, we
present a way of comprehending Ferraris photography as a proposal of action, which he
shares with the spectator through his work.
Keywords: Photography, document/art, attitude, gypsies, anthropology.
-
LISTA DE ILUSTRAES
Figura 1 Der Rhein II, 1999...................................................................................22
Figura 2 Billy the Kid, 1878...................................................................................33
Figura 3 Andy and Muriel, Jalama Beach, California, 2011..................................33
Figura 4 Instalao, Srie Imemorial, 1994...........................................................34
Figura 5 Tomada Area sobre o Kuwait, Srie Fait, 1991.....................................35
Figura 6 Homem palestino, tanque israelense. Ramallah, Cisjordnia, 2002....38
Figura 7 Menino cigano......................................................................................40
Figura 8 Festa cigana..........................................................................................61
Figura 9 Cigano sobre cavalo.............................................................................62
Figura 10 Political Rally, Chicago, 1956.................................................................65
Figura 11 Identical Twins, Roselle, New Jersey, 1967............................................69
Figura 12 Refugee Camp at Benako, Tanzania, 1994..............................................71
Figura 13 Candy Store, New York City, New York, 1955......................................72
Figura 14 Cigana e tronco de rvore....................................................................76
Figura 15 Fonte, 1917..............................................................................................85
Figura 16 Untitled (Photogram), 1923-1925............................................................89
Figura 17 Four-Sided Picture (MYRB) 2007...........................................................89
Figura 18 Marilyn Monroe, 1967.............................................................................93
Figura 19 Ecrivain Public, Rafale Decarpigny, 2007.............................................97
Figura 20 One and Three Chairs, 1965....................................................................99
Figura 21 cfaal 306, 2013.......................................................................................103
Figura 22 A cigana e o cigano............................................................................109
Figura 23 On the Move, 2002-2004.......................................................................109
Figura 24 Cigana e rede......................................................................................110
Figura 25 Nyunt Nyunt and Hla Ta Min, May, 1997.............................................111
Figura 26 Famlia curda, pai ausente. Amed/Diyarbakir....................................112
Figura 27 Qurban Gul Holding a Photograph of Her Son Mula Awaz, Khairabad,
Northern Pakistan, 1998.........................................................................112
Figura 28 Near Checkpoint Charlie, Berlin, 1961..................................................116
Figura 29 Subcomandante Marcos.........................................................................121
Figura 30 Nicargua, 1987.....................................................................................122
Figura 31 Movimento Sem Terra/MST..................................................................123
Figura 32 Mulheres ciganas paramentadas.........................................................125
Figura 33 Capa de Palestina, a eloquncia do sangue, 2004.................................134
Figura 34 Capa de Zapatistas, a velocidade do sonho, 2006.................................135
Figura 35 Capa de Curdos, uma nao esquecida,2007........................................135
Figura 36 Capa de Palestine, 2008.........................................................................136
Figura 37 Capa de Sahraouis, 2010.......................................................................137
Figura 38 Capa de Ciganos, 2011..........................................................................137
Figura 39 Refugiados palestinos. Al-Khalil, Cisjordnia, 2002.........................138
-
Figura 40 Olhar Calon........................................................................................146
Figura 41 Banho de menino em acampamento cigano.......................................162
Figura 42 Relao histrica com os cavalos.......................................................164
Figura 43 Casa com jeito de barraca...................................................................166
Figura 44 Os valores na organizao de uma casa cigana..................................166
Figura 45 Grupo de ciganos sentados sob rvores..............................................168
Figura 46 Negcios em praa pblica.................................................................169
Figura 47 Universo feminino em diferentes geraes........................................173
Figura 48 Ciganas em uma de suas representaes tradicionais........................173
Figura 49 Um casal Calon..................................................................................174
Figura 50 Postura de um Calon..........................................................................175
Figura 51 Etapas do processo de interpretao da obra.........................................179
Figura 52 Olhares que que interrogam, envolvem, ofuscam..............................182
Figura 53 Acampamento cigano.........................................................................182
Figura 54 Calin correndo na chuva.....................................................................184
Figura 55 Mos sobre o ventre...........................................................................186
Figura 56 Olhos que falam..................................................................................187
Figura 57 Sem comeo nem fim.........................................................................189
Figura 58 Retrato da ciganidade.........................................................................190
Figura 59 Atitude Calon.....................................................................................191
Figura 60 Dana cigana......................................................................................193
Figura 61 Casamento cigano..............................................................................194
Figura 62 O acampamento visto de dentro.........................................................196
Figura 63 Brincadeira de calins..........................................................................197
Figura 64 Fotgrafo e antroplogo Rogrio Ferrari...............................................216
NOTAS:
1. Todas as imagens apresentadas nesta dissertao esto disponveis em CD, em um tamanho que favorece uma melhor visualizao. Esto dispostas na ordem em que
surgem no texto.
2. A utilizao das fotografias de Rogrio Ferrari nesta dissertao foram autorizadas pelo fotgrafo.
-
SUMRIO
INTRODUO ......................................................................................................................14
1. A FOTOGRAFIA COMO MEMRIA: BASES DOCUMENTAIS..............................22
1.1 CONSIDERAES SOBRE O DOCUMENTO FOTOGRFICO NA CONTEMPORA-
NEIDADE.........................................................................................................................................22
1.2 A FOTOGRAFIA DOCUMENTAL..................................................................................46
1.2.1 Apontamentos sobre o real fotogrfico............................................................................49
1.2.2 Fotodocumentarismo e fotojornalismo: diferenas bsicas.............................................54
1.3 A FOTOGRAFIA COMO MEMRIA..............................................................................56
2. DA EXPRESSO ARTE, AS MLTIPLAS FACES DA FOTOGRAFIA................62
2.1 A EXPRESSO: NOVAS POSSIBILIDADES NO CAMPO FOTOGRFICO..............62
2.2 DA FOTOGRAFIA FOTOGRAFIA ARTSTICA........................................................78
2.3 A ARTE FOTOGRFICA: MODOS DE REPRESENTAO NA CONTEMPORANEI-
DADE......................................................................................................................................100
2.4 DA FOTOGRAFIA SEM-ARTE FOTOGRAFIA ARTSTICA: REFLEXES ES-
SENCIAIS...............................................................................................................................113
3. TRANSGRESSES DA FOTOGRAFIA DOCUMENTAL NO PROJETO
EXISTNCIAS-RESISTNCIAS: O GESTO E A POTICA DE ROGRIO FER-
RARI......................................................................................................................................119
3.1 O AUTOR.........................................................................................................................119
3.1.1 A potica........................................................................................................................126
3.1.2 O projeto.......................................................................................................................131
3.1.3 Gesto e interveno social............................................................................................138
3.2 A ESTTICA DE CIGANOS............................................................................................142
-
3.2.1 A fotografia como forma de pensar antropologia..........................................................142
3.2.2 Traos de uma cultura milenar.......................................................................................147
3.2.3 Os ciganos na Bahia segundo Rogrio Ferrari...............................................................159
3.3 FOTOGRAFIA QUE PEGA PELA MO ...................................................................176
3.3.1 Argumento e mtodo de interpretao...........................................................................176
3.3.2 A narrativa......................................................................................................................181
3.3.3 Leitura das imagens.......................................................................................................184
4. CONSIDERAES FINAIS...........................................................................................199
REFERNCIAS....................................................................................................................208
APNDICE Entrevista com Rogrio Ferrari......................................................................216
ANEXO Lista de Municpios Percorridos por Rogrio Ferrari Durante o Projeto Ciganos
(2011)......................................................................................................................................223
-
14
INTRODUO
Se, de fato, fotografar escrever com a luz", tal como diz a etimologia da palavra, ento,
antes de mais nada, h de se compreender que em sua prpria natureza a fotografia revela uma
tendncia a borrar suas fronteiras, a transgredir gneros, a no se conter de maneira comportada
dentro do contorno de definies mais precisas ou de, em certa medida, contrariar as tentativas
de catalogao segundo suas inclinaes. Sua essncia polissmica, composta de ambiguidades
fundamentais, continua a acalorar debates e provocar o aprofundamento da pesquisa, pois o
olhar contemporneo admite uma pluralidade a ser contemplada e, sobretudo, explorada.
A partir de tais premissas, podemos dizer que o gnero documental ou
fotodocumentarismo, enfocado nesta dissertao, um dos que escapam a uma definio mais
objetiva. O documentarismo fotogrfico, que surgiu na dcada de 30 do sculo passado
dedicando-se narrativa de cenas reais, a partir do registro, sobretudo, de temas sociais,
distinguiu-se por sua capacidade de estimular o pensamento crtico, contemplando propostas de
natureza tica e esttica. Assim, ao articular sua capacidade de portar e difundir informao e
memria, e, ao mesmo tempo, contedos de expresso esttica, a fotografia documental nos
intriga no apenas por situar-se no entre-lugar documento/arte, mas por revelar-se capaz de
manter-se no cerne de questes de grande atualidade.
Para a compreenso do nosso tema de estudo, antes de problematizar, essencial trazer
tona o conceito de esttica, considerando suas nuances e relevncia nesse contexto.
Reconhecendo as sucessivas extenses do termo, em parte determinadas pelas nuances da
prpria natureza, dos limites, incumbncias e mtodo da esttica, o esteta Luigi Pareyson (1989,
p. 1), afirma que hoje possvel entender por esttica
toda teoria que, de qualquer modo, se refira beleza ou arte: seja qual for a
maneira como se delineie tal teoria ou como metafsica que deduz uma
doutrina particular de princpios sistemticos, ou como fenomenologia que
interroga e faz falar os dados concretos da experincia, ou como metodologia e
crtica das obras de arte, e at como complexo de observao tcnica e de
preceitos que possam interessar tanto a artistas quanto a crticos ou historiadores
; onde quer que a beleza se encontre, no mundo sensvel ou num mundo
inteligvel, objeto da sensibilidade ou tambm da inteligncia, produto da arte
ou da natureza; como quer que a arte se conceba, seja como arte em geral, de
modo a compreender toda a tcnica humana ou at a tcnica da natureza, seja
especificamente como arte bela (PAREYSON, 1989, p. 2).
-
15
Buscando uma definio mais precisa, o terico tece algumas consideraes quanto ao
carter filosfico e concreto da esttica concluindo que a esttica filosofia
justamente porque reflexo especulativa sobre a experincia esttica, na qual
entra toda a experincia que tenha a ver com o belo e com a arte: a experincia
do artista, do leitor, do crtico, do historiador, do tcnico da arte e daquele que
desfruta de qualquer beleza. Nela entra, em suma, a contemplao da beleza,
quer seja artstica, quer natural ou intelectual, a atividade artstica, a
interpretao e avaliao das obras de arte, as teorizaes das tcnicas das vrias
artes (PAREYSON, 1989, p. 5).
Desta forma fica evidente o papel da esttica nas questes que emergem no contexto aqui
apresentado. Sobretudo, quando consideramos que, enquanto nesse mundo imagem
(SONTAG, 2013) contemporneo conjectura-se o declnio da fotografia documental
pressentido principalmente a partir do advento da tecnologia digital, atravs da qual imagens
so manipuladas diretamente no computador, levando-se a questionar a funo da fotografia
como testemunha dos fatos , fotgrafos documentaristas e artistas fotogrficos vm criando
novas maneiras de produzir, expressar e fazer circular a fotografia voltada documentao de
eventos, coisas e pessoas.
Assim, ao invs de deixar-se engolfar por uma acachapante homogeneidade visual, o
fotodocumentarismo vem se reinventando, seja pela busca de novas formas que amplificam sua
proposta de dialogar com diferentes reas do conhecimento; seja pela tendncia
contaminao das tcnicas e de hibridismo dos suportes, como orienta o projeto esttico
contemporneo, no qual a fotografia hoje se insere, segundo Fernandes Junior (2006, p. 15).
Dessa forma, num contexto marcado pela busca da diversidade e da multiplicidade dos
procedimentos, a fotografia contempornea torna-se suporte para vrias manifestaes
imagticas que exigem do espectador uma capacidade de leitura diferenciada (idem).
Nesta dissertao, queremos mostrar que, no terreno conquistado pela fotografia em
acervos de grandes galerias de arte e museus do mundo, desde o ltimo quarto de sculo, quando
passou a afirmar-se como produto cultural, h espao tambm para a fotografia documental em
franco processo de redimensionamento. Do mesmo modo, observamos que nos circuitos
transversais, novos criadores do gnero que tm como proposta narrar histrias por meio de
imagens sequenciadas, apresentam projetos que questionam a tnue fronteira entre o documento
e a arte.
A tendncia desse gnero a recusar-se a uma conformao chapada nos limites de um
segmento fotogrfico, como que preconizando a abertura que hoje vemos, em termos de sua
experimentao como linguagem e representao, instigante em si mesma. Assim, nos
interessamos em observar essas transgresses no mbito de Ciganos (2011), obra do fotgrafo
-
16
independente e antroplogo baiano, Rogrio Ferrari, pois sua fotografia de bases documentais
com encadeado dilogo com a antropologia e forte idealismo sociopoltico, revela-se, ao mesmo
tempo, uma expresso esttica. Buscaremos, pois, por meio dessa proposta de estudo,
compreender o gesto poltico de Ferrari que d sentido potica pujante e sensvel de sua
narrativa visual sobre os ciganos na Bahia.
importante sublinhar que, por potica, entendemos uma maneira de fazer com o olhar
ampliado. Ou, como bem define Edilene Dias Matos (2015, p. 95): E o potico isso: espao
livre de circulao e dana dos saberes, que fecunda culturas e insemina conhecimentos.
Pareyson (1989) observa que a potica assim como a crtica tem o carter de uma
reflexo sobre a arte, contudo dedica-se a considerar diferenciaes: A potica diz respeito
obra por fazer e a crtica obra feita, cabendo primeira a tarefa de regular a produo de
arte e segunda, uma funo avaliadora da obra (Ibid., p. 10-11). Assim, o autor considera
que a potica um programa de arte, declarado num manifesto, numa retrica ou mesmo
implcito no prprio exerccio da atividade artstica; ela traduz em termos normativos e
operativos um determinado gosto, que, por sua vez, toda a espiritualidade de uma pessoa ou
de uma poca projetada no campo da arte (Id., ibid., p. 11). Dessa forma, esttica, potica e
crtica esto atreladas atividade artstica, mas se diferenciam porquanto a esttica filosofia,
e, relativamente a ela, a arte, com as conexas crtica e potica, so experincia, isto objeto de
reflexo (Ibid., p. 10). Estud-las implica em considerar tais sutilezas.
A fim de formatar a presente proposta, inicialmente faremos uma reflexo sobre a
fotografia como memria, procurando caracterizar os elementos que constituem suas bases
documentais. Partiremos de algumas consideraes que posicionam o documento fotogrfico
na contemporaneidade, observando conceitos e prticas que o contextualizam, buscando, com
isso, situar o nosso objeto de estudo nessa conjuntura. Num segundo momento, vamos estudar
as articulaes da fotografia com a arte, revendo um potencial histrico que vem ampliando
suas possibilidades de dilogo e precipitando transformaes importantes em ambos os campos
da fotografia e da arte e, desse modo, provocando novas e contnuas reflexes. Na ltima
parte, nos dedicaremos a analisar o nosso objeto de trabalho. Tomando o gesto e a potica de
Rogrio Ferrari, observaremos transgresses do modelo clssico do documentarismo, a partir
da proposta do fotgrafo de dialogar abertamente com diferentes reas do conhecimento,
sobretudo com a antropologia e a arte, para revelar a realidade dos ciganos encontrados na
Bahia. Desse modo, nosso corpus emprico se organiza em trs captulos, a saber:
-
17
No Captulo 1, nosso foco ser a fotografia como base de documentao de fatos, pessoas
e eventos, sua contribuio fundamental para a construo da memria e de realidades, assim
como o papel do fotgrafo atuando como filtro cultural no processo criativo. Para isso, nos
nortearemos principalmente pelos estudos de Boris Kossoy (2002, 2007, 2009), com
importantes ponderaes de Merleau-Ponty (2004a) e Susan Sontag (2013). Vamos definir o
que chamamos de fotografia documental e apresentar suas caractersticas, bem como mostrar
como esto se refletindo nesse gnero as transformaes experimentadas pela fotografia no
ltimo quarto de sculo, quando alcanou um status de bem da cultura. Kossoy nos
fundamentar tambm nessas questes, e contaremos ainda com as contribuies essenciais de
tericos como Sontag (2013), Soulages (2010), Dubois (2013), Rouill (2009), Cotton (2013),
Sousa (2000), alm de McLuhan (1998) e Bauman (2012), que nos ajudaro a compreender e
contextualizar esses movimentos.
Nesse processo de intensas transformaes do dispositivo fotogrfico, envolvendo desde
sua natureza a seus usos e modos de circulao, nos posicionaremos quanto a discusso atual,
acerca de uma possvel crise da fotografia apreendida como mero produto utilitrio: nos
proporemos a observar o fluxo da fotografia na contemporaneidade, com o intuito de dar uma
contribuio a essa reflexo. Sero de fundamental importncia as mediaes tericas de
Rouill (2009) e Cotton (2013). Com isso, buscaremos situar o nosso objeto de estudo
Ciganos (2011), de Rogrio Ferrari nesse contexto, sublinhando sua interveno na memria
desse povo na Bahia. A discusso da fotografia como memria se desenvolver com base na
teoria de Paul Zumthor (1997), que analisa a modulao dialtica da memria e de sua
contraparte, o esquecimento, numa vivncia de grupo (caso dos ciganos); e de Kossoy (2007,
2009), que assinala o papel de interlocuo da fotografia com o passado e com as memrias
silenciosas.
No Captulo 2, passaremos a nos dedicar a compreenso da fotografia como expresso e
matria-prima artstica, buscando demonstrar sua natureza polissmica, a partir de seu
significativo potencial de conexes com a arte. Para abordar a expresso como uma proposta
de novos caminhos no campo fotogrfico, nos embasaremos nos estudos de Aumont (2002) e
Rouill (2009) com intervenes pontuais de tericos como Soulages (2010), Salles (2007) e
Sontag (2013) , sobretudo para aludir s caracterizaes da fotografia expressiva, que prima
pela liberdade criadora, reunindo recursos como a produo de sentido e de formas, capazes de
imprimir um estilo ao autor e sua obra. Nesse contexto, caber uma abordagem essencial da
expressividade consciente na obra de Ferrari, considerando o modelo emprico de um trabalho
de fortes caractersticas autorais.
-
18
A partir de uma apresentao da expressividade na fotografia como abertura potencial
para um dilogo com a arte, vamos propor uma retomada a uma questo ontolgica, relativa
essncia artstica ou no artstica da fotografia, que emergiu ainda no sculo XIX e encorpou o
debate ao longo de dcadas. Ao revolver a intrincada relao entre fotografia e arte, observando
aspectos deste influxo, buscaremos a compreenso de um processo que nos d a perceber um
movimento dual, que, se de um lado aponta para uma tendncia de transformao da fotografia
contempornea em fotografia artstica, de outro, pe em relevo o fato de que a arte
contempornea vem revelando-se fotogrfica. Acerca desta questo e aqui inclumos desvios
e desdobramentos , sero valiosas as reflexes de diferentes tericos: Dubois (2013),
provocando-nos a pensar sua inverso; Rouill (2009), propondo diferenciaes elementares
que situam a arte dos fotgrafos e a fotografia dos artistas; e Soulages (2010) e Cotton (2013),
que nos atualizaro sobre as relaes da fotografia contempornea com as outras artes.
Neste captulo, nos dedicaremos a dissertar acerca da fotografia, no mais como
instrumento da arte, mas enquanto matria artstica, relacionando seus modos de representao
na contemporaneidade. Contaremos com a pesquisa fundamental de Cotton (2013), que nos
lanar em um universo de excepcional pluralidade. Por fim, vamos propor um debate em torno
de uma questo intrigante: o que define se uma obra artstica ou no artstica? Partiremos das
ideias de Soulages (2010), de que possvel processar deslocamentos do sem-arte para a arte
ideias, por sua vez, embasadas na tese do historiador Jean-Claude Lemagny, de que, a priori,
toda fotografia pode ser considerada sob o ngulo do documento ou sob o ngulo da obra de
arte. Com isso, nossa pretenso ser alcanar uma compreenso sobre a interseo
documento/arte que nos instiga nesse estudo da obra fotogrfica de Rogrio Ferrari.
No Captulo 3, chegaremos ao cerne do trabalho e, assim, ao corpus emprico designado
nesta proposio de pesquisa. Vamos apresentar o autor, seu projeto, bem como sua potica e
o gesto com propsito de interveno social. Em seguida, nos aprofundaremos na esttica de
Ciganos (2011), observando o dilogo do autor com a antropologia, e acessando as referncias
de uma cultura milenar, para, ento, situ-la na Bahia, a partir do mapeamento feito por Ferrari.
Finalizaremos, fazendo uma leitura de imagens da obra pesquisada, procurando observar as
escolhas estticas do fotgrafo. Dessa forma, tomaremos Ciganos (2011) como espao de
observao de provveis transgresses da fotografia documental no contexto do projeto
Existncias-Resistncias, a partir das percepes em torno do gesto e da potica do autor.
Acreditamos que esse estudo poder nos dar elementos para uma compreenso do ethos e da
esttica da obra, bem como de formas possveis da interseo documento/arte na fotografia de
Ferrari disposta neste volume.
-
19
Na primeira parte, voltaremos nossa ateno para o trabalho e as escolhas do autor,
fotgrafo independente e mestre em antropologia, buscando entender as motivaes desse
baiano de Ipia (BA), que percorre o mundo decidido a documentar a realidade de povos e
movimentos sociais envolvidos em questes humanitrias e conflitos geopolticos. Resultado
do projeto Existncias-Resistncias, que desenvolve desde 2002, e que inclui registros de
ciganos em 40 municpios da Bahia colocados em relevo nesta dissertao, essas fotografias
traduzem ideologias, sentimentos e vises de mundo, bem como produzem sentidos e
experincias estticas singulares. Assim, iremos perceber que, ao mesmo tempo em que
encantam, suas fotografias provocam indagaes essenciais, levando-nos, com o autor, a pensar
a relao entre o fotgrafo, seus personagens e o fruidor: [...]. Qual a distncia e a relao entre
quem retrata, quem v e quem retratado? (FERRARI, 2007, p. 87).
Neste sentido, perceberemos o entrelaamento da histria do homem idealista e a
trajetria do antroplogo visual, buscando o encontro com o outro o retratado e o receptor ,
num contexto onde a fotografia passa, em certa medida, a constituir-se em pretexto para esta
convergncia. Desse modo, pretendemos constatar a interveno consciente do gesto desse
autor em sua potica, muito frequentemente alando os seus retratados a uma posio de
coautoria do trabalho. Iremos observar que esse olhar de Ferrari, que busca o dilogo com o
outro, convoca as ideias de Merleau-Ponty acerca de uma viso de mundo consciente (2004a)
e de uma experincia de intercorporalidade (apud BOSI, 1989). Com isso, nossa abordagem
seguir por um caminho de entendimento em torno de um artista que fotografa com o corpo, a
partir de sua apreenso do mundo sensvel, bem como da fotografia como matriz de sentidos.
Ainda na primeira parte, apresentaremos o projeto Existncias-Resistncias, abordando o
seu propsito e cada uma das obras publicizadas que o compem. Queremos compreender
como, em Ferrari, funcionam os mecanismos do filtro cultural de que nos fala Kossoy (2002,
2007, 2009) e at que ponto esta obra nos remete a uma autobiografia e, sendo assim, se h
uma possibilidade de deslocamento do plano individual para um plano universal, como
teoriza Soulages (2010). Por fim, vamos procurar revolver o gesto, apreendido como atitude, a
partir da inquietao que moveu o prprio Ferrari na estruturao de sua obra, e que tambm se
projeta no desenvolvimento desta dissertao: O que eu faria com aquilo que entrava pelos
meus olhos e o que fazer com a ebulio do meu sangue? (FERRARI, 2004, p. 158). Para
tanto, contaremos com contribuies de tericos como Bhabha (1998) e Bauman (2005) para
abordar a luta pela terra e as questes de identidade dos personagens retratados.
Na segunda parte, veremos que, atravs da documentao fotogrfica dos ciganos na
Bahia, Rogrio Ferrari nos oferece, ao mesmo tempo, a oportunidade de apreciao de um
-
20
campo etno-visual, que d a conhecer um mundo cigano, possibilitando ao fruidor dissolver
algumas pressuposies equivocadas, como acredita a doutora em antropologia, Florencia
Ferrari (2011, p. 11). Para ns, tal premissa demonstra que a fotografia tambm uma forma
de o fotgrafo pensar antropologia. Como isso se d atravs do dilogo
autor/personagem/fruidor; fotografia/antropologia , consideraremos algumas reflexes com
base no conceito de antropologia da comunicao visual de Massimo Canevacci (2001), a
fim de ressaltar essas tenses.
Os grupos registrados pela cmera de Ferrari iro nos remeter histria de um mosaico
tnico, como nos alertar o pesquisador Rodrigo Corra Teixeira (2008, p. 9). Com base no
suporte terico deste autor e de pesquisadores como Florencia Ferrari (2002, 2010, 2011) e
Marcos Guimarais (2012), veremos que preciso considerar as ambiguidades e particularidades
que diferenciam os ciganos dos no ciganos para compreender os problemas da identidade
cigana. Nesse caso, iremos relacionar fatores como sua origem controvertida e a predominncia
de padres de excluso e restrio, fomentados por uma tendncia ao esteretipo. Nessa
apresentao do universo cigano, iremos nos deparar com especificidades como uma
nomenclatura particular, utilizada pelos diversos grupos, e em especial pelos Calon focalizados
na obra de Rogrio Ferrari. Com base nos estudos de Florencia Ferrari (2010), Guimarais (2012)
e Teixeira (2008), apresentaremos termos ciganos (grafados em itlico), como gadje para
designar um no cigano e suas variaes: gajin (para uma pessoas do sexo feminino) ou gajon
(masculino).
Em diferentes medidas, as questes mencionadas se evidenciam tambm entre os ciganos
mapeados por Rogrio Ferrari. Vamos mostrar o recorte: quem so os personagens apresentados
na obra, como o autor os representa e que temas emergem dessas realidades, a partir dos
elementos de socialidade captados nas fotografias. Destacaremos, desse modo, as relaes que
se evidenciam entre os diferentes grupos fotografados. Primeiro, abordaremos seu domnio da
espacialidade, contando, sobretudo, com as contribuies de Bhabha (1998) e Bauman (2005)
para observar como os ciganos pensam conceitos como territrio e mobilidade; e com Marc
Aug (2005), para compreender seus deslocamentos entre o lugar e o no-lugar. Depois,
buscaremos compreender a relao dos ciganos com o tempo enfatizada no presente ,
tomando como base os estudos de Florencia Ferrari (2010, 2011), Guimarais (2012) e Teixeira
(2008). E, por fim, iremos abordar a representao dos universos feminino e masculino, que
surgem na narrativa da obra em diferentes situaes que os distingue, segundo enunciados da
cultura e da moral que regem os grupos. Para isso, sero fundamentais para o nosso
-
21
embasamento, os conhecimentos da pesquisa de Florencia Ferrari (2010), bem como de sua
leitura da obra Ciganos (2011).
Ao reconhecermos o potencial subjetivo da fotografia e sua capacidade de nos fazer
pensar, na ltima parte do Captulo 3 faremos a leitura de algumas imagens da obra de Rogrio
Ferrari, Ciganos (2011). Nosso argumento se sustentar no duplo objetivo: por um lado,
compreender nosso objeto de estudo a partir dos temas emergentes da narrativa; e, por outro,
observar mais atentamente a obra de Ferrari como espao de frico documento/arte, atravs de
amostras fotogrficas selecionadas. Quanto ao mtodo, iremos desenvolver esse estudo a partir
de recortes do tema central, pois observamos que na narrativa alguns subtemas emergem com
mais fora. Desse modo, organizaremos a leitura das imagens baseada nos subtemas: O corpo,
O olhar, Valores calons, Os rituais, O cotidiano. Para efeito, tomaremos 10 fotografias como
amostra de representao, sendo duas para cada enunciado. Cada uma das fotografias ser
analisada segundo o mtodo interpretativo, com base nos seguintes critrios: A) Descrio do
enunciado; B) Estrutura da imagem; C) Frico documento/arte. Antes de fazer a leitura das
fotografias, entretanto, vamos observar como Rogrio Ferrari conduz a narrativa da obra.
Para desenvolver essa proposta, iremos contar com um referencial terico baseado na
leitura das fotografias apresentada por Alberto Manguel em seu ensaio Lendo imagens: uma
histria de amor e dio (2001), no qual prope que cada imagem tem uma histria para contar,
e que possvel interpret-las. Consideraremos, concomitantemente, as teorias de Jacques
Aumont (2002) para nos ajudar na compreenso dos valores plsticos contidos na estrutura da
imagem; e alguns conceitos de Roland Barthes (2012) e Franois Soulages (2010), os quais
tambm iro contribuir com o estudo.
Ao abordar a obra de Ferrari no mbito da Cultura e Arte linha de pesquisa que optamos
para o desenvolvimento deste trabalho buscamos uma compreenso das questes que
perpassam sobretudo a natureza esttica de Ciganos (2011), resultado de um todo almagamado
forma e contedo subjacente ao gesto consciente do autor. Esperamos que as reflexes
suscitadas possam contribuir para o pensamento sobre fotografia, como forma de expresso de
amplas possibilidades; sobre o gesto criador, como potencial questionador e de transformao;
bem como da nossa atitude enquanto espectadores da obra. Do mesmo modo, ensejamos que
esta apresentao sobre os ciganos, revelada atravs de um movimento consciente de
intercorporalidade do autor com seus personagens, possa contribuir para pensar a alteridade
pela via da arte e da cultura. Contudo, acreditamos que a obra em estudo, Ciganos (2011)
assim como toda a obra de Rogrio Ferrari , se constitui em um campo vasto para a pesquisa,
se mantendo aberta a novas abordagens e indagaes.
-
22
1. A FOTOGRAFIA COMO MEMRIA: BASES DOCUMENTAIS
1.1 CONSIDERAES SOBRE O DOCUMENTO FOTOGRFICO NA
CONTEMPORANEIDADE
Desde as ltimas dcadas do sculo XX, a fotografia vem experimentando uma intensa
transformao, tanto em sua natureza, como em seus usos, at tornar-se bem de consumo
cultural. Assistimos, assim, a uma significativa mudana de tendncia, marcada por
acontecimentos que incluem desde a criao de festivais, galerias e escolas especializadas
publicao de obras e pesquisas; em paralelo, artistas passaram a fazer uso gradativo de
procedimentos fotogrficos, culminando com a formao de um mercado que se expandiu
mundialmente. Podemos aqui tomar como emblema da cena contempornea o arremate de Der
Rhein II (Figura 1), obra do fotgrafo alemo Andreas Gursky, por US$ 4,3 milhes, em um
leilo, no ano de 2011, tornando-se, quela poca, a fotografia mais valorizada do mundo1.
Figura 1 Der Rhein II, 1999
Fotgrafo: Andreas Gursky
As mudanas substanciais, reveladas notadamente a partir dos anos 1970 e marcadas,
entre outros fatores, pela passagem do universo analgico ao digital e pelo percurso da
fotografia hegemnica do fotojornalismo sua consagrao no campo da arte contempornea,
1 A fotografia, uma panormica do rio Reno, na Alemanha, foi registrada em 1999. A Christies, uma das maiores casas de leilo do mundo, foi a responsvel pela operao, realizada em Nova York, Estados Unidos, em 8 de nov.
2011.
-
23
esboam um novo olhar para a fotografia (COTTON, 2013; KOSSOY, 2002; ROUILL, 2009;
SOULAGES, 2010). Se, at ento, as produes fotogrficas eram consideradas por sua
utilidade, passaram a ser admiradas por si mesmas, substituindo-se o uso prtico do dispositivo
pela ateno sensvel e consciente prestada s imagens (ROUILL, 2009, p. 15). Com o
deslocamento da fotografia de um contexto considerado utilitrio para os domnios da cultura
e da arte, surgiram novas prticas e formas de produo, outros usos e autores.
Concomitantemente, a tecnologia digital promoveu tanto o incremento da produo de imagens
como a criao de importantes circuitos de difuso.
Encontramos ressonncia das consideraes dos tericos na fala de Jean-Luc
Monterosso, criador do festival Mois de la Photo e diretor da Maison Europenne de la
Photographie2, referncia da fotografia contempornea no mundo, cuja coleo reflete com
fidelidade a evoluo da fotografia que, durante esse perodo, passou de documento ao status
de obra de arte3.
Rouill (2009) defende que a aproximao da fotografia com as artes plsticas foi
facilitada, por um lado, em um processo que inclui no s seu novo formato de apresentao
como a atualizao de leituras do seu contedo; e, por outro, pelos sinais de declnio histrico
de seus usos prticos. Para o pesquisador, enquanto aperfeioa-se o dispositivo fotogrfico, d-
se a queda gradativa do valor documental das imagens, fato que ele explica baseando-se na
leitura das necessidades da sociedade ps-moderna em relao s imagens:
A fotografia foi um dos documentos primordiais da modernidade, dos
diferentes estgios da sociedade industrial. Atualmente, essa sua funo est
amplamente ameaada por imagens outras, de tecnologias muito mais
sofisticadas, incomparavelmente mais rpidas e, principalmente, mais bem
adaptadas aos funcionamentos e aos regimes de verdade da sociedade de
informao (ROUILL, 2009, p. 28)
A desvalorizao do documento debate atual no mbito da fotografia, ao qual se
referem pesquisadores como Rouill (2009), Cotton (2013) e Soulages (2010) acabou
funcionando como uma espcie de liberao de outros aspectos da fotografia, como sua
escrita (ROUILL, 2009) o autor utiliza esse termo, que aqui tentamos compreender como
uma forma de expresso do fotgrafo, sua assinatura. Se fotografar escrever com a luz,
2 Espao criado pela prefeitura de Paris para gerenciar o conjunto fotogrfico de seus museus, bibliotecas e
arquivos, abriga fotos de 1950 at os tempos atuais, constituindo um dos maiores acervos de fotografia do mundo. 3 Declarao de Monterosso, em conversa com Milton Guran, publicada no site Brasileiros. Disponvel em:
http://brasileiros.com.br/2012/01/oui-oui-cest-bresilienne/ Acesso em: 7 de ago. 2016.
http://brasileiros.com.br/2012/01/oui-oui-cest-bresilienne/
-
24
como consta na clssica definio da palavra4, podemos deduzir que a escrita se configura
medida em que o fotgrafo se organiza expressivamente.
Vrios autores concordam que nesse processo, no qual o autor passou a se expressar
ou seja, a registrar como sente a respeito do que fotografado, tomando uma definio do
fotgrafo Ansel Adams (apud SONTAG, 2013, p. 135) , tambm ganhou relevo o dilogo com
o outro, permitindo que emergissem novos usos, procedimentos, formas e territrios que
durante muito tempo no haviam sido considerados. Contudo, nos alongaremos mais sobre a
fotografia em seu potencial expressivo no segundo captulo, cabendo agora apenas consider-
la como um dos marcadores do processo de transio da fotografia nessa virada de sculo.
Para compreender as transformaes que terminaram por desenhar os contornos do
documento fotogrfico na contemporaneidade, preciso acompanhar o movimento que culmina
com o que os tericos apontam como crise do valor documental das imagens, o que no seria
possvel sem antes observar sua ascenso. Nesse contexto, evidenciaremos, na segunda parte
desse captulo, o conceito de fotografia documental, gnero do fotojornalismo que, de um lado,
reflete muitas das significativas transformaes que afetaram a produo fotogrfica at sua
recente consagrao no campo das artes; e que, de outro lado, e em certa medida, relaciona-se
com a obra do fotgrafo independente e antroplogo baiano Rogrio Ferrari, autor de Ciganos
(2011), volume que tomamos como objeto desta pesquisa.
Em sua obra A fotografia: entre documento e arte contempornea (2009), Andr Rouill
utiliza o termo fotografia-documento5 para se referir a uma fotografia reconhecida por sua
utilidade, a fim de analisar a forma como funciona e evolui. Essa natureza prtica da fotografia
pde ser aferida durante um sculo e meio, de inmeras formas, por meio de funes que se
incumbiram, entre outros aspectos, da modernizao dos saberes, do arquivamento, da
ilustrao e, sobretudo da informao, sendo essa sua funo primordial (KOSSOY, 2002;
ROUIIL, 2009; SONTAG, 2013).
McLuhan (1998, p. 216) ressalta a revoluo preconizada pela fotografia, que alinhou
definitivamente o mundo pictrico com os processos industriais levando-a a desempenhar um
papel marcante na ruptura entre o industrialismo meramente mecnico e a era grfica do
homem eletrnico. Em outras palavras: o passo da era do Homem Tipogrfico para a era do
Homem Grfico foi dado pela inveno da fotografia (MCLUHAN, 1998, p. 216).
4 O termo fotografia se origina do idioma grego e significa escrever com a luz: foto = luz e grafia = escrita. 5 O autor utiliza binmios para conceituar a fotografia em seus diferentes estgios, como fotografia-expresso,
arte-fotografia e fotografia-documento. Em seus ensaios sobre fotografia publicados na dcada de 1970, Susan
Sontag menciona o termo foto-documento (2013, p. 136).
-
25
Fazendo uma abordagem da fotografia como aquisio, a filsofa Susan Sontag (2013,
p. 172) traz a ideia de que, atravs de mquinas que criam e duplicam imagens, possvel
adquirir informao e ter acesso ao conhecimento dissociado da experincia e dela
independente. Para ela, esta seria a forma mais inclusiva de aquisio fotogrfica, pois,
quando algo fotografado, torna-se parte de um sistema de informao,
adapta-se a esquemas de classificao e de armazenagem que abrangem desde
a ordem cruamente cronolgica de sequncias de instantneos colados em
lbuns de famlia at o acmulo obstinado e o arquivamento meticuloso
necessrios para usar a fotografia na previso do tempo, na astronomia, na
microbiologia, na geologia, na polcia, na formao mdica e nos
diagnsticos, no reconhecimento militar e na histria da arte (SONTAG, 2013,
p. 172).
As consideraes de Sontag nos levam a reflexes acerca da importncia da imagem,
sobretudo da fotografia, como meio de informao e acesso ao conhecimento, a despeito do seu
modo de circulao, em cada poca limitado ao aparato tecnolgico que media esses processos.
Aqui acessamos o pensamento de um tempo em que a velocidade de duplicao do mundo em
imagens era significativamente menor do que a que se desenvolve atualmente. Em 1977,
quando Sontag escreveu Sobre fotografia, havia um abismo tecnolgico de mais de trs dcadas
entre as imagens instantneas (produzidas em modo analgico) impressas em papel e ejetadas
em segundos pela cmera Polaroid que seduziu os artistas da pop art , e inovaes
tecnolgicas como os smartphones munidos de cmeras, bem como os fenmenos de
comunicao protagonizados pelas redes sociais, que impactam decisivamente na forma
inclusiva de circulao das imagens na aldeia global vislumbrada por McLuhan (1998)
dcadas atrs.
Nesse mundo-imagem regido pela insaciabilidade do olho que fotografa (SONTAG,
2013, p. 13), a informao j se estabelecia como funo basilar da fotografia documental desde
a dcada de 1920 at o perodo que corresponde Guerra do Vietn (1965-1973), no qual ficou
marcada uma forte aliana da fotografia com a mdia impressa. Instaurou-se, assim, a
informao pelas imagens, inaugurando uma transformao importante no jornalismo
ocidental, quando o interesse dos leitores passou a ser ver, mais do que ler, apontando para
uma nova forma de conceber a reportagem (ROUILL, 2009, p. 127-128).
Cabe ressaltar que a crena na exatido do documento fotogrfico (ou seja, no registro)
foi um dos fatores determinantes para a ascenso da fotografia em seu aspecto utilitrio,
evidenciado aqui por meio de sua funo informativa. Desse modo, h que se considerar a
contribuio capital da fotografia documental, funcionando sob um regime de verdade
-
26
fundamentado na ideia da imagem como testemunha, e do reprter
fotogrfico/fotodocumentarista como mediador de eventos muitas vezes inacessveis para a
sociedade.
importante ressaltar que a vinculao da fotografia com a mdia impressa foi marcada
significativamente pela figura mtica do reprter fotogrfico, caracterizado por sua relao
simbitica com a cmera mediadora do seu contato com o mundo. Com a introduo de uma
nova gerao de cmeras de pequeno formato6, instaurou-se, nas primeiras dcadas do sculo
XX, o que Schaeffer (1996) chamou de obsesso pelo instantneo, considerando-o um dos
mais poderosos motores da inovao tecnolgica na rea da fotografia (Ibid., p.183). Neste
sentido, interessante aludir experincia do clebre fotgrafo Henri Cartier-Bresson, considerado
o mestre do fotojornalismo, que, em seu artigo O instante decisivo (1952), narra sua
familiaridade com o aparelho, aps descobrir a Leica como um prolongamento do seu corpo:
Ela se tornou uma extenso de meu olho e, desde que a descobri, jamais me separei dela
(CARTIER-BRESSON apud SONTAG, 2013, p. 201).
Apreendida no nvel das coisas sensveis, a relao do reprter fotogrfico com sua
mquina prope reflexes. Ao explorar o mundo percebido, Merleau-Ponty (2004a)
compreende que o homem est investido nas coisas, e as coisas esto investidas nele (Ibid.,
p. 24). Desse modo, ao invs de objetos neutros, cada coisa
simboliza e evoca para ns uma certa conduta, provoca de nossa parte reaes
favorveis ou desfavorveis, e por isso que os gostos de um homem, seu
carter, a atitude que assumiu em relao ao mundo e ao ser exterior so lidos
nos objetos que ele escolheu para ter sua volta (...). (MERLEAU-PONTY,
2004a, p. 23).
Assim, pelo vis da fenomenologia e pesquisas correlatas, a cmera poderia ser entendida
aqui como um objeto catalisador do desejo, encarnando uma daquelas coisas s quais nos
ligamos por uma paixo singular, como elucida esse estudo de Merleau-Ponty (2004a, p. 27).
Por essa linha de pensamento, a relao fotgrafo-cmera se reveste ainda de significado
potico, pois pode ser interpretada como a coisa que habita no fotgrafo para aludirmos ao
estudo que Jean-Paul Sartre dedicou ao poeta Francis Ponge: As coisas habitaram nele por
longos anos, elas o povoam, forram o fundo de sua memria, estavam presentes nele (...)
(apud MERLEAU-PONTY, 2004a, p. 25).
6 A antolgica Leica, lanada em meados da dcada de 1920, revolucionou a histria da fotografia, inaugurando a
realizao de 36 poses seguidas com seu filme de 35 mm e viabilizando a realizao de fotografias em um tempo
menor.
-
27
Por outros caminhos do pensamento, a ideia de extenso do olho atravs da cmera, posta
em relevo na narrativa de Cartier-Bresson, remete aos conceitos vanguardistas postulados por
Marshall McLuhan em sua obra mais conhecida, Os meios de comunicao como extenses do
homem (1998), que exploram a dimenso extensiva de artefatos criados pelo homem como
prolongamentos dinmicos de suas capacidades sensoriais e afetivas. Em uma de suas
formulaes tericas acerca dos meios como tradutores da experincia sensria imediata,
McLuhan afirma que na era da eletricidade que ele entende como um meio de total incluso
ns mesmos nos vemos traduzidos mais e mais em termos de informao, rumo extenso
tecnolgica da conscincia (MCLUHAN, 1998, p. 77).
Compreendendo tais extenses como efeitos de sentido, plausvel propor novas
conjecturas acerca do potencial extensivo do olho que fotografa. Partimos da proposio de
que, ao invs da condio de mera copiadora da realidade, a fotografia cria realidades, como
defende Boris Kossoy (2002, 2007, 2009), com quem concordamos. Entendendo a imagem
fotogrfica como documento/representao, e, portanto, portadora de um contedo que rene,
ao mesmo tempo, realidades e fices, o autor considera essa ambiguidade fundamental da
fotografia para afirmar que a criao e tambm a interpretao das imagens est inserida
em processos de construo de realidades: A fotografia resulta sempre desta construo, seja
ela realizada enquanto expresso do autor (sem finalidades utilitrias), seja como registro
fotojornalstico ou meio de criao publicitria, no importando se obtidas segundo tecnologias
tradicionais ou digitais (KOSSOY, 2007, p. 53).
Para chegar a essas concluses, Kossoy se dedica, nos trs volumes que compem a sua
trilogia Fotografia & histria, Realidades e fices na trama fotogrfica, e Os tempos da
fotografia: o efmero e o perptuo , ao que chama de desmontagem da imagem fotogrfica.
Nesse estudo aprofundado da fotografia, o pesquisador afirma que possvel perceber como a
imagem fotogrfica incorpora um processo de construo de realidades, isto , de fices.
Para compreender o pensamento de Kossoy (2002, 2007, 2009) preciso apreender a natureza
ficcional da fotografia, pois que o registro (o documento) surge de um processo criativo.
Segundo o autor, dessa forma que, nessa trama, o elemento ficcional se nutre da
credibilidade da fotografia, enquanto testemunha dos fatos (2007, p. 54). As realidades so
construdas nessa tenso:
A ideia que sempre se propagou da fotografia a de sua suposta caracterstica
de objetividade, do que decorre a certeza de uma transparncia entre o fato
e o registro. A representao ultrapassa o fato e a evidncia exacerbada nessa
construo; assim se materializa o ndice fotogrfico; assim se materializa a
-
28
prova, o testemunho, a partir do processo de criao. Assim se criam
realidades. (KOSSOY, 2007, p. 54-55).
Trazendo essa noo podemos conjecturar o seguinte: se a mquina fotogrfica nos
possibilita transformar a experincia num modo de ver (SONTAG, 2013, p. 34-35), e se atravs
dela possvel prolongar o nosso olhar sobre o mundo, ponderado concluir que, por meio
dessa relao de intercorporalidade com sua cmera, o fotgrafo pode acessar e criar novas
realidades nesse ambiente de interao de meios e do espao-tempo.
Contudo, no perodo marcado pela figura quixotesca do reprter, a forma de ver atravs
da cmera era vinculada ideia da fotografia como prova documental e ao carter mimtico
da realidade. Um tempo que Sontag (2013, p. 106) relacionou ao herosmo da viso, para se
referir aos intrpidos fotgrafos que se aventuravam a capturar o mundo. Para alguns
pesquisadores, as questes inerentes ao realismo na fotografia so determinantes tanto no
processo de ascenso da foto-documento, como no movimento que acusaria seu declnio, pois
que aludem diretamente ao seu regime de verdade (voltaremos a esta questo mais frente).
Rouill (2009) um dos autores mais dedicados anlise do declnio da fotografia-
documento. relevante dizer que o terico defende uma ideia que difere da nossa. Para ele, a
fotografia apenas est provida de um valor documental, varivel segundo as circunstncias
(2009, p. 19). O autor considera que a perda do aspecto documental da fotografia se deu com a
crise das revistas voltadas para o fotodocumentarismo7, marcada pela vertiginosa expanso da
televiso. Para Rouill, essa fotografia tomada como testemunha dos fatos teve seu regime de
verdade abalado a partir de fatores como: a roteirizao da fotorreportagem, em oposio ao
flagrante dos fatos8; do controle das imagens pelos militares, como se viu nas guerras das
Malvinas (1982) e do Golfo (1991); e as fotografias feitas a partir de imagens exibidas em
reportagens da televiso, evidenciando uma nova prtica na qual se v uma imagem, e no o
mundo, servindo de referente (ROUILL, 2009, p. 144). Em suma, o que o autor postula que
a fotografia em sua prtica de registro (fotografia utilitria) perdeu seu elo com o mundo no
devir das transformaes operadas na ps-modernidade.
O pesquisador defende que tal ruptura foi evidenciada no momento em que a fotografia
passou a responder mal sociedade contempornea, sustentada na informao e elege a
internet como seu novo instrumento, passando a demandar a produo de imagens atravs de
7 Nos Estados Unidos, a revista Life parou de circular em dezembro de 1972 e, com ela, desmoronou-se o domnio
da fotografia na imprensa do ps-guerra. (ROUILL, 2009, p. 138). 8 O pesquisador Jorge Pedro Sousa observa que em manuais como o de Kerns (1980) ou os de Kobre (1980;
1991) aconselha-se tambm os fotojornalistas a antecipar o que fotografar e quando fotografar (2000, p.21).
-
29
tecnologias mais avanadas. Rouill (2009) argumenta que a imagem digital no sculo XXI
que tem uma nova matria, funcionamento e outro modo de circulao , se ope fotografia
dos sculos XIX e XX, tambm com relao ao regime de verdade operado no mbito da
fotografia-documento, que tem na informao sua principal funo: Antes tnhamos a iluso
da verdade imutvel, agora temos a certeza de algo que sempre j retocado mesmo que no
queiramos. Isso muda tudo (ROUILL, 2010)9. O terico defende objetivamente: A
fotografia que funcionava no domnio da mecnica e da qumica terminou. No entanto,
pondera: Sempre haver quem faa fotografia analgica, nada desaparece. Mas h outras
prticas que avanam (Id., Ibid.).
Voltamos nossa ateno para a questo, a fim de nos posicionar. Se o mundo da imagem
passou a viver a sua fase ps-fotogrfica, como defende tambm Arlindo Machado (1993, p.
15), se impem, pois, novas reflexes. Portanto, nos interessa saber: que caminhos se abrem (e
fortalecem suas potencialidades) foto-documento sob as condies fluidas que movem o
mundo nos tempos da modernidade lquida preconizada por Zygmunt Bauman (2001)?
Questionamos a fotografia como produto em circulao em um mundo vertido em infinitas
possibilidades a serem exploradas. Se admitirmos com Bauman, que a sociedade dessa virada
de milnio tem o cdigo de sua poltica de vida derivado do comprar aqui entendido
como esquadrinhar as possibilidades, examinar, tocar, sentir, manusear os bens mostra
(BAUMAN, 2001, p 95); e se considerarmos ainda que essa avidez pelo consumo inclui, alm
de itens de necessidade e bens materiais, novos exemplos aperfeioados e at receitas de
vida (idem), no seria razovel conjecturar o surgimento de outros espaos e formas de
consumo do documento fotogrfico?
Ainda que novas prticas do fotojornalismo e que a imagem digital com um regime de
verdade atualizado se imponham na contemporaneidade com uma plataforma de valores outros,
queremos ponderar que a fotografia parece experimentar e expandir os limites de seu aspecto
documental.
Arlindo Machado (2000, p. 1) no nos deixa esquecer que a fotografia a base
tecnolgica, conceitual e ideolgica de todas as mdias contemporneas, e que, portanto, antes
mesmo dos questionamentos postos com o advento do processamento digital e da modelao
da imagem no computador, a televiso j havia provocado reflexes aprofundadas sobre sua
natureza, bem como de seus modos de produo e meios de circulao autores como Cotton
(2013), Rouill (2009) e Soulages (2010) tambm aludem a esse impacto. Machado (2000)
9 Andr Rouill entrevistado por Susana Dobal: Foto-evento: entrevista com Andr Rouill.
-
30
ressalta ainda que cada vez que um meio novo introduzido, ele sacode as crenas
anteriormente estabelecidas e nos obriga a voltar s origens para rever as bases a partir das quais
edificamos a sociedade das mdias (Ibid., p. 1).
Se considerarmos com McLuhan (1998) os meios de comunicao como extenso do
homem, ento podemos compreender como esse impacto afeta a comunidade global, pois as
consequncias sociais e pessoais de qualquer meio ou seja de qualquer uma das extenses de
ns mesmos constituem o resultado do novo estalo introduzido em nossas vidas por uma
nova tecnologia ou extenso de ns mesmos (MCLUHAN, 1998, p. 21). Segundo McLuhan,
se as intervenes se impem, inevitvel que contaminem todo o sistema (1998, p. 84).
Assim, pode ser previsvel tambm a inter-relao dos meios, seja por fisso ou fuso, liberando
uma potente energia: O hbrido, ou encontro entre dois meios, constitui um momento de
verdade e revelao, do qual nasce a forma nova (Id., Ibid., p. 75).
Analisando o impacto da imagem digital no conceito tradicional de fotografia, em seu
artigo Fotografia em mutao (1993), Machado j preconizava mudanas substanciais na
prtica e consumo de imagens fotogrficas em seu amplo espectro de utilizao, provocadas
pelo advento da fotografia eletrnica ou seja, registrada diretamente em suporte magntico
ou ptico (1993, p. 14) trazendo novos recursos de conservao e arquivamento de fotos e
at de modelao direta da imagem no computador. Para alm das consequncias, previsveis
ou no, o autor antevia que a situao criada pelos novos meios, poderia se reverter em um
momento de rever a fotografia e seus rumos, de questionar seu arcabouo mtico e pensar outras
formas de interveno capazes de fazer desabrochar na fotografia uma fertilidade nova
(idem). Voltando ao tema anos depois, o pesquisador observou que, de fato, ao ocupar o espao
das tcnicas fotogrficas clssicas, a cmera digital e o software de processamento, acabaram
propondo aberturas conceituais: Podemos dizer que a fotografia vive um momento de
expanso, tanto no que diz respeito ao incremento de suas possibilidades expressivas, como no
que diz respeito s mudanas em sua conceitualizao terica (MACHADO, 2000, p. 13)
(grifo do autor).
Nesse sentido, importante ressaltar o tom plural desse universo em que a fotografia se
insere, a partir das transformaes operadas na contemporaneidade. Em sua investigao sobre
a fotografia expandida10 assim definida com base em sua transgresso da gramtica do
fazer fotogrfico , o pesquisador Rubens Fernandes Junior (2006), recortando uma das
10 Neste modelo, segundo Fernandes Junior, a nfase est na importncia do processo de criao e nos procedimentos utilizados pelo artista, para justificar a tese de que a fotografia tambm se expandiu em termos de
flutuao ao redor da trade peirciana (signo cone, ndice e smbolo) (2006, p.11).
-
31
possibilidades que se apresentam fotografia contempornea, constata que o enfrentamento das
recentes questes relativas ao imaginrio, por exemplo, lanou a fotografia numa fantstica
aventura contempornea dando novos contornos a sua produo (FERNANDES JUNIOR,
2006, p. 11). Na viso do autor, a crise saudvel que contribuiu como provocao dessa
dinmica tinha, em seus limites o momento de insero das novas tecnologias de um lado, e,
do outro, o esgotamento das artes plsticas convencionais (idem).
Em parte, Fernandes Junior credita a essa crise dois movimentos: o interesse dos museus,
galerias e colecionadores pela fotografia; e a ateno dos artistas visuais, que em seu processo
de reaprendizado voltam a incorporar a fotografia em seu trabalho, bem como dos fotgrafos,
ao buscarem outros vieses de produo e circulao de imagens. Diante das inmeras
possibilidades que se apresentam para pensar a produo contempornea e seus desvios, o autor
compreende a fotografia hoje como produto cultural de rara complexidade que contribuiu e
continua contribuindo de forma categrica para a transmisso das mais variadas experincias
perceptivas (FERNANDES JUNIOR, 2006, p. 11).
De fato, se por um lado, o questionamento da fotografia em sua funo utilitria abriu
espao para a expresso e para a subjetividade autoral, e se a imagem digital, ao ocupar o espao
das tcnicas fotogrficas clssicas, acaba propondo aberturas conceituais da fotografia e o
esgaramento de sua linguagem; por outro lado, ser que podemos dizer que o documento
fotogrfico e a fotografia convencional11 continua a dialogar com reas do conhecimento
que desse material se suprem? Podemos verificar tais conjecturas, tomando a histria, a arte e
o campo do documentarismo como espaos de observao.
Se considerarmos com Kossoy (2009, p. 162), que fotografia memria e com ela se
confunde, no estaramos admitindo que h um potencial ainda inexplorado do documento
fotogrfico e seus recursos? Ao discorrer sobre fotografia e histria, Kossoy nos lembra que,
para o historiador, a fotografia uma possibilidade inconteste de descoberta e interpretao da
vida histrica (2009, p. 163). E assinala que, para os estudiosos dos mais diferentes gneros
de histria, assim como pesquisadores de outros ramos do conhecimento, so as imagens
documentos insubstituveis cujo potencial deve ser explorado (Ibid., p. 31-32).
Procuramos ilustrar nossa reflexo com fatos recentes. Primeiro, anotamos a valorizao
da fotografia como memria, portadora de fragmentos selecionados da aparncia do fato
histrico (KOSSOY, 2002, p. 21). O autor observa que registros da paisagem natural, do corpos
11 Fernandes Junior a define como aquela fotografia que produto de uma ao entre o sujeito e o objeto,
intermediada por uma prtese, a cmera fotogrfica (2006, p. 12).
-
32
celestes, dos achados pr-histricos em stios arqueolgicos, da arquitetura das cidades, da
moda, ilustram algumas contribuies da fotografia para a recuperao da informao, pela
sua fora documental (2007, p. 40-41). Ele considera que as
representaes fotogrficas contm em si informaes iconogrficas sobre o
dado real e, em funo disso, so de grande valor para a pesquisa e
interpretao nas cincias humanas, exatas e biolgicas. As anlises que
tcnicos da NASA vm fazendo, atravs de fotografias de rochas e do solo
enviadas pelo jipe-rob Opportunity relativas possibilidade da existncia
de oceanos e mesmo de formas de vida em pocas remotas no planeta Marte
, constituem contribuio nica para o progresso da cincia. (KOSSOY,
2007, p. 40).
Considerando o potencial do registro para a recuperao da informao, podemos tomar
como exemplo um fato recente: a divulgao em torno da descoberta de pesquisadores de
numismtica, que confirmaram a presena de Billy the Kid, uma das lendas do Velho Oeste
americano, em uma fotografia de 187812 (Figura 2). Adquirida por um colecionador em uma
loja de antiguidades na Califrnia (EUA), por apenas US$ 2, a foto passou a ser avaliada em
US$ 5 milhes, ao ter sua autenticidade confirmada, aps mais de um ano de estudos. At ento,
falava-se em um nico registro fotogrfico autntico do lendrio bandido, tambm no Novo
Mxico, no ano de 1880, e que, por sua singularidade histrica tambm teria alcanado alto
valor de mercado13.
Compreendemos que a valorizao mercadolgica deste registro fotogrfico raro est
intrinsecamente relacionada a sua importncia histrica, o que pe em evidncia justamente o
seu valor documental. A nosso ver, pesa, nesse reconhecimento, o fato de tratar-se de uma
fotografia produzida em modo analgico, considerando-se a possibilidade real de manipulao
da fotografia realizada atravs de processamento digital. De acordo com Machado (1993, p.14-
15), diferente da manipulao da fotografia da era da qumica, que podia ser detectada com
facilidade, as alteraes no registro fotogrfico produzido em meio digital so praticamente
impossveis de serem descobertas, pois a imagem processada em computador, por ser produzida
numa resoluo mais fina que a do prprio gro fotogrfico, no deixa marca alguma na
interveno (idem).
12 Na cena registrada no Novo Mxico, o pistoleiro que morreu aos 21 anos, j famoso por ter sido capturado,
sentenciado morte e escapado da priso, aparece jogando crquete com comparsas de sua gangue, The Regulators. 13 A foto de 1880 foi vendida por US$ 2,3 milhes em 2010, segundo informao da Kagin's Inc., empresa
responsvel tambm pela anlise da fotografia de 1878. Disponvel em: http://g1.globo.com/pop-
arte/noticia/2015/10/foto-comprada-por-us-2-passa-valer-milhoes-por-ter-bandido-billy-kid.html
Acesso em: 17 de out./2015.
http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2015/10/foto-comprada-por-us-2-passa-valer-milhoes-por-ter-bandido-billy-kid.htmlhttp://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2015/10/foto-comprada-por-us-2-passa-valer-milhoes-por-ter-bandido-billy-kid.html
-
33
Figura 2 Billy the Kid (esq.), 1878
Fotgrafo: desconhecido
No campo da arte, nossa argumentao se acerca da prtica de fotgrafos e artistas
fotgrafos contemporneos, que buscam novas expresses a partir de apropriaes e releituras
das imagens. Como ilustrao recorremos s obras de duas fotgrafas, a americana Joni
Sternbach e a brasileira Rosngela Renn. Sternbach cria retratos usando o coldio mido,
processo fotogrfico do sculo XIX, e cmeras de grande formato para obter imagens com um
alto nvel de resoluo. Para desenvolver seu projeto mais recente, uma representao da cultura
do surfe pelo mundo, Sternbach teve que improvisar laboratrios nos prprios locais onde
fotografou, a fim de garantir a revelao das fotos pelo processo do coldio mido14. A esttica
vintage foi a forma que ela encontrou de mostrar como utilizar os materiais e informaes da
histria da fotografia para fazer imagens novas"15. Na Figura 3, uma das fotos do projeto, que
resultou no livro Surf site tin type (Editora Damiani).
Figura 3 Andy and Muriel, Jalama Beach, California, 2011
Fotgrafa: Joni Sternbach
14 O coldio um lquido viscoso que seca rpido. derramado sobre uma placa de metal, que sensibilizada
antes de ser colocada na cmera. Uma vez exposta, a fotografia precisa ser ampliada e lavada imediatamente. 15 Entrevista ao jornal Daily Mail, publicada em 15/09/2013. Disponvel em:
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2421068/Photographer-Joni-Sternbach-captures-modern-day-surfers-
using-Civil-War-era-camera.html. Acesso em 17 de out. 2015.
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2421068/Photographer-Joni-Sternbach-captures-modern-day-surfers-using-Civil-War-era-camera.htmlhttp://www.dailymail.co.uk/news/article-2421068/Photographer-Joni-Sternbach-captures-modern-day-surfers-using-Civil-War-era-camera.html
-
34
Por outros vieses, a ideia de anacronismo suscitada na obra de Rosngela Renn com
suas provocaes instigantes sobre fotografia e memria/esquecimento. O debate acerca da
possibilidade da imagem e da renovao de sua potncia, a partir do processamento digital,
resultou no projeto A ltima foto (2006), no qual Renn rene fotos de 43 fotgrafos
profissionais desafiados a fotografar o monumento do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro,
usando cmeras mecnicas de diversos formatos16. Na prtica da artista recorrente ainda a
apropriao de fotos antigas e annimas geralmente utilizadas em documentos de
identificao para que sejam recolocadas em circulao. Assim, Renn as retira de seus
circuitos normais de consumo, propondo novas formas de relacionamento (MACHADO,
2000, p. 14). Na Srie Imemorial (1994), por exemplo, a artista trabalhou com uma instalao
(Figura 4) de 50 fotografias e retratos escuros dos trabalhadores e crianas que construram
Braslia, aludindo, em sua criao, a um um gesto redentor, a ressurreio dos corpos cados,
daqueles que se sacrificaram na construo do futuro17.
Figura 4 Instalao, Srie Imemorial, 1994
Artista: Rosngela Renn
Em Esttica da fotografia: perda e permanncia (2010), Franois Soulages cita o
fotgrafo Christian Gattinoni (1950-), entre os fotgrafos que vm pesquisando e questionando
cmeras, materiais fotogrficos e lbuns do sculo XIX, provocando, assim, uma renovao
das formas e das imagens, e perscrutando a ideia de fotografia (SOULAGES, 2010, p. 248).
Para o terico, esse dilogo permite aos fotgrafos reatarem com um passado desaparecido
mas essencial, trazendo para o centro do pensamento sua relao com a fotografia (idem)
16 Os fotgrafos trabalharam com cmeras analgicas da coleo da artista, desde as de chapa 9 x 12 cm, do incio
do sculo XX, at as cmeras Reflex, para filme 35 mm, da dcada de 80. 17 Definio retirada do site da artista, disponvel em: http://www.rosangelarenno.com.br/obras/sobre/19. Acesso
em 24 de out. 2015.
http://www.rosangelarenno.com.br/obras/sobre/19
-
35
assim o faz o prprio Gattinoni, em uma obra que Soulages toma como referncia de construo
e abertura para a arte.
No campo do documentarismo, no qual a fotografia exerce sua funo de testemunha
dos fatos e do nosso modo de vida, novas direes tambm passam a ser exploradas a partir das
prprias inquietaes dos fotgrafos, favorecendo um profcuo dilogo com a arte. Em sua obra
A fotografia como arte contempornea (2013), Charlotte Cotton, poca diretora de criao do
Museu Nacional da Mdia do Reino Unido, traz um questionamento para guiar sua reflexo
sobre o uso da capacidade documental da fotografia na arte: Como os fotgrafos transitam de
uma crtica da realizao de imagens, que implica a perda do poder documental da fotografia,
para uma abordagem que utiliza estratgias de arte para manter a relevncia social da
fotografia? (2013, p. 167). Cotton observa que a galeria se tornou o espao de exibio dessas
documentaes: Diante da lacuna imposta pelo menor nmero de projetos documentais
encomendados e da usurpao pela televiso e pela mdia digital como os veculos mais
importantes de informao, a resposta da fotografia tem sido se valer dos diferentes climas e
contextos proporcionados pela arte (idem).
Em sua anlise da cena contempornea, a autora menciona a fotografia das
consequncias, abordagem legitimamente considerada a mais contrria ao fotojornalismo,
na qual os fotgrafos chegam aos locais das catstrofes (naturais e sociais) depois do fato que
ocasiona a destruio (COTTON, 2013, p. 10). Por esse vis, marcado pela postura
antirreportagem de seus autores, a fotografia artstica vem compondo o que a autora chama de
alegorias das consequncias dos desatinos polticos humanos, que tem expoentes como
Sophie Ristelhueber (1949-). A fotgrafa francesa autora de projetos arrojados que vm
traando uma cartografia emblemtica do impacto das guerras, na natureza e na civilizao. Na
Srie Fait (1991) registrou os traos fsicos da Guerra do Golfo (Figura 5).
Figura 5 Tomada Area sobre o Kuwait, Srie Fait, 1991
Fotgrafa: Sophie Ristelhueber
-
36
Com esta compreenso das diferentes abordagens do documento fotogrfico e suas
possibilidades mltiplas de articulao na atualidade, deslocamos essa observao para o nosso
objeto de investigao: a obra do fotgrafo independente e antroplogo baiano Rogrio Ferrari
(2004, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011), que vem se revelando um objeto importante para a
pesquisa tanto nos campos fotogrfico e artstico, como tambm nas reas cultural, poltica, e
da antropologia. Ao contemplar sua obra, observamos como se insere na trama contempornea
que enreda diferentes vetores da fotografia.
Ferrari autor do projeto Existncias-Resistncias, que se prope a retratar, por meio de
publicaes, debates e exposies fotogrficas, a luta de povos e movimentos sociais por terra
e autodeterminao. A obra publicizada que articula textos ao acervo fotogrfico em exibio,
se constitui de seis ttulos: Palestina, a eloquncia do sangue (2004); Zapatistas, a velocidade
do sonho (2006)18; Curdos, uma nao esquecida (2007); Palestine (2008) e Sahraouis
(2010)19; e Ciganos (2011), este ltimo nosso objeto de estudo, que ser aqui abordado.
Em Ferrari, a fotografia pode ser compreendida como atitude, como meio de
transcendncia, uma ponte para estar no lugar necessrio (FERRARI, 2004, p. 158). Ou,
como entende Magalhes (2009, p. 1), ao fotgrafo importa, sobretudo, o envolvimento do
olhar, o sentimento, a atitude politizada, a percepo da vida cotidiana e a capacidade de
interveno social. A perspectiva de que o fotgrafo deve refletir e atuar sobre seu tempo
(2007, p. 87), levou Ferrari s montanhas do Chiapas (Mxico), onde documentou o movimento
de resistncia indgena ao lado do Exrcito Zapatista de Libertao Nacional (EZLN); Faixa
de Gaza para se unir aos palestinos que resistem ocupao do Estado de Israel; ao deserto
do Saara, a fim de conviver com os refugiados saraus oprimidos pelo Governo do Marrocos; e
Turquia, onde esteve com o povo curdo, para vivenciar a tragdia da maior nao sem ptria
do mundo. Na Bahia, percorreu 40 municpios com o propsito de mostrar a resistncia cultural
dos ciganos, a partir de um contraponto lente da discriminao (FERRARI, 2011a, p. 193).
Desse modo, podemos compreender que o fotgrafo se refere ao lugar necessrio
como o campo de sua arte e de sua intencionalidade. Ferrari fotografa pessoas e contextualiza,
nessas imagens, esses grupos humanos em seu prprio ambiente social. Fotografar pode ser
aqui entendido como a proposta de ao de Ferrari; o propsito que o leva a saltar da poltrona
para saber do outro (2007, p. 86). Mas tambm como partilha20. Arte e vida esto aqui
18 Publicado em coautoria com os jornalistas Pedro Ortiz e Marco Brige. 19 Palestine e Sahraouis foram publicados pela editora francesa Le Passager Clandestin. 20 Comentrio feito ao apresentador J Soares, no Programa do J (Rede Globo de Televiso), exibido em: 7 de
mai. 2012.
-
37
imbricadas, pois, como enfatiza Magalhes (2009, p. 2), semelhante turma do Cinema Novo,
que viu o cinema como prtica poltica, Ferrari encara a fotografia como prtica-militante, um
instrumento de denncia e a sua forma de se posicionar diante do mundo.
Concordamos com Kossoy (2009), ao afirmar que cada registro visual documenta a
prpria atitude do fotgrafo diante da realidade. Atuando como um filtro cultural, nas
imagens transparecem seu estado de esprito e sua ideologia (2009, p. 42-43). Essa bagagem
cultural, que inclui a sensibilidade, a criatividade, (p. 43), o talento e o intelecto do fotgrafo,
influi decisivamente no produto final de um processo iniciado desde o momento da seleo do
fragmento at sua materializao iconogrfica (KOSSOY, 2009, p. 50). Para o terico, essa
filtragem determinante na diferenciao do fotgrafo.
Neste sentido, identificamos na fotografia de Ferrari sua forma de tambm pensar
antropologia. Ao focar sua cmera nos ciganos da Bahia com o firme propsito de retrat-los
em seu cotidiano, o fotgrafo revela aspectos da cultura e da memria, bem como do modo de
vida dos ciganos que vivem em diferentes regies do Estado o que rene o maior nmero de
grupos no pas, segundo censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica - IBGE21. Sua
antropologia visual documenta, entre outras particularidades, ritos como o casamento
endgeno, por meio do qual a cultura se mantm; e mitos como o do nomadismo, caracterstica
recorrente na identificao estereotipada da cultura cigana (FERRARI, 2011a, p. 194).
Sobre o contedo da obra e sua esttica, entretanto, discorreremos no terceiro captulo.
Por ora, pretendemos evidenciar o fato de a intencionalidade na obra de Ferrari convocar
atividade sociopoltica na fotografia. Tal inteno ganha materialidade mesmo em fotos
retiradas de seu conjunto, algumas evidenciadas sobretudo no exato instante em que o fotgrafo
aciona o boto disparador, marcando o filme. Podemos compreender como isso se d, no
momento em que h a ciso do tempo, tomando, como Dubois (2013), a imagem fotogrfica,
como uma imagem-ato, definida pelo terico como uma impresso luminosa, e,
simultaneamente, como impresso trabalhada por um gesto radical que a faz por inteiro de
uma s vez, o gesto do corte, do cut, que faz seus golpes recarem ao mesmo tempo sobre o fio
da durao e sobre o contnuo da extenso (DUBOIS, 2013, p. 161).
O cut, esse corte temporal e