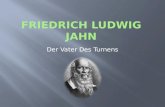UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ FERNANDO JAHN BESSAsiaibib01.univali.br/pdf/Fernando Jahn...
Transcript of UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ FERNANDO JAHN BESSAsiaibib01.univali.br/pdf/Fernando Jahn...
UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ
FERNANDO JAHN BESSA
A UNIVERSALIZAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS : Aspectos destacados da questão
São José
2008
2
FERNANDO JAHN BESSA
A UNIVERSALIZAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS : Aspectos destacados da questão
Monografia apresentada à Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, como requisito parcial a obtenção do grau em Bacharel em Direito.
Orientador: Prof. Dr. Marcos Leite Garcia
São José 2008
3
FERNANDO JAHN BESSA
A UNIVERSALIZAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS : Aspectos destacados da questão
Esta Monografia foi julgada adequada para a obtenção do título de bacharel e
aprovada pelo Curso de Direito, da Universidade do Vale do Itajaí, Centro de
Ciências Sociais e Jurídicas.
Área de Concentração: Filosofia do Direito
São José, 10 de novembro de 2008.
Dr. Marcos Leite Garcia UNIVALI
Orientador
Dra. Daniela Mesquita Leutchuck Cademartori UNIVALI Membro
Bel. Lucas da Silva Tasquetto UFSC
Membro
5
AGRADECIMENTOS
Agradeço a Deus por poder agradecer.
Aos meus pais, irmãos e a Luise, minha namorada, pelo incentivo e
companhia incondicional em todos os momentos desta jornada.
Ao professor orientador Marcos Leite Garcia, pela confiança e oportunidade
de conviver e ouvir palavras sábias, que me fizeram acreditar na possibilidade do
tema deste trabalho.
Aos amigos e colegas, em especial, Rodrigo, Felipe e Anita, pelo apoio
constante.
6
TERMO DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Declaro, para todos os fins de direito, que assumo total responsabilidade
pelo aporte ideológico conferido ao presente trabalho, isentando a Universidade do
Vale do Itajaí, a coordenação do Curso de Direito, a Banca Examinadora e o
Orientador de toda e qualquer responsabilidade acerca do mesmo.
São José, 31 de outubro de 2008.
Fernando Jahn Bessa
7
RESUMO
O presente trabalho teve como objetivo analisar a questão da universalidade dos direitos humanos. Atualmente nenhum outro tema sobre direitos humanos tem sido alvo de tantos debates como a universalidade. Partiu-se da hipótese de que os direitos humanos são universais e foram fundamentados pelos teóricos do iusnaturalismo racional durante o renascimento e o iluminismo, portanto, na Europa. Obteve-se como resultado que desde o princípio estiveram vinculados à idéia de universalização, baseada na dignidade humana, que se dá por igual a todos os homens; os direitos humanos na medida em que são idealizados no chamado trânsito à modernidade são frutos da modernidade; com o advento da pós-modernidade propagada no meio filosófico, se tem atacado o racionalismo com base numa série de irracionalismos que tendem a tudo relativizar. Assim conceitos como a igualdade caem por terra, são opostos pela particularidade, pela diferença. E por fim observado este quadro caótico, há que se reafirmar os valores universais dos direitos humanos, na certeza de que os homens possuem direitos naturais pela mera condição humana e que são iguais merecendo, portanto, a mesma dignidade, sem qualquer discriminação, seja religiosa, racial ou sexual.
Palavra-chave : direitos humanos, modernidade, iusnaturalismo, universalidade, relativismo, dignidade humana.
8
RESUMEN
El presente trabajo ha tenido como objetivo el análisis de la cuestión de la universalidad de los derechos humanos. Actualmente ningún otro tema sobre derechos humanos ha sido objeto de tantos debates como la universalidad. Para la presente investigación se ha partido de la hipótesis de que los derechos humanos son universales e fueron fundamentados por los teóricos del iusnaturalismo racionalista durante el Renacimiento y el iluminismo, evidentemente que en Europa. La presente pesquisa ha obtenido como resultado el hecho que los derechos humanos desde el principio estuvieron vinculados a la idea de universalización, basada en la dignidad humana, que se ha dado por igual entre todos los hombres; los derechos humanos en la medida que son idealizados en el llamado tránsito a la modernidad lógicamente que son frutos de la modernidad. Con el adviento de la llamada post-modernidad propagada en el medio académico, se ha arremetido contra el racionalismo con base en una serie de teorías desmedidas que tienden a todo relativizar. De esta forma conceptos como la igualdad dejan de tener importancia, y son considerados opuestos por la particularidad, por la diferencia. Y al final una vez observado este cuadro caótico, ha que se reafirmar los valores universales de los derechos humanos, con la seguridad de que los hombres son titulares de derechos naturales por a mera condición humana y que son iguales mereciendo de esta forma la misma dignidad, sin cualquier discriminación, sea religiosa, racial, sexual o cultural.
Palabras clave : derechos humanos, modernidad, iusnaturalismo, universalidad, relativismo, dignidad humana.
9
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO ..........................................................................................................10
1 – ASPECTOS HISTÓRICOS DO PROCESSO DE FORMAÇÃO DO IDEAL DOS
DIREITOS HUMANOS ..............................................................................................12
1.1 – O TRÂNSITO À MODERNIDADE E O SURGIMENTO DO INDIVIDUALISMO12
1.2 MUDANÇA DE MENTALIDADE..........................................................................16
1.2.1 O humanismo ...................................................................................................16
1.2.2 A ciência moderna............................................................................................17
1.2.3 A reforma religiosa ...........................................................................................18
1.3 O ESTADO ABSOLUTO .....................................................................................22
1.4 JUSNATURALISMO RACIONALISTA.................................................................26
1.5 REVOLUÇÕES BURGUESAS............................................................................28
2. LINHAS DE EVOLUÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS.........................................32
2.1 POSITIVAÇÃO....................................................................................................32
2.2 GENERALIZAÇÃO..............................................................................................34
2.3 INTERNACIONALIZAÇÃO..................................................................................38
2.4 ESPECIFICAÇÃO ...............................................................................................42
2.5 AS GERAÇÕES DE DIREITOS ..........................................................................47
2.6 CORRENTES IDEOLÓGICAS ............................................................................49
3 A UNIVERSALIDADE DOS DIREITOS HUMANOS...............................................52
3.1 O CONCEITO DE UNIVERSALIDADE COMO CONDIÇÃO BÁSICA AOS
DIREITOS HUMANOS ..............................................................................................52
3.2 OS INIMIGOS DO UNIVERSALISMO.................................................................58
3.2.1 Os inimigos segundo a teoria de Perez-Luño...................................................59
3.2.2 Os inimigos segundo Amartya Sen ..................................................................62
CONCLUSÃO............................................................................................................66
REFERÊNCIAS.........................................................................................................68
INTRODUÇÃO
O presente trabalho visa reafirmar a necessidade de termos direitos
humanos universais. No sistema mundo atual as desigualdades tem se mostrado
mais evidentes, o fundamentalismo religioso, os particularismos culturais e a
negação de conceitos que há pouco eram tratados como verdades incontestáveis
caíram por terra ante o relativismo pós-modernista. Neste contexto, defender os
direitos humanos como a única forma viável de se estender a tão sonhada dignidade
humana a todos é a medida que se impõe.
Os críticos à universalização dos direitos humanos tem se manifestado nos
meios filosóficos, políticos e jurídicos, todavia seus argumentos não tem convencido.
De forma alguma merecem prosperar, servem apenas para se clarear os objetivos
da universalidade. A pesquisa demonstra que cada vez mais essa tem se mostrado
a estratégia de governos autoritários e opressores, que em certa medida buscam um
isolamento internacional.
A universalização é possível e o seu reconhecimento internacional nas
declarações e constituições é a prova real desta possibilidade. A Declaração da
Organização das Nações Unidas de 1948, ratificada pela Conferência de Viena em
1993 dá conta desta preocupação internacional pela afirmação universal dos direitos
humanos.
Para que o leitor se situe, a utilização dos termos direitos humanos e direitos
fundamentais seguiram a doutrina de Gregório Peces-Barba. Para ele os direitos
humanos são direitos universais e atemporais, já os direitos fundamentais são
direitos inscritos em constituições, declarações, enfim, são princípios que receberam
a positivação.
A metodologia empregada na pesquisa segue a forma indutiva. Estudar os
direitos humanos é adentrar num ambiente essencialmente teórico e filosófico. O
tema é aberto às discussões e não se apresenta acabado, portanto a dialética
argumentativa se faz necessária. Todavia, deve ser corroborada por exemplos que
demonstrem a plausibilidade do tema.
Quanto às formas técnicas de pesquisa, nada mais lógico que o uso da
documentação indireta, levando-se em consideração a teoricidade do tema. É
11
indispensável o uso de farta bibliografia, para que se proporcione a experimentação
argumentativa necessária e capaz de fundamentar o trabalho.
O corpo textual é dividido em três capítulos. No primeiro, trata-se do
processo de formação do ideal dos direitos humanos. Leva-se em consideração a
fundamentação dos direitos humanos na sociedade ocidental que se chama trânsito
à modernidade. As mudanças de mentalidade e os acontecimentos sociais,
econômicos, religiosos e culturais são abordados para explicar o surgimento de uma
sociedade liberal burguesa que dá vida às pretensões morais conhecidas como
direitos humanos, até as revoluções burguesas que marcarão definitivamente o fim
do antigo regime e as divisões estamentais da sociedade.
No segundo capítulo aborda-se as quatro linhas gerais de evolução dos
direitos humanos que seguem um processo histórico próprio. A começar pela
positivação, nela se aborda a inserção dos direitos humanos como pretensões
morais nos ordenamentos jurídicos internos dos Estados.
Na seqüência ocorre a generalização destes direitos com forte influência dos
movimentos socialistas se busca trazer a igualdade de condições necessária para
que os homens gozem os direitos ligados à liberdade civil e política.
A terceira linha de evolução dos direitos é a internacionalização marcada
pela discussão dos direitos humanos no âmbito internacional e pelos documentos
internacionais que serão produzidos neste sentido, com destaque especial para a
Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948.
Por fim, a última fase, denominada especificação dos direitos humanos, esta
trata do alargamento dos titulares e dos conteúdos referentes aos direitos humanos.
No terceiro e último capítulo aborda-se a universalidade dos direitos
humanos como condição básica de existência destes direitos. Fala-se das
características principais da universalidade, das críticas e dos inimigos que se opõe
ao universalismo.
12
1 – ASPECTOS HISTÓRICOS DO PROCESSO DE FORMAÇÃO DO IDEAL DOS
DIREITOS HUMANOS
O presente trabalho não tem a pretensão de esgotar todos os
acontecimentos históricos que fizeram parte da formação do ideal dos direitos
humanos, entretanto, atende às necessidades básicas de orientação ao leitor para
que através de uma visão ampla sobre os principais desdobramentos históricos
possa compreender o tema.
1.1 – O TRÂNSITO À MODERNIDADE E O SURGIMENTO DO IN DIVIDUALISMO
Os direitos humanos são direitos históricos por natureza, estão em constante
mutação, de acordo com os anseios da sociedade, desta forma, em determinados
momentos alguns valores foram mais fundamentais do que outros a ponto de se
tornarem imprescindíveis para o desenvolvimento pleno da vida, assim receberam
atenção especial merecendo a positivação1. Neste sentido, surge na Europa
Ocidental, por uma série de fatores, dentre os quais podemos destacar a economia,
cultura, política, sociedade; a filosofia dos direitos humanos. O fato é que estes
direitos não existiam anteriormente à modernidade2. Gregório Peces-Barba
denomina este processo de transformação social de “Trânsito à Modernidade”. É em
outras palavras a mudança, passagem, de uma era à outra; da Idade Média à Idade
Moderna.
É na sociedade medieval na qual aparecerão os traços necessários para o
entendimento do advento destes direitos. Pouco a pouco surgirão as condições
necessárias para o aparecimento da idéia dos direitos humanos. Com a
materialização destas condições, nascem as pretensões morais e posteriormente há
a sua legalização3. Significa dizer que, inicialmente existia o desejo na sociedade, a
1 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992. p. 19-21. 2 PECES-BARBA, Gregório. Curso de Derechos Fundamentales: teoria general. Madrid: Universidad Carlos III. 1995. p. 113. 3 PECES-BARBA, Gregório. Curso de Derechos Fundamentales: teoria general. Madrid: Universidad Carlos III. 1995. p. 105.
13
aspiração e a busca pelos direitos, e no futuro houve a positivação. Estas
pretensões derivavam da idéia de dignidade humana necessária para o
desenvolvimento pleno do homem4. Este processo de desenvolvimento dos direitos
humanos será alvo de extensa pesquisa demonstrada no decorrer do trabalho. Cabe
agora, abordar as mudanças que ocorreram e possibilitaram o surgimento dos
direitos.
Há quem defenda que o cristianismo trouxe os ideais de igualdade e
liberdade, participando assim de forma decisiva no processo de formação dos
direitos humanos5. É verdade que o cristianismo em sua forma primitiva traz a idéia
de igualdade entre todos, sendo revolucionário neste ponto. Todavia, com o
paulatino crescimento da Igreja como instituição e com o crescente poder que
adquiriu estas noções se perderam, fazendo com que os autores cristãos se
tornassem incapazes de criar um conceito unificado sobre a igualdade6. Ademais,
os cristãos não aplicaram a teoria à prática. A escravidão continuou sendo admitida
ainda por muitos anos, a diferenciação entre homens e mulheres persistiu como
prática corrente, além do tratamento inferior para com povos africanos, asiáticos e
americanos. Desta forma, defender a preponderância do cristianismo em relação ao
desenvolvimento dos direitos humanos num primeiro momento é incorrer em um erro
grave. As causas e conseqüências se encontram numa época diversa. Importante,
portanto, verificar por que e como estes direitos surgiram. É necessário averiguar os
acontecimentos vividos na Europa para um entendimento esclarecido sobre o
assunto.
A Europa passará por mudanças estruturais no início do século XI. Francisco
Carlos Teixeira da Silva afirma que um mundo sucedeu a outro a partir do século
XI7. Esta mudança reside na retomada do crescimento demográfico europeu
ocorrido entre as décadas de 1050 e 1200. Neste período a população passa de 46
milhões para 61 milhões de habitantes. Os números que a um primeiro olhar não
chamam a atenção são astronômicos e altamente impactantes se levada em
4 PECES-BARBA, Gregório. Curso de Derechos Fundamentales: teoria general. Madrid: Universidad Carlos III. 1995. p. 102. 5 CARVALHO, Júlio Marino de. Os Direitos Humanos no Tempo e no Espaço: visualizados através do direito internacional, direito constitucional, direito penal e da história. Brasília: Brasília Jurídica, 1998. p. 39-40. 6 PECES-BARBA, Gregório. Curso de Derechos Fundamentales: teoria general. Madrid: Universidad Carlos III. 1995. p. 113-114. 7 SILVA. Francisco Carlos Teixeira. A Sociedade Feudal. São Paulo: Brasiliense. 1982. p. 41.
14
consideração a sociedade com o modelo de produção feudal8.
Com base em inovações advindas do mundo árabe, os instrumentos
agrícolas tiveram um salto qualitativo importante, que capacitou a geração de
excedentes alimentícios. Os implementos tecnológicos aliados ao excedente
populacional causam um avanço significativo sobre as terras incultas. É válido o
relato contemporâneo do administrador da Catedral de Mântua: “em menos de um
século as terras do domínio da Igreja foram roteadas e trabalhadas (truncatae et
aratae) e convertidas do estado de bosque em que se encontravam em terras boas
para o pão”9.
Este excesso populacional passa a buscar novas áreas para se estabelecer
e sair do jugo dos senhores. Trata-se de uma mudança estrutural, pois o antigo
modelo não mais suportava tamanho crescimento. Aldeias serão construídas onde
antes nada existia10.
Com estas alterações também o comércio terá papel preponderante.
Importante frisar que mesmo nos momentos mais críticos e depressivos do
feudalismo o comércio nunca desapareceu, embora tenha passado por uma
diminuição considerável para adaptar-se às necessidades desta sociedade11.
Mesmo nos locais mais distantes da Europa Ocidental havia rotas comerciais. No
norte, uma das rotas ligava a Inglaterra, a Escandinávia e os Países Bálticos até a
Rússia, que por sua vez, ia até Bizâncio na qual ocorria a transação com os
árabes12.
A necessidade de ligação entre as novas vilas e os antigos burgos e
castelos se fará presente, pois os excedentes precisavam ser vendidos. O comércio
passa a ser praticado em diversas partes da Europa, com o surgimento de diversas
feiras. Flandres e Champagne são algumas das que se destacaram neste processo,
sendo a segunda o ponto de encontro entre as rotas do norte e as rotas
mediterrâneas13. A realização destas feiras era feita por mandatários locais ou
senhores feudais.
8 SILVA. Francisco Carlos Teixeira. A Sociedade Feudal. São Paulo: Brasiliense. 1982. p. 42. 9 SILVA. Francisco Carlos Teixeira. A Sociedade Feudal. São Paulo: Brasiliense. 1982. p. 44-45. 10 SILVA. Francisco Carlos Teixeira. A Sociedade Feudal. São Paulo: Brasiliense. 1982. p. 45. 11 SILVA. Francisco Carlos Teixeira. A Sociedade Feudal. São Paulo: Brasiliense. 1982. p. 49. 12 SILVA. Francisco Carlos Teixeira. A Sociedade Feudal. São Paulo: Brasiliense. 1982. p. 49. 13 SILVA. Francisco Carlos Teixeira. A Sociedade Feudal. São Paulo: Brasiliense. 1982. p. 53.
15
De um lado, os condes da região abrem mão dos seus “direitos” (taxas, impostos, pedágios) sobre os mercadores e criam todo um sistema de garantias, assegurando salvo condutos, indenizações e uma guarda especial para as feiras, a qual passa a ter jurisdição sobre os mercadores, a selar os contratos, a excluir os trapaceiros14.
De início esta proteção dos senhores e mandatários locais foi importante
para o desenvolvimento do comércio com segurança, uma vez que as estradas em
péssima conservação construídas ainda na era romana estavam infestadas de
bandidos de toda a estirpe15. Contudo, com o passar do tempo os localismos
passaram a ser um entrave ao desenvolvimento comercial. As autoridades locais
não mais supriam as necessidades dos comerciantes. Constituíam um verdadeiro
entrave à atividade comercial, ao criarem distintas taxas, impostos e medidas.
A burguesia classe comerciante por excelência se verá prejudicada. Esta
nova classe que surgirá por toda a Europa Ocidental é justamente o oposto de tudo
o que a sociedade via até então. Será antagônica ao holismo medieval, pois a partir
dela surgirá o individualismo. Os burgueses surgem em meio a estas mudanças
econômicas, não podiam se encaixar neste mundo, fazia-se premente uma profunda
transformação social e o enfrentamento aos poderes estabelecidos seria
imprescindível. Vivia-se num sistema no qual imperava uma profunda
interdependência entre os indivíduos. O clero, os senhores, os servos, os guerreiros,
todos possuíam profundos vínculos sociais, sejam familiares, profissionais, como no
caso das guildas ou político-militares se tratando da vassalagem. A burguesia
contribuirá incisivamente para o fim da sociedade medieval comunal, de modo que
pregará o desenvolvimento pleno do indivíduo. A partir dela, não mais será
importante a origem de cada pessoa, mas sua capacidade de fazer dinheiro. As
guildas e grêmios medievais protegiam seus afiliados, porém impediam a
concorrência e não estimulavam a competência. Assim, a burguesia e a nova
economia favorecerão a livre concorrência, pondo fim a este sistema comunal. Esta
mudança do modelo holista para o modelo individualista é ilustrada na obra de
Harold Laski:
O movimento do feudalismo para o capitalismo é a passagem de um mundo no qual o bem-estar individual era considerado o resultado final de uma ação socialmente controlada para um mundo em que o
14 JUBAINVILLE, de Arbois, 1865 apud SILVA, Francisco Carlos Teixeira. A Sociedade Feudal. São Paulo: Brasiliense. 1982. p. 53. 15 SILVA. Francisco Carlos Teixeira. A Sociedade Feudal. São Paulo: Brasiliense. 1982. p. 51.
16
bem-estar é considerado a conseqüência de uma ação individualmente controlada16.
Entretanto, estas mudanças não ocorreram de forma homogênea pelos
países europeus. Alguns mais cedo outros mais tarde experimentarão a
modernidade e o individualismo. A mudança de pensamento que ocorre através dos
avanços científicos e a reforma causam a emancipação do indivíduo, serão as molas
propulsoras desta revolução17.
1.2 MUDANÇA DE MENTALIDADE
No tocante à mudança de pensamento destacam-se três acontecimentos
marcantes: a reforma religiosa, o humanismo e o nascimento da ciência moderna.
Os três darão suporte ao surgimento dos direitos humanos. Ironicamente, os
humanistas buscando a volta às origens clássicas e os reformistas ao cristianismo
puro, portanto, buscando o passado, trarão o moderno18.
1.2.1 O humanismo
O movimento humanista surgirá nas universidades européias, nas quais
eram lecionados basicamente três cursos: direito, teologia e medicina. Os
professores se empenhavam em manter a ordem feudal vigente, no entanto, devido
aos acontecimentos e mudanças ocorridas no meio social, político e econômico
ocorreu também uma mudança de concepção do ensino, passou-se a dar ênfase a
estudos sobre as humanidades. Nicolau Sevcenko traduz com muita propriedade
quem eram os humanistas:
[...] humanistas identificava inicialmente um grupo de eruditos voltados para a renovação dos estudos universitários, em pouco tempo ele se aplicava a todos aqueles que se dedicavam à crítica da
16 LASKI, Harold J.. O Liberalismo Europeu. São Paulo: Editora Mestre Jou. 1973, p. 21. 17 LASKI, Harold J.. O Liberalismo Europeu. São Paulo: Editora Mestre Jou. 1973. p. 21. 18 PECES-BARBA MARTINEZ, Gregório. Curso de Derechos Fundamentales: teoria general. Madrid: Universidad Carlos III. 1995. p. 123.
17
cultura tradicional e à elaboração de um novo código de valores e de comportamentos, centrados no indivíduo e em sua capacidade realizadora, quer fossem professores ou cientistas, clérigos ou estudantes, poetas ou artistas plásticos19.
Apesar de não constituírem um movimento homogêneo, pois estavam
espalhados por vários países da Europa os humanistas convergiam sobre o respeito
à individualidade humana20. Entre os humanistas alguns exerceram papel de
destaque e foram indispensáveis, vez que fundamentaram suas idéias e teorizaram
os direitos humanos. Estes livre-pensadores dentre os quais podemos citar Hugo
Grócio, Samuel Puffendorf, Christian Thomasius, Christian Wolff, Voltaire, Cesare
Beccaria, eram contrários ao poder religioso e muitos serão perseguidos por suas
idéias. Merecem destaque especial por terem mantido suas convicções mesmo num
momento em que a simples discordância dos dogmas estabelecidos poderiam levar
a pessoa à fogueira.
1.2.2 A ciência moderna
O clima de tensão vivido neste momento também não era favorável aos
cientistas. Paolo Rossi, no livro O nascimento da ciência moderna na Europa faz
uma narrativa sobre Johanes Kepler e o momento no qual o astrônomo alemão
escreveu o seu tratado harmonices mundi, conhecido atualmente como terceira Lei
de Kepler. Ao passo que desenvolvia sua tese Kepler se esforçava para defender
sua mãe de um processo no qual ela era acusada de feitiçaria. No mesmo processo,
uma das testemunhas de acusação ao mesmo tempo que acusava a mãe, chamava
Kepler de astrólogo e adepto à magia negra21. Não havia tranqüilidade para se fazer
ciência, fazer ciência era afrontar a Igreja Católica. Giordano Bruno foi queimado na
fogueira e Galileu teve de negar sua tese para escapar do mesmo fim trágico22. A
ciência moderna não nasce em universidades, a sua relação com estas instituições
era conflituosa. As universidades estavam “vigiadas” pela Igreja, assim a ciência
19 SEVCENKO, Nicolau. O Renascimento. 7ª ed. Campinas: Unicamp. 1988, p. 18. 20 SEVCENKO, Nicolau. O Renascimento. 7ª ed. Campinas: Unicamp. 1988, p. 18. 21 ROSSI, Paolo. O Nascimento da Ciência Moderna na Europa. Bauru: Edusc. 2001. p. 11. 22 ROSSI, Paolo. O Nascimento da Ciência Moderna na Europa. Bauru: Edusc. 2001. p. 12.
18
“transformou-se em uma atividade social organizada capaz de criar as suas próprias
instituições”23.
A pesquisa científica que se desenvolvia possuía um método, somente
através da experiência e de demonstrações algo poderia ser comprovado. É
definitivamente a influência do racionalismo se fazendo presente na ciência. A
publicação era necessária para que a tese fosse submetida ao juízo dos outros, para
que fosse contestada. Uma das mudanças trazida por este método é que o “fato de
se estabelecer com firmeza que a verdade das proposições não depende de modo
algum da autoridade de quem as pronuncia e que não está ligada de forma
nenhuma a uma “revelação ou iluminação” [...]24” Para os cientistas deste período foi
muito difícil romper com as raízes medievais do saber, o saber comum. As pessoas
com base na simples experiência do cotidiano acreditavam que a terra era o centro
do universo, por exemplo, isso era muito óbvio para elas. Também era óbvia a
imobilidade da terra, pois se esta se movesse os animais e objetos seriam lançados
pelos ares25. A ciência traz novos horizontes para a sociedade, destrói mitos, e
conseqüentemente entrará em conflito com a cultura do saber medieval, dominada
por monges, professores universitários e escolásticos26. Até então este saber havia
explicado os fenômenos físicos e naturais, contudo estas explicações não eram mais
convincentes aos olhos dos cientistas que opunham as crenças medievais ao
racionalismo moderno.
1.2.3 A reforma religiosa
Não demorou para que a nova classe sofresse hostilidades por parte do
poder eclesiástico. A Igreja católica não via com bons olhos as atividades da classe
burguesa. Jacques Le Goff narra no livro “A bolsa e a vida” que os teólogos
acusavam os comerciantes e os usurários de venderem o tempo, pois enquanto o
comerciante deixava o produto armazenado para sua futura venda num momento
mais propício para a agregação de valores, ou no caso do banqueiro/usurário,
23 ROSSI, Paolo. O Nascimento da Ciência Moderna na Europa. Bauru: Edusc. 2001. p. 10. 24 ROSSI, Paolo. O Nascimento da Ciência Moderna na Europa. Bauru: Edusc. 2001. p. 14. 25 ROSSI, Paolo. O Nascimento da Ciência Moderna na Europa. Bauru: Edusc. 2001. p. 39. 26 ROSSI, Paolo. O Nascimento da Ciência Moderna na Europa. Bauru: Edusc. 2001. p. 51.
19
enquanto o dinheiro estava armazenado e os juros incidiam sobre a quantia, não
haveria trabalho algum, nenhum esforço por parte do comerciante ou do usurário
para justificar esse dinheiro extra, ou seja, o tempo estaria sendo vendido. A crença
era a de que o tempo só pertence a Deus, portanto, estas atividades eram
impuras27.
O burguês deveria escolher entre a bolsa e a vida. Ao escolher a bolsa,
estaria a comprar sua entrada ao inferno, pois para a Igreja não havia pecado maior
do que vender o tempo, haja vista que este pecado era praticado incessantemente,
uma vez que até dormindo o usurário ou o comerciante estariam a pecar, pois o
dinheiro multiplicava-se sem que houvesse esforço28. Uma vez que escolhesse a
vida teria que deixar seu meio de subsistência. A maioria procurou ficar com os dois.
Não poderia ser diferente, haja vista que a sociedade moderna rompe com a feudal
na medida em que tem na idéia de satisfação individual o motor para a produção e o
trabalho sem limites, em oposição ao pensamento feudal de satisfação social
baseado na subsistência29.
O ano de 1517, mais especificamente 31 de outubro deste ano, poderia ser
eleito como o início da era moderna, por apresentar uma importante mudança na
estrutura da Europa Ocidental, por indicar o rompimento do poder eclesiástico
romano. Lutero, o reformador, trouxe mudanças importantíssimas que auxiliaram o
desenvolvimento do Estado secular e contribuições na distribuição de riqueza.
Afirmar que a reforma religiosa é produto do ideal burguês é demasiado forçoso.
Entretanto, obviamente, em algum momento foi necessário ajustar idéias para que a
nova religião conseguisse o apoio necessário para se firmar30. Segundo Laski: “A
emancipação do indivíduo é um produto secundário da Reforma. Em momento
nenhum fez parte da sua essência”31.
Os reformadores estavam mais preocupados em purificar a doutrina
teológica que vinha sendo deturpada. Buscavam iluminar a Igreja. Nas 95 teses de
Lutero resta claro este ideal de retomada dos princípios cristãos, além de
indagações sobre a autoridade papal. Apesar de causar grandes modificações em
27 LE GOFF, Jacques. A Bolsa e a Vida: economia e religião na idade média. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. 2007. p. 21-116. 28 LE GOFF, Jacques. A Bolsa e a Vida: economia e religião na idade média. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. 2007. p. 21-116. 29 LASKI, Harold J.. O Liberalismo Europeu. São Paulo: Editora Mestre Jou. 1973. p. 17. 30 LASKI, Harold J.. O Liberalismo Europeu. São Paulo: Editora Mestre Jou. 1973. p. 22. 31 LASKI, Harold J.. O Liberalismo Europeu. São Paulo: Editora Mestre Jou. 1973. p. 22.
20
seu tempo, alterando as estruturas de poder, o reformador continuava a ser um
conservador, haja vista que no campo social não inovou. A respeito de Lutero afirma
Laski:
Abominava a usura, era hostil aos novos mecanismos da finança, acreditava, como sublinhou Troeltsch, numa organização social dominada pela revelação sobrenatural, cujos têrmos eram inteiramente medievais32.
Tampouco o aclamado líder da religião puritana Calvino foi um reformador
social. Embora apresente diferenças imensas em relação ao protestantismo
luterano, a teoria de Calvino não diverge em relação ao poder secular, por exemplo.
Para ele a autoridade tem origens divinas, tendo por conseqüência o dever de
obediência incondicional por parte dos súditos33.
Então qual será a importância da reforma religiosa para a formação dos
direitos humanos? Por si só, a ruptura do poder soberano católico apresenta
benefícios. Peces-Barba com muita propriedade sintetizará a importância da
reforma:
Esta ruptura do monopólio intelectual, cultural e religioso da Igreja católica produzirá não só o auge do individualismo, mas também o princípio do pluralismo, do relativismo e da tolerância, como únicos princípios que podem evitar a guerra de todos contra todos34.
Os protestantes pregarão uma liberdade de consciência, o indivíduo terá
acesso à bíblia em sua língua nacional, poderá ler e interpretar simples e
diretamente a bíblia, sem vincular-se às interpretações profundas da escolástica. Um
dos pilares do protestantismo será a salvação individual por meio da fé.
Peces-Barba faz uma distinção entre duas espécies de protestantismo. A
primeira, mais tradicional é denominada velha, uma alusão à sua precedência. Esta
é representada por Lutero e Calvino. A segunda, por sua vez, é protagonizada pelas
32 LASKI, Harold J.. O Liberalismo Europeu. São Paulo: Editora Mestre Jou. 1973. p. 22. 33 PECES-BARBA,Gregório. Transito a la modernidad siglos XVI y XVII. In ______. FERNÁNDEZ GARCÍA, E.; PECES-BARBA,G. (org.). Historia de los Derechos Fundamentales . Tomo I. Madrid: Dykinson/Universidad Carlos III. 1998. p. 121. 34 “Esta ruptura del monopolio intelectual, cultural y religioso de la Iglesia católica producirá no sólo un auge del individualismo, sino también el principio del pluralismo, del relativismo y de la tolerancia, como únicos principios que pueden evitar la guerra de todos contra todos”. PECES-BARBA,Gregório. Transito a la modernidad siglos XVI y XVII. In ______. FERNÁNDEZ GARCÍA, E.; PECES-BARBA,G. (org.). Historia de los Derechos Fundamentales . Tomo I. Madrid: Dykinson/Universidad Carlos III. 1998. p.125-126. (tradução livre do autor).
21
seitas e igrejas surgidas posteriormente, porém também de cunho reformista.
Segundo o autor espanhol, é no segundo protestantismo no qual se encontram os
traços mais marcantes de influência dos direitos humanos. Os protestantes,
sobretudo, os luteranos teorizarão importante aspecto que é a separação entre
Estado e religião. Embasarão esta distinção no fato de que a Igreja é um corpo
espiritual. Este ideal favorecerá a fundamentará a formação do Estado absoluto,
haja vista que segundo suas teorias o poder emana de Deus e desta forma é
incontestável35. Contrariamente aos antigos protestantes, os novos militarão pela
liberdade terrena, uma maior liberdade de consciência. Entre estes novos
protestantes estão os puritanos, que pregarão a predestinação. Este é um exemplo
verdadeiramente individualista, uma vez que a teoria da predestinação pregava uma
liberdade individual tal que o puritano só estaria sujeito às ordens divinas. Certo de
sua salvação se entregaria as atividades terrenas com afinco e entusiasmo, todavia
livre em relação às ordens humanas 36.
Todos estes aspectos trazidos pelo protestantismo são relevantes para o
individualismo e principalmente para a formação dos direitos humanos. Todavia, a
tolerância exerce papel preponderante quando o assunto é a reforma religiosa. Aqui
há que se ressalvar que, devidamente consolidadas, as igrejas históricas
protestantes passarão também a perseguir e a praticar a intolerância para com os
que divergirem teologicamente em suas áreas geográficas de influência. O fator
principal em relação à tolerância é a existência de conflitos e guerras de religião que
ocorreram nos séculos XVI e XVII. Os conflitos e a instabilidade econômica, social e
política obrigaram as partes envolvidas a criarem institutos jurídicos para a proteção
da liberdade religiosa, da liberdade de consciência. Nasce assim o primeiro direito
fundamental, a liberdade religiosa37.
35 PECES-BARBA,Gregório. Transito a la modernidad siglos XVI y XVII. In ______. FERNÁNDEZ GARCÍA, E.; PECES-BARBA,G. (org.). Historia de los Derechos Fundamentales . Tomo I. Madrid: Dykinson/Universidad Carlos III. 1998. p. 117-125. 36 PECES-BARBA,Gregório. Transito a la modernidad siglos XVI y XVII. In ______. FERNÁNDEZ GARCÍA, E.; PECES-BARBA,G. (org.). Historia de los Derechos Fundamentales . Tomo I. Madrid: Dykinson/Universidad Carlos III. 1998. p. 134. 37 PECES-BARBA,Gregório. Transito a la modernidad siglos XVI y XVII. In ______. FERNÁNDEZ GARCÍA, E.; PECES-BARBA,G. (org.). Historia de los Derechos Fundamentales . Tomo I. Madrid: Dykinson/Universidad Carlos III. 1998. p. 151.
22
1.3 O ESTADO ABSOLUTO
O Estado moderno surge num momento muito peculiar da história européia.
A mudança da estrutura econômica trouxe consigo a necessidade de mudanças
políticas. O comércio em larga escala começava a ser praticado e o feudalismo
declinou em alguns locais. Soma-se a isto o fato das grandes navegações terem se
iniciado o que conferia uma maior abertura comercial e o contato com diferentes
áreas do globo. Neste contexto, não há mais espaço para os poderes locais, que
perderão seu norte em virtude destas complexas relações que se impõe na
sociedade do início do século XVI.
Assim, se tornará indispensável à unificação do poder em torno de uma
estrutura forte, o Estado, com poder e força legítimos. A burguesia será
preponderante neste processo de formação, pois apoiará a criação do Estado, vez
que verá nesta instituição uma oportunidade para o desenvolvimento pleno de suas
atividades. Um Estado poderoso pressupõe instituições fortes e o direito é uma
delas. Não há mais a subordinação da população às leis locais de cada região, mas
sim uma centralização legislativa em torno do poder autoritário do soberano.
Gregório Peces-Barba observa a existência de dois modelos distintos de
Estado Moderno, o modelo inglês e o modelo continental. Esta distinção é
importante porque demonstra a importância do Estado no desenvolvimento dos
direitos humanos, o qual tornará possível a gênesis normativa dos direitos38. Na
Inglaterra, em decorrência da invasão normanda há uma situação sui generis. O
feudalismo que se caracteriza por uma minoria fazendo parte da classe governante,
é ainda mais seletivo. De fato poucos serão os barões em torno do monarca,
diferentemente do que ocorria no resto do continente. O rei inglês era grande
possuidor de terras, o que aumentava o seu prestígio e poder, isto favorecia a
centralização do poder em suas mãos. Já no ano de 1100 o poder do rei era
reconhecido como poder soberano em relação aos demais senhores feudais.
Precisa ser dito que a conquista normanda conduziu a Inglaterra por
caminhos diferentes das nações do continente, pois alterou profundamente as
38 PECES-BARBA,Gregório. Transito a la modernidad siglos XVI y XVII. In ______. FERNÁNDEZ GARCÍA, E.; PECES-BARBA,G. (org.). Historia de los Derechos Fundamentales . Tomo I. Madrid: Dykinson/Universidad Carlos III. 1998. p. 45.
23
instituições medievais e criou um sentimento de unidade nacional39.
No tocante à justiça, os ingleses possuíam juízes itinerantes que detinham
grande poder e representavam diretamente o rei, com isso a monarquia detinha o
monopólio da força legítima e retirava da alçada dos senhores locais o poder
judiciário40. Se comparados os mesmo períodos cronológicos, a Inglaterra estava em
vantagem em relação aos seus vizinhos do continente.
A monarquia já possuía fortes características que no continente só iriam se
manifestar séculos mais tarde, já havia assim uma forma rudimentar do que viria a
ser o Estado Moderno, eis que era evidente a centralização do poder em torno do
monarca. Esta centralização embrionária fará com que a revolução constitucional
inglesa ocorra aproximadamente um século mais cedo do que a revolução que
destituiu o antigo regime na França e trouxe o liberalismo41. Peces-Barba fala que
“já no século XIII começará a tensão entre a Coroa e os senhores feudais, e os
estamentos e mais tarde a burguesia que culminará com a vitória do Parlamento no
final do século XVII”42.
A Magna Carta de 1215 é o primeiro sintoma da centralização monárquica
inglesa e do descontentamento existente, que obrigará o rei a ceder em prol dos
barões e burgueses de cidades maiores43. Este jogo de forças entre o rei inglês e o
parlamento que na Inglaterra também congregará a burguesia, (câmara dos
comuns), além dos senhores, (câmara dos lordes), será benéfico à promoção dos
direitos humanos, haja vista que surgirão documentos em defesa dos direitos a
exemplo da Petition of Rights (1628), Acta de Hábeas Corpus (1679) e o Bill of
Rights (1688). E será exatamente esse conflito de forças que fará com que a
39 BOUTMY, Emile. Lê dévelopement de la Constituition et de la societé politique en Angleterre. p. 14 apud PECES-BARBA,Gregório. Transito a la modernidad siglos XVI y XVII. In ______. FERNÁNDEZ GARCÍA, E.; PECES-BARBA,G. (org.). Historia de los Derechos Fundamentales . Tomo I. Madrid: Dykinson/Universidad Carlos III. 1998. p. 45. 40 PECES-BARBA,Gregório. Transito a la modernidad siglos XVI y XVII. In ______. FERNÁNDEZ GARCÍA, E.; PECES-BARBA,G. (org.). Historia de los Derechos Fundamentales . Tomo I. Madrid: Dykinson/Universidad Carlos III. 1998. p. 45. 41 PECES-BARBA,Gregório. Transito a la modernidad siglos XVI y XVII. In ______. FERNÁNDEZ GARCÍA, E.; PECES-BARBA,G. (org.). Historia de los Derechos Fundamentales . Tomo I. Madrid: Dykinson/Universidad Carlos III. 1998. p. 45-46. 42 “Ya en el siglo XIII empezará la tensión entre la Corona y los señores feudales, y los estamentos y más tarde la burguesía que culminará con la victoria del Parlamento a finales del siglo XVII”. PECES-BARBA,Gregório. Transito a la modernidad siglos XVI y XVII. In ______. FERNÁNDEZ GARCÍA, E.; PECES-BARBA,G. (org.). Historia de los Derechos Fundamentales . Tomo I. Madrid: Dykinson/Universidad Carlos III, 1998. p. 47. (tradução livre do autor). 43 PECES-BARBA,Gregório. Transito a la modernidad siglos XVI y XVII. In ______. FERNÁNDEZ GARCÍA, E.; PECES-BARBA,G. (org.). Historia de los Derechos Fundamentales . Tomo I. Madrid: Dykinson/Universidad Carlos III. 1998. p. 47.
24
Inglaterra desenvolva um Estado Liberal já no século XVII44.
O continente por sua vez, apresenta um jogo de forças mais complexo. Não
há de forma alguma a centralização prematura do poder real como aconteceu na
Inglaterra. O Estado Moderno continental surge das lutas entre a monarquia e a
Igreja e contra poderes locais dos senhores feudais. Para o poder do Estado ser
realmente soberano não poderia estar vinculado a qualquer poder superior. A
reforma pôs fim à unidade cristã na Europa Ocidental e foi um passo importante para
o surgimento do Estado Moderno, pois o enfraquecimento do poder eclesiástico vem
ao encontro das ambições monárquicas.
O primeiro modelo de Estado continental foi o estamental descentralizado do
século XV. Este modelo pode ser considerado a fase embrionária do Estado
Moderno. Em menos de um século ocorre a perda gradual do poder por parte da
Igreja e dos senhores feudais, marcando o fim desta descentralização. Durou pouco,
já no século XVI o poder é centralizado nas mãos do monarca, criando-se o Estado
Absoluto.
Neste sentido, a importância do Estado continental é maior para o estudo da
formação histórica dos direitos humanos, pois o poder neste ente político será muito
centralizado, gerando maiores abusos por parte dos governantes absolutistas em
relação aos seus súditos. A burguesia será severamente prejudicada. A ausência de
liberdade será sentida pelos burgueses que influenciados pelos teóricos do
jusnaturalismo racionalista reclamarão por seus direitos naturais como indivíduos.
Desta forma, a burguesia buscará fim da opressão e do absolutismo, em prol de um
Estado que defenda as liberdades individuais. Este Estado que supera o
absolutismo é conhecido como Estado liberal burguês45.
O filósofo italiano Norberto Bobbio adverte sobre a possibilidade de se
enxergar uma continuidade Estatal e não um começo, pois não foi apenas com os
pensadores modernos que se fundamentou e teorizou a idéia de Estado. O Estado
já era conhecido dos romanos na Antigüidade e será também nela onde estes
44 PECES-BARBA,Gregório. Transito a la modernidad siglos XVI y XVII. In ______. FERNÁNDEZ GARCÍA, E.; PECES-BARBA,G. (org.). Historia de los Derechos Fundamentales . Tomo I. Madrid: Dykinson/Universidad Carlos III. 1998. p. 50. 45 PECES-BARBA,Gregório. Transito a la modernidad siglos XVI y XVII. In ______. FERNÁNDEZ GARCÍA, E.; PECES-BARBA,G. (org.). Historia de los Derechos Fundamentales . Tomo I. Madrid: Dykinson/Universidad Carlos III. 1998. p. 53-58.
25
pensadores encontrarão adequada fundamentação para suas teorias46.
O Estado moderno é adequado às idéias de Thomas Hobbes (1588-1679),
cientista político, que viveu e conviveu em certa medida com o surgimento dos
Estados. Sua teoria, baseada no contratualismo possuía traços aristotélicos, na
medida em que partia da premissa de que o homem é bom por natureza. Contudo,
há desvios, causados por três motivos basicamente; a competição, a desconfiança e
o fato de alguns buscarem a glória.
A relação destes motivos com o Estado é clara para Hobbes. Essa
sociedade seria marcada pelo medo, pela desconfiança, o medo de ser traído e
perseguido, essa seria a essência do estado natural. A salvação dos homens seria
uma só; unirem-se por meio de um contrato elegendo um soberano com poderes
ilimitados. Só por meio do Estado a paz seria alcançada. Interessante ressaltar
sobre Hobbes é sua noção de igualdade e liberdade. Para o inglês liberdade não
passa de retórica, a liberdade seria algo físico aplicável a qualquer corpo, já a
igualdade é física e espiritual; assim, embora existam diferenças físicas e
intelectuais entre os homens elas não são capazes de trazer grandes desvantagens.
Seria a própria igualdade a causadora da guerra de todos contra todos, visto que
todos os homens se sentiriam capazes de buscar e desejar as coisas, tornando os
homens competidores entre si. Portanto, o Estado é condição de existência da
sociedade, só por meio dele haverá paz. Com relação ao poder, o soberano é
incontestável e seus poderes ilimitados47.
Nesse sentido, eventuais excessos cometidos pelo soberano contra seus
súditos seriam relevados em prol do bem maior que é a instituição do Estado e sua
paz inerente. Obviamente que este modelo de Estado é contrário ao ideal dos
direitos fundamentais. A limitação extrema da liberdade trazida pelo Estado absoluto
constituirá para alguns retrocesso em relação às liberdades existentes no
feudalismo, “no discurso de Bailly, líder do Terceiro Estado, ao desafiar o rei em
1789 em nome das antigas liberdades das “comunes” usurpadas pela monarquia”48.
Sieyès, representante do Terceiro Estado francês e participante ativo da revolução
expõe com veemência o ódio sentido pela esmagadora maioria da população no
46 BOBBIO, Norberto. Estado, Governo, Sociedade: para uma teoria geral da política. 8ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra. 2000. p. 72-74. 47 RIBEIRO, Renato Janine. Hobbes: o medo e a esperança. In ______. WEFFORT, Francisco C.(org). Os Clássicos da Política: Maquiaveal, Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau, “O federalista”. São Paulo: Ática. 2000. p. 53-69. 48 SILVA. Francisco Carlos Teixeira. A Sociedade Feudal . São Paulo: Brasiliense. 1982. p. 9.
26
momento da revolução. Desenvolve a tese de que o Terceiro Estado é quem
realmente contribui para a manutenção do Estado francês e da vida folgada dos
nobres. Segundo o abade Sieyès: “O Terceiro Estado abrange, pois, tudo o que
pertence à nação. E tudo o que não é Terceiro Estado não pode ser olhado como
pertencente à nação. Quem é o Terceiro Estado? Tudo”49.
Uma das conseqüências do surgimento deste Estado é a ruptura gradual da
sociedade estamental e o caminho em direção à modernidade, através dele os
homens deixam a barbárie e caminham em direção à civilidade. É evidente que
enquanto provedor de uma convivência ordenada o Estado trará maior segurança
jurídica em relação às atividades comerciais e financeiras, todavia, como já exposto
trará um revés, no tocante à diminuição das liberdades dos seus súditos, visto que a
centralização do poder pressupõe a supressão de direitos.
Contudo é John Locke, também contratualista, quem mais se aproxima do
ideal e das necessidades da burguesia, pois dirá que o papel do Estado ao contrário
do que afirmava Hobbes é o de manter e proteger a propriedade privada. Para
Hobbes a propriedade era do Estado e constituía uma liberalidade do soberano
fornecê-la ou não aos súditos. Em suma, o Estado moderno tem como característica
principal a monopolização do poder em torno de uma única pessoa ou instituição,
que obviamente também detém o poder normativo. Outra característica marcante
deste Estado é a existência de instituições fortes. Percebe-se claramente o
desenvolvimento ou criação do exército, burocracia, tributação, comércio e
diplomacia50.
1.4 JUSNATURALISMO RACIONALISTA
É neste rumo, nestas profundas mudanças estruturais, que ocorrerá a
transformação do direito. A reforma protestante laiciza o direito, de modo que não
mais se admite a mediação entre Deus e os homens neste aspecto. O direito
49 SIEYÈS, Emmanuel Joseph. A Contituinte Burguesa: Qu’est-ce que lê tiers état? Trad. Norma Azevedo. 4° ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris. 2001. p. 5. 50 ANDERSON, Perry. Linhagens do Estado Absolutista. São Paulo: Brasiliense. 1985, 29.
27
perderá paulatinamente suas raízes religiosas51. Conforme mencionado na seção
1.3, referente ao Estado Absoluto, os protestantes advogarão a separação entre
poder eclesiástico e poder temporal, assim há espaço à profusão de teses como a
de Hobbes. Para o autor inglês o único legitimado a exercer o poder legislativo de
um Estado é o próprio Estado, na pessoa do soberano.
E igualmente que ninguém pode fazer leis a não ser o Estado, pois a nossa sujeição é unicamente para com a república[...] [...] Em todas as repúblicas o legislador é unicamente o soberano, seja este homem, como numa monarquia, ou uma assembléia, como numa democracia, ou numa aristocracia. [...] Portanto a república é o único legislador. Mas a república só é uma pessoa, com capacidade para fazer seja o que for, por meio do representante (isto é, o soberano); portanto o soberano é o único legislador52.
No século XVI e, sobretudo, no século XVII o direito pautar-se-á na razão. O
direito natural não estará ligado ao direito natural teológico, será racional por estar à
disposição de todos, uma vez que todos os seres humanos são dotados de razão53.
Neste contexto, o pai do direito internacional, o holandês Hugo Grócio afirma que “o
direito natural seria o que é, mesmo se Deus não existisse”54. Importante ressaltar
que não está em jogo aqui a religiosidade, pois muitos dos jusnaturalistas e o próprio
Grócio eram protestantes, entretanto, concebiam uma nova forma de direito, um
direito racional desligado completamente da idéia medieval de direito religioso
dependente de Deus.
Grócio foi o primeiro a falar em direito natural sem vinculá-lo a uma doutrina
pré-estabelecida, ou seja, o direito independente de Deus, baseado apenas na razão
dos homens. Sua contribuição é fundamental aos direitos humanos. É importante
ressaltar que a revolução científica que se iniciou nas cidades italianas durante o
renascimento e se constitui em traço fundamental do trânsito à modernidade,
encontrou abrigo nos países protestantes, pois a contra-reforma obstaculizou o seu
51 PECES-BARBA,Gregório. Transito a la modernidad siglos XVI y XVII. In ______. FERNÁNDEZ GARCÍA, E.; PECES-BARBA,G. (org.). Historia de los Derechos Fundamentales . Tomo I. Madrid: Dykinson/Universidad Carlos III. 1998, p.140-141. 52 HOBBES, Thomas. Leviatã. São Paulo: Martins Fontes. 2003. p. 226-227. 53 DÍAZ, Elías, 1980 APUD GARCIA, Marcos Leite. A contribuição de Christian Thomasius ao Processo de Formação do Ideal dos Direitos Fundamen tais. Itajaí: Novos Estudos Jurídicos, v. 10, n. 2, p. 422, jul/dez. 2005. 54 GROTIUS, Droit de la guerre et de la paix, Prolegômenos, § XI APUD GOYARD-FABRE, Simone. Os Fundamentos da Ordem Jurídica. São Paulo: Martins Fontes. 2002. p. 49.
28
desenvolvimento em locais de influência católica55.
Assim, dogmas estavam sendo quebrados e verdades que eram tidas como
absolutas postas em descrédito. A ciência estava a serviço da humanidade, e esta
humanidade ansiava por valores sociais políticos e econômicos.56 O direito como
ciência não ficou inerte neste ciclo. Na idéia de direito natural incute-se a tentativa
burguesa de fundamentar a igualdade entre os homens como princípio do direito. A
idéia de estado natural expressada nas teorias de Hobbes e Locke só para
mencionar alguns expoentes, é o argumento para um direito que é inerente aos
indivíduos por sua simples condição de ser humano, prescindindo sociedade57.
Outra mudança fundamental do direito no mundo moderno é a distinção entre direito
e moral, indispensável para que se pratiquem as liberdades religiosa e de
pensamento58.
1.5 REVOLUÇÕES BURGUESAS
As revoluções burguesas são assim denominadas porque abrem espaço
para o capitalismo59. A começar pela revolução Inglesa, também chamada de
gloriosa, pela violência moderada e parco derramamento de sangue, este é um
período marcado pela última etapa da longa transição entre o feudalismo e o
capitalismo60. Na Inglaterra do século XVII, viveu-se intensamente os dilemas desta
transição. Conflitos religiosos, um rei que almejava se tornar absolutista, a nobreza a
buscar a restauração de seus poderes políticos e uma burguesia crescente criaram
as condições para esta revolução. Trevelyan afirma que essa revolução era o
contrário de uma revolução, pois ela não acabou com a lei, pelo contrário, ratificou a
55 LOPES, Marcos Antonio. A Política dos Modernos. Cascavel: Edunioeste. 1997. p. 14-15. 56 LOPES, Marcos Antonio. A Política dos Modernos. Cascavel: Edunioeste. 1997. p. 15. 57 GOYARD-FABRE, Simone. Os Fundamentos da Ordem Jurídica. São Paulo: Martins Fontes. 2002. preâmbulo XXXI. 58 PECES-BARBA,Gregório. Transito a la modernidad siglos XVI y XVII. In ______. FERNÁNDEZ GARCÍA, E.; PECES-BARBA,G. (org.). Historia de los Derechos Fundamentales . Tomo I. Madrid: Dykinson/Universidad Carlos III. 1998. p. 238.
59 ARRUDA, José Jobson de Andrade. A Grande Revolução Inglesa 1640-1780 : revolução inglesa e revolução industrial na construção da sociedade moderna. São Paulo: Hucitel. 1996. p. 53. 60 BERUTTI, F. C. ; MARQUES, A. M. ; FARIA, R. M. . História Moderna Através de Textos. São Paulo: Contexto. 1999. p. 132-133.
29
lei que vinha sendo violada pelo rei61. Não obstante a discussão sobre a existência
ou não de uma “revolução” com o sentido que a palavra requer, ocorreram
mudanças marcantes na Inglaterra e não há precedentes como estes na história
das insurreições anteriores dos Estados europeus62. O rei foi executado por
descumprir a constituição fundamental do reino, ocorreu a abolição da Câmara dos
Lordes, a eliminação da Igreja estabelecida, e a abolição de instituições
administrativas do governo. Contudo, a revolução inglesa é marcada por um
conservadorismo social. Para Stone:
[...] apesar do controle sobre a propriedade econômica ter sido arrebatado das mãos da coroa e do episcopado, tanto os independentes quanto os presbiterianos estavam satisfeitos com a distribuição existente da propriedade privada dentro da sociedade. Também estavam determinados a manter a hierarquia das posições existentes e sua íntima associação com o padrão de autoridade. Mesmo Cromwell, que tomou a dianteira na abolição da monarquia na Câmara dos Lordes e do episcopado, era, afinal, um conservador em matéria social63.
Outra característica desta revolução é a participação de diversos membros
da sociedade64. De uma forma ou de outra, conforme já mencionado, vários atores
sociais estiveram presentes destacando-se a nobreza e burguesia, que no caso
inglês diferentemente da revolução francesa estarão de certa forma unidos na busca
por liberdade pessoal sob a lei, liberdade esta, tanto religiosa quanto política.
Destacam-se como conquistas dos revolucionários na pós-revolução a lei da
tolerância (1689), que permitiu a devoção religiosa dos dissidentes, e a abolição da
censura (1695), que concedeu maior liberdade política aos indivíduos. A Inglaterra
passou a viver um período de grande tolerância. Embora a lei não previsse total
igualdade política para os outros crentes, na prática até os católicos gozavam
privilégios65.
Entre as três revoluções burguesas a inglesa é a que mais se distancia das
demais. Talvez por ter ocorrido um século antes, há a existência de uma menor
61 TREVELYAN, George McCaulay. A Revolução Inglesa . Brasília: Universidade de Brasília. 1982. p. 5. 62 STONE, Lawrence. Causas da Revolução Inglesa 1529-1642 . Bauru: EDUSC. 2000. p. 102-103. 63 STONE, Lawrence. Causas da Revolução Inglesa 1529-1642 . Bauru: EDUSC. 2000. p. 101. 64 ARRUDA, José Jobson de Andrade. A Grande Revolução Inglesa 1640-1780 : revolução inglesa e revolução industrial na construção da sociedade moderna. São Paulo: Hucitel, 1996. p. 53. 65 TREVELYAN, George McCaulay. A Revolução Inglesa . Brasília: Universidade de Brasília, 1982. p. 5.
30
comoção pública. A revolução inglesa foi muito mais uma luta por poder político
entre o monarca e o parlamento. Já as revoluções americana e francesa se
assemelharão quanto a uma profunda influência do iusnaturalismo racionalista, na
medida que proclamarão seus valores humanos como valores universais, inerentes
a todos os indivíduos. Contudo, há diferenças entre o modelo americano e o francês.
O primeiro apresenta forte cunho religioso, também não poderia ser diferente visto
que muitos colonos americanos saíram da metrópole por questões de intolerância
religiosa. O modelo francês será marcado por uma profunda laicização66.
As revoluções do velho mundo possuem fatos que se assemelham. Em
ambas há uma classe média burguesa sem privilégios políticos e de outro os nobres
e o rei. A nobreza detentora de privilégios tributárias e grande proprietária de terras
possuía também a supremacia dos cargos públicos. Na França “por volta da década
de 1780, eram necessários quatro graus de nobreza até para comprar uma patente
no exército, todos os bispos eram nobres e até mesmo as intendências, a pedra
angular da administração real, tinham sido retomadas por eles67.
Este momento histórico marcará o declínio das monarquias absolutas, haja
vista que os ideais propalados nestas revoluções serão ouvidos mundo afora. De
fato, agitações burguesas de cunho democrático ocorreram em diversos países
europeus principalmente na década de 1770, entretanto, nesta “era de revoluções”,
destaca-se evidentemente a revolução francesa que irradiou seus ideais pelo
mundo68. O historiador inglês Eric Hobsbawm chega a afirmar que comparados aos
revolucionários franceses os americanos tanto do norte quanto do sul poderiam ser
considerados moderados tamanho radicalismo que havia nesta revolução69.
O modelo francês trouxe maior liberdade individual ao homem frente a
religião e ao controle político estatal. É inovador na instituição do poder soberano
nacional como poder político supremo em detrimento do monarca e constitui o
império das leis como única forma de garantia e criação de direitos70.
A conseqüência das revoluções burguesas foi a positivação dos direitos
fundamentais nas legislações dos países revolucionários. A positivação foi e é
66 PECES-BARBA, Gregório. Curso de Derechos Fundamentales: teoria general. Madrid: Universidad Carlos III, 1995. p.145-154. 67 HOBSBAWM. Eric J.. A Era das Revoluções. São Paulo: Paz e Terra, 2004. p. 88. 68 HOBSBAWM. Eric J.. A Era das Revoluções . São Paulo: Paz e Terra. 2004. p. 84. 69 HOBSBAWM. Eric J.. A Era das Revoluções . São Paulo: Paz e Terra. 2004. p. 85. 70 PECES-BARBA, Gregório. Curso de Derechos Fundamentales: teoria general. Madrid: Universidad Carlos III. 1995. p. 153.
31
indispensável na medida que sem ela os direitos nunca deixariam de ser uma mera
pretensão moral.
Denota-se que ambas as declarações promovem os direitos humanos como
direitos universais. É evidente que esta é a vocação dos direitos humanos. Já se
reconhece esta característica no racionalismo natural, base destes direitos. Pregava-
se a existência de um direito comum a todos, pelo mero fato de serem homens, esta
norma que estaria acima de qualquer norma positivada seria uma norma superior,
balizadora, o direito natural racional.
32
2. LINHAS DE EVOLUÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS
Faz-se necessário agora, verificar como ocorreu a inserção dos direitos
humanos, que na verdade eram pretensões filosóficas no mundo jurídico. Para isso,
Peces-Barba realiza uma divisão que contempla o que se chama de linhas de
evolução dos direitos humanos, essencial para o entendimento do desenvolvimento
destes direitos até a atualidade e os desdobramentos e enfrentamentos teóricos
advindos desta evolução. Esta divisão distingue quatro momentos distintos: a inicial
positivação, generalização dos direitos humanos, internacionalização e
especificação.
2.1 POSITIVAÇÃO
Embora possa ser contraditório, os direitos humanos foram positivados
graças às idéias do direito natural racionalista71. Contraditório no sentido de que o
positivismo vem justamente excluir qualquer possibilidade de existência de direito
que não o instituído em lei. Segundo Bobbio “por obra do positivismo jurídico ocorre
a redução de todo o direito a direito positivo, e o direito natural é excluído da
categoria de direito: o direito positivo é direito, o direito natural não é direito”72.
A positivação dos direitos humanos nasce da necessidade de se dotar o
ideal dos direitos humanos de um estatuto jurídico próprio, para que assim fosse
possível proteger eficazmente seus titulares73. Hobbes será o pioneiro e um dos
grandes teóricos do positivismo jurídico, embora fosse também um iusnaturalista.
Como iusnaturalista acreditava que sem o poder do Estado o direito natural não
adquiriria eficácia, pois sobreviveria apenas na consciência de cada homem, uma
vez, que não haveria obrigatoriedade no cumprimento. Portanto, Hobbes vislumbra o
Estado como único detentor do poder e único capaz de garantir a eficácia dos
71 PECES-BARBA, Gregório. Curso de Derechos Fundamentales: teoria general. Madrid: Universidad Carlos III. 1995. p. 156. 72 BOBBIO, Norberto. O Positivismo Jurídico: Lições de filosofia do direito. São Paulo: Ícone. 1999. p. 26. 73 PECES-BARBA, Gregório. Curso de Derechos Fundamentales: teoria general. Madrid: Universidad Carlos III. 1995. p. 157.
33
direitos, para tanto, o mesmo Estado possui o monopólio do poder normativo, cabe
unicamente a ele produzir as leis74.
A idéia desta necessária positivação dos direitos é explicitada pelo artigo 16
da Declaração Francesa de 1789:
A liberdade consiste em poder fazer tudo quanto não incomode o próximo; assim o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem limites senão nos que asseguram o gozo destes direitos. Estes limites não podem ser determinados senão pela lei75.
A partir daí criar-se-á a necessidade de positivação para a aplicação dos
direitos. Faz parte do mundo jurídico aquilo que está na lei, nas Constituições. Os
direitos humanos que haviam sido pretensões morais, durante o chamado processo
de formação dos direito humanos, passarão, assim a se tornar direitos
fundamentais, pois só através da positivação será possível enraizar os direitos na
realidade76.
É possível verificar essa positivação das pretensões morais nas declarações
que são promulgadas no século XVIII. Nesse sentido, destaca-se o primeiro artigo
da Declaração do Bom Povo da Virgínia de 12 de junho de 1776: “Todos os seres
humanos são, pela sua natureza, igualmente livres e independentes, e possuem
certos direitos inatos, dos quais, ao entrarem no estado de sociedade, não podem,
por nenhum tipo de pacto, privar ou despojar sua posteridade; nomeadamente, a
fruição da vida e da liberdade, com os meios de adquirir e possuir a propriedade de
bens, bem como de procurar e obter a felicidade e a segurança”77. A Declaração
francesa de 1789 afirmará em seu preâmbulo: “[...] os direitos naturais, inalienáveis
e sagrados do homem [...] e no artigo primeiro: Os homens nascem e permanecem
livres e iguais em direitos [...]”78.
74 BOBBIO, Norberto. O Positivismo Jurídico: Lições de filosofia do direito. São Paulo: Ícone. 1999. p. 34-35. 75 COMPARATO, Fábio Konder. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. 5ª ed. São Paulo: Saraiva. 2007. p. 158. 76 PECES-BARBA, Gregório. Curso de Derechos Fundamentales: teoria general. Madrid: Universidad Carlos III. 1995. p. 160. 77 COMPARATO, Fábio Konder. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. 5ª ed. São Paulo: Saraiva. 2007. p. 118. 78 COMPARATO, Fábio Konder. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. 5ª ed. São Paulo: Saraiva. 2007. p. 158.
34
2.2 GENERALIZAÇÃO
A generalização dos direitos deve muito à democracia. Foi através dela que
se tornou possível o diálogo entre o liberalismo e o socialismo indispensável para a
generalização dos direitos humanos79. O liberalismo pregado nos séculos XVIII e
XIX trará contradições aos direitos humanos, pois enquanto as declarações estavam
pautadas no direito natural que afirmava a igualdade entre os homens – basta ver o
artigo 1° da Declaração francesa 80 – na prática se negava à população o direito de
livre associação, a participação política e o sufrágio. O liberalismo deste período
propunha uma negação parcial dos direitos humanos, pois a classe burguesa, que
muito havia feito pelos direitos humanos já havia alcançado sua meta, a não
interferência estatal propriamente dita, em suas atividades81. Os socialistas,
seguidores de correntes marxista-leninistas, por sua vez, propunham a negação total
dos direitos humanos, pois acreditavam se tratar apenas de um modo de alienação,
da qual os homens precisavam ser libertados82.
Como já exposto, os direitos humanos nascem das formulações históricas
que pregam a igualdade entre todos os seres humanos, partindo do direito natural.
Afirmam imprescritibilidade e inalienabilidade destes direitos por meio do
jusnaturalismo83.
É afirmada por Peces-Barba a existência de uma imensa contradição nos
séculos XVIII e XIX, entre a teoria e a prática, ou seja, formalmente, nas declarações
a igualdade era festejada, contudo quem eram estes titulares da liberdades? Havia a
exclusão de vários direitos importantíssimos à população, os grandes contemplados
pelas declarações eram os burgueses.
A livre associação, por exemplo, não só não era contemplada nas
declarações como possuía expressa vedação legal em países como França e
79 PECES-BARBA, Gregório. Curso de Derechos Fundamentales: teoria general. Madrid: Universidad Carlos III. 1995. p. 164. 80 “Os homens nascem e ficam iguais em direitos.[...]”. COMPARATO, Fábio Konder. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos, p. 158. 81 PECES-BARBA, Gregório. Curso de Derechos Fundamentales: teoria general. Madrid: Universidad Carlos III. 1995. p.160. 82 PECES-BARBA, Gregório. Curso de Derechos Fundamentales: teoria general. Madrid: Universidad Carlos III. 1995. p.160. 83 PECES-BARBA, Gregório. Curso de Derechos Fundamentales: teoria general. Madrid: Universidad Carlos III. 1995. p. 162.
35
Espanha84. Na Grã-Bretanha somente em 1871 se autoriza a constituição de
associações de trabalhadores. A falta de previsão legal também abarcava o direito
ao sufrágio. O que havia era um sufrágio censitário, enquanto as declarações
previam a igualdade entre os homens85. O direito à propriedade é outro direito que
causa contradição, eis que fatalmente promove a desigualdade entre os homens.
Estas grandes contradições advindas dos primeiros modelos são importantes para
explicar o processo de generalização. Através destas contradições surgirão direitos
econômicos, sociais, culturais, que indubitavelmente são imprescindíveis ao gozo
dos direitos civis e políticos86.
A pergunta a ser feita é: como ocorrerá este processo de generalização? O
processo de generalização dos direitos humanos só foi possível através da
democracia. Peces-Barba coloca muito bem a maneira que liberais e socialistas
abertos à democracia e aos direitos fundamentais contribuirão para a generalização
dos direitos. As versões totalitárias de liberais conservadores e socialistas marxista-
leninistas eram inimigas dos direitos fundamentais, os primeiros por seu egoísmo e
os segundos pela negação total dos valores87.
Os liberais democráticos viam os socialistas como um movimento positivo a
ser integrado, da mesma forma que os socialistas democráticos acreditavam que os
direitos fundamentais e o sistema parlamentarista representativo não eram apenas
instituições burguesas, mas sim derivações do processo histórico burguês, todavia
seriam meios que poderiam ser utilizados para a efetivação dos ideais socialistas88.
Nesse sentido, estes movimentos democráticos possibilitarão a generalização dos
direitos humanos.
Peces-Barba cita John Stuart Mill, célebre liberal inglês, defensor da
liberdade e da democracia representativa: “Mill considera a via parlamentar como
84 PECES-BARBA, Gregório. Curso de Derechos Fundamentales: teoria general. Madrid: Universidad Carlos III. 1995. p. 162-163. 85 PECES-BARBA, Gregório. Curso de Derechos Fundamentales: teoria general. Madrid: Universidad Carlos III. 1995. p.163. 86 PECES-BARBA, Gregório. Curso de Derechos Fundamentales: teoria general. Madrid: Universidad Carlos III. 1995. p. 164. 87 PECES-BARBA, Gregório. Curso de Derechos Fundamentales: teoria general. Madrid: Universidad Carlos III, 1995. p. 164. 88 PECES-BARBA, Gregório. Curso de Derechos Fundamentales: teoria general. Madrid: Universidad Carlos III. 1995. p.164.
36
adecuada para lutar pelos objetivos socialistas da classe trabalhadora89”. Os
parlamentaristas terão, desta forma, por meio da democracia e do parlamentarismo
representativo, meios de buscar a realização do socialismo e da garantia de direitos
para os trabalhadores. A classe trabalhadora lutará para ser incluída no cenário
político e para que se democratize o sufrágio, para que a luta por melhores
condições de trabalho e, sobretudo de vida, possa ocorrer realmente.
Os resultados do processo de generalização são basicamente três, segundo
Peces-Barba: participação política igualitária, participação da classe trabalhadora
numa nova formulação de direitos fundamentais, para que seja assegurada a
igualdade e a liberdade e , por fim, a desfundamentalização do direito de
propriedade90. “Os direitos novos são o direito de associação e o sufrágio
universal”91.O direito de associação abre espaço para a criação de mais direitos, no
âmbito político e sindical, dando origem aos partidos e aos sindicatos92. A
conseqüência destes implementos é muito simples: o proletariado possui meios de
buscar os seus direitos e defender seus interesses. Peces-Barba sintetiza muito bem
a importância desta garantia de acesso político à classe trabalhadora:
A inflluência dessa situação no tema dos direitos fundamentais consistirá na formulação de novos direitos, os chamados direitos econômicos, sociais e culturais, a educação, as condições de trabalho e no trabalho, a proteção da saúde e da sanidade, a seguridade social, etc93.
Portanto, pode-se dizer que a classe trabalhadora será a verdadeira classe
beneficiada pelo processo de generalização dos direitos humanos. Os novos direitos
corrigiram em parte as desigualdades advindas do processo de positivação que
beneficiava a burguesia, por possuir um caráter abstrato quando à titularidade dos 89 “Mill considera la vía parlamentaria como adecuada para luchar por los objetivos socialistas de la clase trabajadora”. PECES-BARBA, Gregório. Curso de Derechos Fundamentales: teoria general. Madrid: Universidad Carlos III. 1995. p. 166. (tradução livre do autor). 90 PECES-BARBA, Gregório. Curso de Derechos Fundamentales: teoria general. Madrid: Universidad Carlos III. 1995. p. 168. 91 “Los derechos novos son el derecho de asociación y el sufragio universal”. PECES-BARBA, Gregório. Curso de Derechos Fundamentales: teoria general. Madrid: Universidad Carlos III, 1995. p. 169. (tradução livre do autor). 92 PECES-BARBA, Gregório. Curso de Derechos Fundamentales: teoria general. Madrid: Universidad Carlos III. 1995. p. 169. 93 “La influencia de esa situación en el tema de los derechos fundamentales consistirá en la formulación de unos nuevos derechos, los llamados derechos económicos, sociales y culturales, a la educación, a las condiciones del trabajo y en el trabajo, a la protección de la salud y a la sanidad, a la seguridad social, etc”. PECES-BARBA, Gregório. Curso de Derechos Fundamentales: teoria general. Madrid: Universidad Carlos III. 1995. p. 169-170. (tradução livre do autor).
37
direitos.
O centro da discussão sobre os direitos fundamentais neste período para
Peces-Barba é a igualdade e a solidariedade, pois somente através da igualdade de
condições será possível desfrutar de direitos políticos e civis. O pensador que por
excelência abordará estas questões será o francês Aléxis de Tocqueville, que não
por acaso viveu no século XIX. Para ele a única maneira de se chegar à liberdade é
garantindo-se a igualdade de condições. Tocqueville é essencial para o
entendimento deste período, pois assim como Mill, conseguirá sintetizar e verificar
as necessidades para a fruição da liberdade. Tocqueville se encanta com a
sociedade norte-americana e suas formas de integrar os cidadãos na vida pública e
política. Nos Estados Unidos ele percebe que os legisladores haviam dado vida
política, maior descentralização e independência para pequenas porções do
território, gerando uma maior dependência da população uns com os outros. Desta
maneira, diminuiu-se o individualismo e aproximou-se a população das instituições
políticas94. Em suma, a generalização dos direitos fundamentais é a possibilidade do
proletariado e demais classes marginalizadas da sociedade liberal burguesa
alcançarem os seus próprios direitos e satisfazerem suas necessidades através da
aproximação em relação ao poder público95. Outro resultado importante deste
processo foi a retirada do direito à propriedade do rol dos direitos fundamentais. Um
direito que não pode ser estendido a todos não pode ser um direito fundamental, é
antes um privilégio96.
O processo de generalização não é visto por Peces-Barba como algo
acabado, para ele as ameaças se renovam e poderão conduzir os direitos
fundamentais a um novo processo de generalização. Algumas destas ameaças são
citadas, como a dos meios de comunicação e os partidos políticos. Os meios de
comunicação tem manipulado a informação, já os partidos políticos corrompem o
parlamentarismo representativo, ao invés de defenderem os interesses da soberania
popular defendem seus próprios interesses. Outra ameaça é a do conhecimento
ligado à informática. É indispensável a massificação do acesso a estas novas
tecnologias, bem como a proteção das pessoas em relação à intimidade. Por fim,
94 TOCQUEVILLE, Alexis de. A Democracia na América. 2 ed. São Paulo: USP. 1987. p. 387-391. 95 PECES-BARBA, Gregório. Curso de Derechos Fundamentales: teoria general. Madrid: Universidad Carlos III. 1995. p.170. 96 PECES-BARBA, Gregório. Curso de Derechos Fundamentales: teoria general. Madrid: Universidad Carlos III. 1995. p.170.
38
aborda o imperialismo na economia como outro vilão atual. É preciso que se
racionalize a economia, os direitos fundamentais devem servir aos indivíduos.
Interessar-se mais pela liberdade de mercado do que pela liberdade das pessoas é
uma afronta aos direitos fundamentais e isso deve ser combatido97.
2.3 INTERNACIONALIZAÇÃO
O processo de internacionalização dos direitos humanos é recente, tem
início do século XIX e continua após o fim da segunda guerra mundial. Não é um
processo acabado. O ordenamento internacional, isto é, os tratados, as convenções,
declarações e cartas carecem de um poder político que lhes confira eficácia. Neste
sentido o ordenamento internacional ainda é carente se comparado ao ordenamento
interno dos Estados. É possível afirmar que os Estados Modernos estão como os
poderes medievais localizados antes do surgimento do Estado moderno que
centralizou o poder98.
Para compreender os direitos humanos na atualidade é indispensável o
entendimento deste processo chamado internacionalização, pois o mesmo processo
é confundido com a chamada universalização dos direitos humanos que será vista
adiante. A gênese do processo de internacionalização dos direitos humanos se dá
no início do século XIX, no ano de 1815, com os primeiros sinais de cooperação
internacional para o fim do tráfico de escravos e o fim da escravidão. Esta
articulação entre os Estados pelo fim da escravidão foi longa. Neste período foram
assinados diversos documentos, como: o Tratado de Londres de 1841, a Ata Geral
de Bruxelas de 1890, revisada pela convenção de Saint-Germain-em-Laye99.
Destaca-se também a cooperação internacional em prol do direito
humanitário. Sobretudo a partir da criação da Cruz Vermelha, dá-se grande ênfase
ao direito humanitário em tempos de guerra. Um grande número de documentos
internacionais tratam disto, as Convenções de Genebra de 1864 e 1929 e as
97 PECES-BARBA, Gregório. Curso de Derechos Fundamentales: teoria general. Madrid: Universidad Carlos III. 1995. p.171-172. 98 PECES-BARBA, Gregório. Curso de Derechos Fundamentales: teoria general. Madrid: Universidad Carlos III. 1995. p. 173. 99 PECES-BARBA, Gregório. Curso de Derechos Fundamentales: teoria general. Madrid: Universidad Carlos III. 1995. p. 173.
39
Convenções de Haia de 1899 e 1907, constituem marcos importantes, elas trazem
normas para a condução da guerra de modo que se “humanize”os conflitos100. André
de Carvalho Ramos acredita que o processo de internacionalização possui um
marco inicial, a Carta de São Francisco, o tratado internacional que deu origem à
Organização das Nações Unidas em 1945101. Sem desprezar os tratados anteriores
a este período Carvalho Ramos assevera a especialidade do tratado que foi o
primeiro a mencionar sobre o dever de promoção dos direitos por parte dos Estados
signatários. Nas palavras do autor:
[...] a Carta de São Francisco, sem dúvida, o primeiro tratado de alcance universal que reconhece os direitos fundamentais de todos os seres humanos, impondo o dever dos Estados de assegurar a dignidade e o valor da pessoa humana. Pela primeira vez, o Estado era obrigado a garantir direitos básicos a todos sob sua jurisdição, quer nacional ou estrangeiro102.
O processo de internacionalização não pára por aí ele é muito extenso, tão
extenso que será objeto de críticas como as de Carrilo Salcedo, que vê neste
processo um retrocesso em relação à globalização e generalização que as
declarações em séculos anteriores haviam trazido, para ele estes tratados
internacionais vinculariam juridicamente apenas alguns Estados, facilitando lacunas,
contradições, produzindo uma inflação normativa em matéria de direitos humanos103.
Embora exista este tipo de crítica, o processo de internacionalização é um espelho
muito claro da importância que os valores e os direitos adquiriram no mundo.
Os horrores da segunda guerra mundial, como não poderia deixar de ocorrer
repercutiram no campo dos direitos humanos e claramente influenciaram o
desenvolvimento da Declaração Universal da Organização Universal das Nações
Unidas de 1948. Esta Declaração demonstra um grau de maturidade e uma vontade
geral de humanizar o mundo, é o ponto alto deste processo de internacionalização
dos direitos humanos.
100 PECES-BARBA, Gregório. Curso de Derechos Fundamentales: teoria general. Madrid: Universidad Carlos III. 1995. p. 173-174. 101 RAMOS, André de Carvalho. Teoria Geral dos Direitos Humanos na Ordem Internac ional. Rio de Janeiro: Renovar. 2005. p. 50 102 RAMOS, André de Carvalho. Teoria Geral dos Direitos Humanos na Ordem Internac ional. Rio de Janeiro: Renovar. 2005. p. 50. 103 CARRILO SALCEDO, J.A. Soberania de los Estados y Derechos Humanos em Derecho Internacional Contemporâneo, apud PECES-BARBA, Gregório. Curso de Derechos Fundamentales: teoría general. Madrid: Universidad Carlos III de Madrid. 1995. p. 174-175.
40
Mesmo assim, a sensação mundial é de que o desrespeito aos direitos
humanos é crescente. Por isso, Peces-Barba discute e tenta entender o por quê
disto. Embora haja esta gama diversificada de documentos internacionais, a
comunidade internacional é incapaz de reconhecer e aplicar estes direitos, por quê?
A resposta parece estar na inexistência de um poder político supranacional, com
poderes plenos capaz de garantir o cumprimento deste ordenamento jurídico
existente sobre a matéria104. A comunidade internacional está num estado primitivo,
assim como os indivíduos estavam para o estado de natureza Hobbesiano, anterior
ao contrato social no qual os indivíduos ainda não haviam aberto mão de suas
liberdades para constituírem a sociedade.
Na sociedade internacional contemporânea não existe legislador, juiz, nem governo centralizado, de tal modo que as normas internacionais se aplicam em um meio descentralizado, plural e muito heterogêneo, o que dificulta notavelmente, no âmbito do direito internacional dos Direitos Humanos, o controle do cumprimento das normas internacionais, e a sanção em caso de descumprimento[...]105.
Com base nisto, Peces-Barba afirma que com raras exceções como o caso
do Conselho da Europa, o direito internacional dos direitos humanos ainda se
encontra muito longe do ideal. O sucesso europeu é possível graças a
homogeneização dos Estados que o compõe, bem como o respeito à liberdade
individual, o parlamentarismo representativo e o império da lei106.
Atualmente existem duas formas de se encarar o processo de
internacionalização no direito internacional. O modo clássico, que não visualiza
nenhuma forma de ruptura da soberania dos estados e o sistema moderno no qual
“a soberania é um obstáculo para a organização e proteção dos direitos humanos e
104 PECES-BARBA, Gregório. Curso de Derechos Fundamentales: teoría general. Madrid: Universidad Carlos III de Madrid. 1995. p. 176-177. 105 “En la sociedad internacional contemporánea no existe legislador, juez, ni gobierno centralizado, de tal modo que las normas internacionales se aplican en un medio descentralizado, plural y muy heterogéneo, lo que dificulta notablemente, en el ámbito del Derecho internacional de los Derechos Humanos, el control del cumplimiento de las internacionales, y la sanción en caso de incumplimiento[...]”. PECES-BARBA, Gregório. Curso de Derechos Fundamentales. : teoría general. Madrid: Universidad Carlos III de Madrid. 1995. p. 177. (tradução livre do autor). 106 PECES-BARBA, Gregório. Curso de Derechos Fundamentales: teoría general. Madrid: Universidad Carlos III de Madrid. 1995. p. 177-178.
41
se buscam instâncias, mais além do interestatal, para vencê-la107. Este modelo
questiona a soberania estatal e transforma os indivíduos em seres sujeitos do direito
internacional, propondo a existência de uma autoridade supranacional.
Carvalho Ramos entende que tratados que versem sobre direitos humanos
são limitadores da soberania estatal e que muitos países os fazem, pois necessitam
de cooperação internacional e não querem isolar-se108. Partindo desta premissa, ele
tenta explicar por que os Estados aceitam que sua soberania seja limitada, e aderem
a tratados internacionais sobre direitos humanos sem que exista nenhuma
contrapartida evidente. Segundo Carvalho Ramos um único motivo não seria capaz
de responder ao questionamento, visto que existem inúmeras diferenças entre os
Estados e as diferenças históricas fazem com que cada um tenha motivos diferentes
para ratificar os tratados sobre direitos humanos109. Para responder à pergunta ele
analisa seis motivos.
O primeiro está ligado aos Estados europeus, é a herança histórica deixada
pela segunda guerra mundial. Os horrores praticados pelos nazistas em relação aos
judeus, no âmbito interno dos Estados, demonstrou a necessidade de um
ordenamento internacional que impedisse violações domésticas dos direitos
humanos110. Entretanto, é evidente que o nazismo não teve o mesmo impacto para
todos os Estados, razão pela qual o autor desenvolve outros motivos.
O segundo motivo é a tentativa de alguns Estados de adquirirem
legitimidade política internacional por meio da aderência a instrumentos jurídicos
internacionais de proteção aos direitos humanos, motivada pelo passado ditatorial e
de notório desrespeito aos direitos humanos. Nesse motivo o autor inclui o Brasil111.
O terceiro motivo tem íntima relação com o segundo e trata da possibilidade
de servir como meio de estabelecimento de diálogo entre os povos, neste sentido
afirma Carvalho Ramos: “A internacionalização do tema dos direitos humanos
107 “La soberanía es un obstáculo para la organización y protección de los derechos y se buscan instancias, más allá de lo interestatal, para vencerla”. PECES-BARBA, Gregório. Curso de Derechos Fundamentales: teoría general. Madrid: Universidad Carlos III de Madrid. 1995. p. 178. (tradução livre do autor). 108 RAMOS, André de Carvalho. Teoria Geral dos Direitos Humanos na Ordem Internac ional. Rio de Janeiro: Renovar. 2005. p. 60. 109 RAMOS, André de Carvalho. Teoria Geral dos Direitos Humanos na Ordem Internac ional. Rio de Janeiro: Renovar. 2005. p. 60 110 RAMOS, André de Carvalho. Teoria Geral dos Direitos Humanos na Ordem Internac ional. Rio de Janeiro: Renovar. 2005. p. 61-62. 111 RAMOS, André de Carvalho. Teoria Geral dos Direitos Humanos na Ordem Internac ional. Rio de Janeiro: Renovar. 2005. p. 62.
42
permite a manutenção de um diálogo comum entre Estados em busca de um novo
equilíbrio pós-comunismo e em plena era da globalização e seus novos desafios”112.
O quarto motivo está atrelado à economia. Os países desenvolvidos
defendem a internacionalização dos direitos humanos para que os investidores
tenham algumas garantias em países subdesenvolvidos como o direito à
propriedade, vedação ao confisco e garantia do devido processo legal, enquanto que
os países subdesenvolvidos também se utilizariam da internacionalização dos
direitos humanos para os seus interesses, neste caso, para exigirem mudanças em
setores como o do comércio internacional ou o do direito internacional econômico113.
O quinto fator é a atuação de organizações não governamentais nacionais.
Elas teriam perceberam que “os tratados internacionais de direitos humanos são
alternativas para a consecução de objetivos muitas vezes inalcançáveis no plano
legislativo interno”114.
Por fim, o último motivo que impulsiona a internacionalização dos direitos
humanos é a mobilização de organizações não governamentais, na maioria das
vezes de países desenvolvidos, na luta contra o desrespeito aos direitos básicos do
homem ocorrido internamente ou em outros Estados. Estas organizações buscam
colocar na agenda política de seus Estados a necessidade da internacionalização
dos direitos humanos para proteger indivíduos de outros Estados115.
2.4 ESPECIFICAÇÃO
Ao contrário do processo de generalização que é abstrato, este processo
vem definir quem são de fato os destinatários dos direitos humanos. Na
generalização estes destinatários são de certa forma genéricos: o homem, o
cidadão. Na especificação individualiza-se o processo, por exemplo, os idosos, os
deficientes, as mulheres, as crianças. 112 RAMOS, André de Carvalho. Teoria Geral dos Direitos Humanos na Ordem Internac ional. Rio de Janeiro: Renovar. 2005. p. 63. 113 RAMOS, André de Carvalho. Teoria Geral dos Direitos Humanos na Ordem Internac ional. Rio de Janeiro: Renovar. 2005. p. 64 114 RAMOS, André de Carvalho. Teoria Geral dos Direitos Humanos na Ordem Internac ional. Rio de Janeiro: Renovar. 2005. p. 65-66. 115 RAMOS, André de Carvalho. Teoria Geral dos Direitos Humanos na Ordem Internac ional. Rio de Janeiro: Renovar. 2005. p. 67.
43
Bobbio fala propriamente da especificação dos direitos humanos. Para ele a
especificação é a determinação específica dos sujeitos dos direitos humanos. Ele
analisa este processo de determinação dos sujeitos e diz que se parece muito com o
ocorrido especificamente com o direito à liberdade, que saindo de uma idéia abstrata
se ramificou em “liberdades singulares e concretas (de consciência, de opinião, de
imprensa, de reunião, de associação) [...]116. Da mesma forma que a pergunta: que
liberdade? Faz nascer este processo de ramificação, a pergunta que homem? Faz
com que ocorra esta especificação em relação “ao gênero, seja às várias fases da
vida, seja à diferença entre estado normal e estados excepcionais na existência
humana”117.
Bobbio cita alguns documentos internacionais que para ele são provas do
processo de especificação dos direitos: Declaração dos direitos da Criança (1959),
Declaração sobre a eliminação da discriminação à mulher (1967) e a declaração dos
direitos do deficiente mental (1971)118.
O processo de especificação é na verdade um enriquecimento em relação
aos processos anteriores. Partindo do conceito que Norberto Bobbio dá ao tema,
Peces-Barba propõe o estudo da especificação em duas frentes distintas. De um
lado o processo de especificação em relação aos titulares dos direitos, de outro lado
o processo em relação ao seu conteúdo, ou em relação aos direitos propriamente
ditos119.
Como visto anteriormente, os direitos são positivados genericamente, assim
denomina-se os titulares universalmente, como homem ou cidadão. O fato é que no
processo de especificação se busca considerar concretamente os titulares, pois é
evidente que em determinadas situações alguns destinatários exigem e necessitam
de um tratamento especial, maior proteção120.
Peces-Barba estuda quais são estas situações que criam a necessidade de
um tratamento diferenciado e por conseqüência, em que casos é necessária a
especificação. A primeira situação está ligada à condição social ou cultural de
inferioridade dos indivíduos que necessitam de proteção especial através de direitos
116 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Rio de Janeiro: Campus. 1992. p. 62. 117 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos . Rio de Janeiro: Campus. 1992. p. 62. 118 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos . Rio de Janeiro: Campus. 1992. p. 63. 119 PECES-BARBA, Gregório. Curso de Derechos Fundamentales: teoría general. Madrid: Universidad Carlos III de Madrid. 1995. p. 180-183. 120 PECES-BARBA, Gregório. Curso de Derechos Fundamentales: teoría general. Madrid: Universidad Carlos III de Madrid. 1995. p. 180-181.
44
que tornem possível a sua afirmação e inclusão. Para exemplificar melhor esta
situação ele dá dois exemplos: as mulheres e os imigrantes. Em ambos os casos
são necessárias ações para incluir, para que seja garantida a igualdade material e
se diminua o preconceito, quando a igualdade se materializar estes direitos
específicos podem ser extintos.
Mas que direitos seriam estes? Seriam “[...] direitos concretos, vinculados à
família, ao trabalho e às suas condições e à participação política principalmente”121.
O segundo modelo é relativo à condição física das pessoas, condição esta que as
torna inferiores nas relações sociais. Aqui, diferentemente da primeira proposição o
valor exercido não é a igualdade, mas sim a solidariedade.
Esse tipo de especificação igualmente aos demais requer proteção especial
aos destinatários, contudo, essa proteção possui duas faces, uma geral e outra
específica. A geral é representada pelos direitos da criança. Durante este estágio da
vida humana todos os indivíduos apresentam debilidades físicas e psíquicas e
justamente por essa inferioridade merecem proteção diferenciada. Todavia, o
ordenamento jurídico fixa um limite temporal para que os indivíduos permaneçam
sob esta proteção: até que atinjam a maioridade122.
A proteção às condições específicas se dá ante a existência de indivíduos
com inferioridades física e psíquicas, como também ocorre na proteção geral.
Entretanto, neste caso, trata-se de indivíduos com inferioridades específicas, que em
regra não serão sanadas com o tempo, está se tratando aqui dos deficientes. A
proteção aqui não se limita no tempo, durará o quanto bastar, o quanto o indivíduo
permanecer na condição de inferioridade que em muitos casos pode ser
permanente123.
O último enfoque relativo aos destinatários é o que leva em consideração as
relações sociais. Neste caso, busca-se defender o direito do mais fraco. O direito do
consumidor é um bom exemplo disto. Como poderia o consumidor lutar pelos seus
direitos em igualdade de condições com megaempresas se não fosse garantido este
equilíbrio legal? Este é o viés da especificação dos direitos, a busca pela correção,
121 “[...] derechos concretos, vinculados a la familia, al trabajo y a sus condiciones y a la participación política principalmente”. PECES-BARBA, Gregório. Curso de Derechos Fundamentales: teoría general. Madrid: Universidad Carlos III de Madrid. 1995. p. 181. (tradução livre do autor). 122 PECES-BARBA, Gregório. Curso de Derechos Fundamentales: teoría general. Madrid: Universidad Carlos III de Madrid. 1995. p. 181. 123 PECES-BARBA, Gregório. Curso de Derechos Fundamentales: teoría general. Madrid: Universidad Carlos III de Madrid. 1995. p. 181.
45
pela reparação das diferenças que impedem o pleno desenvolvimento do indivíduo,
na verdade este é o próprio cerne dos direitos humanos, o desenvolvimento pleno
das pessoas124. Diferentemente da generalização dos direitos humanos que trata os
desiguais igualmente, a especificação trata os desiguais desigualmente.
Segundo Peces-Barba, com relação à especificação dos conteúdos, existem
três dimensões de direitos: direitos ao meio ambiente, direito ao desenvolvimento e
direito à paz. Os direitos relativos ao meio ambiente passaram a ser debatidos com
maior ênfase a partir da década de 70 do século XX, quando foram realizados
alguns encontros internacionais para debater o tema, a exemplo da conferência
sobre o meio ambiente realizada em 1972 em Estocolmo. No tocante à efetividade
das normas de direito ambiental internacional existem dificuldades para a proteção
dos ecossistemas. Internamente as constituições de alguns países tem trazido
garantias para que os tribunais controlem principalmente a ação administrativa
estatal. No campo internacional é mais difícil, a noção de meio ambiente em escala
global é muito incipiente e as normas de direito internacional em sua maioria não
são de caráter obrigatório. A solidariedade é o grande princípio propagado no direito
ambiental. É a preocupação das gerações contemporâneos com as gerações futuras
e o mundo que será habitado por elas. Isto é uma marca do processo de
especificação dos direitos125.
Ao contrário dos direitos ao meio ambiente saudável os outros dois direitos:
ao desenvolvimento e à paz, se apresentam como pretensões morais, ainda não há
um consenso e a sua aplicação ainda é muito restrita, quando não quase
inexistente. O direito ao desenvolvimento é muito recente, faz parte das discussões
que tomaram corpo após a descolonização. A titularidade deste direito não está
relacionada com os indivíduos, mas sim aos povos e nações. Este direito se dá no
âmbito da comunidade internacional entre países ricos e pobres. Há poucas normas
que tratam do desenvolvimento internacional, o tema encontra-se ainda no campo
da filosofia dos direitos fundamentais, não há a positivação. Portanto, não existem
obrigações, apenas convenções morais. A falta de consciência é demonstrada pelas
esmolas que os países ricos concedem aos países pobres. Peces-Barba compara o
direito ao desenvolvimento de todos os países às lutas que os socialistas travaram
124 PECES-BARBA, Gregório. Curso de Derechos Fundamentales: teoría general. Madrid: Universidad Carlos III de Madrid. 1995. p.182. 125 PECES-BARBA, Gregório. Curso de Derechos Fundamentales: teoría general. Madrid: Universidad Carlos III de Madrid. 1995. p. 184-187.
46
no século XIX nos países liberais, para que toda a população pudesse gozar os
direitos liberais126.
Por fim, a especificação dos conteúdos aponta para o direito à paz. Os
direitos humanos estão vinculados à paz e o seu gozo pleno é intrinsecamente
ligado a uma condição de vida livre e democrática, por isso a importância de se
sustentar o direito à paz. Este direito começou a ser debatido recentemente, em
contraposição à idéia de guerra justa. As incertezas que as guerras atuais geram,
ante a possibilidade de serem empregados armamentos químicos, bacteriológicos e
nucleares fizeram com que os teóricos repensassem a guerra.
Em 1984, através da Declaração da Assembléia Geral da ONU, algumas
questões como a necessidade do desarme e controle das indústrias bélicas, foram
aventadas. Contudo, o direito à paz é muito abstrato e dificilmente pode integrar-se à
teoria dos direitos fundamentais, visto que há uma impossibilidade técnica para
tornar viável sua validade jurídica, ante a inexistência de um poder político
garantidor da paz127.
Apenas para demonstrar essa crescente especificação dos direitos humanos
e a extensa legislação internacional que se tem criado sobre o assunto, cabe citar
em relação às mulheres a Convenção relativa aos direitos políticos da mulher
(1952), Convenção relativa à eliminação de todas as formas de discriminação contra
a mulher (1979), Declaração sobre a proteção da mulher e da criança em estados de
emergência e conflito armado (1974). Com relação aos deficientes: A proteção de
pessoas acometidas de transtorno mental e a melhoria da assistência à saúde
mental (1992), Convenção sobre reabilitação profissional e emprego de pessoas
(1983), Declaração de direitos do deficiente mental (1975), Declaração de direitos
das pessoas deficientes (1975), Regras sobre igualdade de oportunidades para
pessoas com deficiências (1993). Direitos das crianças: Convenção relativa aos
direitos da criança (1989), Convenção relativa à proteção das crianças e à
cooperação em matéria de adoção internacional (1995), Declaração dos direitos da
criança (1959). Meio ambiente: Declaração sobre o meio ambiente e
126 PECES-BARBA, Gregório. Curso de Derechos Fundamentales: teoría general. Madrid: Universidad Carlos III de Madrid. 1995. p. 188-190. 127 PECES-BARBA, Gregório. Curso de Derechos Fundamentales: teoría general. Madrid: Universidad Carlos III de Madrid. 1995. p. 195.
47
desenvolvimento (1992), Convenção relativa à avaliação dos impactos ambientais
num contexto transfronteiras (1991) e Protocolo de Quioto (1997)128.
2.5 AS GERAÇÕES DE DIREITOS
O processo histórico dos direitos humanos possui até o momento quatro
grandes linhas de evolução de direitos: positivação, generalização,
internacionalização e especificação. As linhas evolutivas receberam influências e
contribuições variadas, dentre as quais se pode destacar os movimentos de cunho
liberal, democrático e socialista129. Alguns autores na tentativa de facilitar o
entendimento do processo de formação histórica dos direitos humanos realizaram
divisões nas chamadas gerações.
Em tese, estas divisões obedecem três grandes princípios que são
unanimidade entre os autores: liberdade, igualdade e fraternidade. Seriam estas as
três primeiras gerações. Direitos humanos de 1ª geração aqueles direitos que
promovem as liberdades individuais, de segunda geração os direitos oriundos das
lutas sociais e de terceira geração os direitos de solidariedade, direitos comunitários
como o direito ao meio ambiente saudável etc. Alguns chegam a incluir uma quarta
geração de direitos como os novos direitos surgidos da evolução tecnológica.
O primeiro a formular esta divisão foi o Tcheco Karel Vazak, numa
conferência sobre direitos humanos no ano de 1979130. Falar de gerações de direitos
é percorrer um caminho tortuoso, o tema é controverso. O perigo de delimitar os
direitos humanos em gerações é incorrer no grave erro que muitos cometem de
acreditar que uma nova geração substitui a anterior, é o risco de se fragmentar os
direitos. Em verdade isto não pode ocorrer, pois uma geração agrega, se integra às
demais. Os direitos humanos devem sempre ser vistos como direitos indivisíveis, ou
seja, todos os direitos merecem a mesma proteção jurídica, vez que são essenciais
à vida humana, assim não há espaço para uma hierarquia de direitos, todos
128 BITTAR, Eduardo; DE ALMEIDA, Guilherme Assis. Mini-Código de Direitos Humanos. São Paulo: Juarez de Oliveira. 2008. 129 PECES-BARBA, Gregório. Curso de Derechos Fundamentales: teoría general. Madrid: Universidad Carlos III de Madrid. 1995. p.183. 130 RAMOS, André de Carvalho Ramos. Teoria Geral dos Direitos Humanos na Ordem Internacional . Rio de Janeiro: Renovar. 2005. p. 82.
48
merecem a mesma proteção, sejam direitos sociais, econômicos, civis, políticos,
culturais, etc131.
André Carvalho Ramos chega a afirmar que a divisão dos direitos serve a
governos autoritários e a governos que desrespeitam os direitos sociais. Os direitos
humanos precisam ser compreendidos como uma unidade, não há se pode
privilegiar direitos sociais em prol dos direitos civis ou vice-versa132. Existe também
sempre o risco de se incorrer num erro histórico, uma vez que os direitos humanos
não surgem de maneira estanque e organizada, são frutos de diferentes processos
históricos.
Para não correr o risco de induzir a uma idéia de sucessão cronológica
Wolkmer propõe a modificação do termo geração por dimensão. Deixa claro,
portanto que os direitos humanos são indivisíveis e que as dimensões fazem parte
de um processo de complementação133. Wolkmer propõe cinco dimensões. Na
primeira dimensão ele trata dos direitos “negativos” estabelecidos contra o Estado.
Incluiu aqui os direitos individuais vinculados à liberdade, à igualdade, à resistência,
a opressão, à propriedade. Basicamente, direitos inerentes à individualidade134. Os
direitos de segunda geração são os direitos sociais, econômicos e culturais, ligados
à valores relativos à igualdade.
Interessa aqui tratar dos direitos de terceira, quarta e quinta dimensão, visto
que os dois primeiros já foram objeto de estudo. Estes direitos de terceira, quarta e
quinta dimensão são chamados de “novos direitos”, pois possuem um caráter difuso
e metaindividual, isto é, os seus titulares são grupos de pessoas, categorias e não o
indivíduo135.
Neste sentido estes direitos remetem linha evolutiva da especificação
formulada por Peces-Barba. Quanto ao conteúdo, estes direitos de terceira
dimensão abarcam o direito do consumidor, os direitos ao meio ambiente sadio, à
131 RAMOS, André de Carvalho Ramos. Teoria Geral dos Direitos Humanos na Ordem Internacional. Rio de Janeiro: Renovar. 2005. p. 199. 132 RAMOS, André de Carvalho Ramos. Teoria Geral dos Direitos Humanos na Ordem Internacional. Rio de Janeiro: Renovar. 2005. p. 88. 133 WOLKMER, Antônio Carlos. Os novos direitos. In ______: WOLKMER, Antônio Carlos; LEITE, José Rubens Morato (Orgs.). Os novos direitos no Brasil: natureza e perspectivas uma visão básica das conflituosidades jurídicas. São Paulo: Saraiva. 2003. p. 6-7. 134 WOLKMER, Antônio Carlos. Os novos direitos. In ______: WOLKMER, Antônio Carlos; LEITE, José Rubens Morato (Orgs.). Os novos direitos no Brasil: natureza e perspectivas uma visão básica das conflituosidades jurídicas. São Paulo: Saraiva. 2003. p.7. 135 WOLKMER, Antônio Carlos. Os novos direitos. In ______: WOLKMER, Antônio Carlos; LEITE, José Rubens Morato (Orgs.). Os novos direitos no Brasil: natureza e perspectivas uma visão básica das conflituosidades jurídicas. São Paulo: Saraiva. 2003. p. 9.
49
paz, à autodeterminação dos povos, ao desenvolvimento. As mudanças sociais
ocorridas nas últimas décadas também se fazem sentir nesta terceira dimensão,
produzindo uma ampliação dos titulares. Assim, existem os direitos dos idosos, das
mulheres, das crianças, das minorias, dos deficientes, os direitos relacionados à
personalidade: intimidade, honra e imagem136. Também aqui, nesta divisão de
conteúdos e titulares se pode perceber as semelhanças com a fase de especificação
dos direitos humanos. Wolkmer vai mais além e propõe duas divisões a mais. Pérez-
Luño considera estes direitos de 4ª e 5ª dimensão como parte da 3ª dimensão.
Na quarta dimensão Wolkmer trata da bioética e da necessidade de
regulamentação da engenharia genética. Essa dimensão de direitos surge com as
revoluções tecnológicas ocorridas no campo da medicina e biologia. A possibilidade
de se realizar clonagens, abortos, transplantes de órgãos, eutanásia, tem chamado
a atenção de estudiosos de diversas áreas do conhecimento, em especial do
direito137.
Por fim, os direitos de quinta dimensão. Estes direitos estão ligados à
popularização das tecnologias de informação, em especial a internet. É a chamada
era virtual. Wolkmer visualiza a necessidade de regulamentação jurídica sobre o
controle do espaço virtual e as eventuais relações ilícitas que possam ser praticadas
neste ambiente artificial138.
2.6 CORRENTES IDEOLÓGICAS
A formação da cultura jurídica moderna e por conseqüência a formação dos
direitos humanos é influenciada basicamente por três grandes movimentos: o liberal,
o democrático e o socialista139. É importante que se ressalte e estude os traços
136 WOLKMER, Antônio Carlos. Os novos direitos. In ______: WOLKMER, Antônio Carlos; LEITE, José Rubens Morato (Orgs.). Os novos direitos no Brasil: natureza e perspectivas uma visão básica das conflituosidades jurídicas. São Paulo: Saraiva. 2003. p. 11-12. 137 WOLKMER, Antônio Carlos. Os novos direitos. In ______: WOLKMER, Antônio Carlos; LEITE, José Rubens Morato (Orgs.). Os novos direitos no Brasil: natureza e perspectivas uma visão básica das conflituosidades jurídicas. São Paulo: Saraiva. 2003. p. 12-13. 138 WOLKMER, Antônio Carlos. Os novos direitos. In ______: WOLKMER, Antônio Carlos; LEITE, José Rubens Morato (Orgs.). Os novos direitos no Brasil: natureza e perspectivas uma visão básica das conflituosidades jurídicas. São Paulo: Saraiva. 2003. p. 16. 139 PECES-BARBA, Gregório. Curso de Derechos Fundamentales: teoria general. Madrid: Universidad Carlos III. 1995. p. 200.
50
fundamentais de cada um dos três movimentos, pois suas contribuições são
sentidas em cada geração estudada.
O modelo liberal é o pioneiro, embasa-se no jusnaturalismo racionalista que
defende que somente são “[...] direitos aqueles que se podem justificar
racionalmente como pretensões morais iguais para todos os homens e para todos os
tempos, e são prévios ao contrato e ao consenso que o produz”140. Toda essa
objetividade e racionalidade escondiam na verdade, como afirma Peces-Barba,
interesses burgueses que se materializaram na limitação do poder estatal. Seria esta
a prova de que os direitos humanos são realmente direitos históricos, que surgem de
acordo com a necessidade e não através da racionalidade141. Sobre isto adverte
Bobbio:
[...] os direitos constituem uma classe variável, como a história destes últimos séculos demonstra suficientemente. O elenco dos direitos do homem se modificou, e continua a se modificar, com a mudança das condições históricas, ou seja, dos carecimentos e dos interesses, das classes no poder, dos meios disponíveis para a realização dos mesmos, das transformações técnicas, etc142.
Durante algum tempo os direitos foram vistos como definitivos, tendo em
vista a ideologia racionalista que julgava ser o homem imutável, alheio às mudanças
históricas. Isto dificultou demais o alargamento do conceito de direitos fundamentais
no século XIX, visto que a dissociação feita pelos racionalistas afastava os direitos
da história e das mudanças sociais que estavam acontecendo143. A idéia de
liberdade dos liberais era a de não-interferência. Os principais avanços trazidos
pelos liberais em matéria de direitos foram os direitos individuais, liberdade de
consciência, de pensamento, de expressão, as garantias processuais, etc144.
O movimento democrático é posterior ao liberal e contemporâneo ao
socialista. Tinha como finalidade estender o poder aos indivíduos para a formação
140 “[...] derechos aquellos que se pueden justificar racionalmente como pretensiones Morales iguales para todos los hombres y para todos los tiempos, y son previstos al contrato y al consenso que lo produce”. PECES-BARBA, Gregório. Curso de Derechos Fundamentales: teoria general. Madrid: Universidad Carlos III. 1995. p. 200. 141 PECES-BARBA, Gregório. Curso de Derechos Fundamentales: teoria general. Madrid: Universidad Carlos III. 1995. p. 201. 142 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Rio de Janeiro: Campus. 1992. p. 18. 143 PECES-BARBA, Gregório. Curso de Derechos Fundamentales: teoria general. Madrid: Universidad Carlos III. 1995. p. 201. 144 PECES-BARBA, Gregório. Curso de Derechos Fundamentales: teoria general. Madrid: Universidad Carlos III. 1995. p. 201.
51
de sua vontade, através da organização dos membros da sociedade civil em torno
do poder político. Neste processo destaca-se a participação de liberais igualitários e
socialistas liberais. A expressão da contribuição deste movimento ideológico foram
os direitos à associação, ao sufrágio, e à participação política145.
O socialismo, última corrente ideológica contribuiu no sentido de trazer
elementos igualitários à liberdade e tentar desvincular o direito à propriedade das
liberdades individuais por ser impraticável com a igualdade. O socialismo pretende
que todos os indivíduos tenham meios para gozar os direitos de liberdade, neste
sentido buscam a generalização da participação das pessoas no processo dos
direitos humanos. Em meados do século XIX e boa parte do XX, o movimento
socialista estará intimamente ligado à classe trabalhadora buscando estender os
benefícios da revolução liberal também a esta classe146. É inaceitável que passados
sessenta anos desde a promulgação da Declaração Universal de 1948, o mundo
esteja ainda a discutir questões relativas à limitação da universalidade. Nada pode
servir de pretexto para o descumprimento dos direitos humanos. Em que pese
existirem “particularismos culturais” os homens possuem a mesma dignidade e
detém os mesmos direitos fundamentais, independentemente de raça, religião ou
sexo.
145 PECES-BARBA, Gregório. Curso de Derechos Fundamentales: teoria general. Madrid: Universidad Carlos III. 1995. p. 202-203. 146 PECES-BARBA, Gregório. Curso de Derechos Fundamentales: teoria general. Madrid: Universidad Carlos III. 1995. p. 203.
52
3 A UNIVERSALIDADE DOS DIREITOS HUMANOS
Já foi dito que os direitos humanos possuem uma vocação universal. Mas
essa vocação universal seria pautada em que? Obviamente no direito natural
racionalista, sob qual todos os homens são iguais e todas as normas devem se
submeter. O direito natural não é criado por pessoa alguma, é antes um conjunto de
normas que regem a sociedade, baseia-se na racionalidade e na natureza
humana147. Sem falar desta característica dos direitos humanos é impossível o seu
entendimento.
3.1 O CONCEITO DE UNIVERSALIDADE COMO CONDIÇÃO BÁSI CA AOS
DIREITOS HUMANOS
Pérez Luño chega a afirmar que o universalismo é o coração dos direitos
humanos. No primeiro capítulo foi abordado o surgimento dos direitos humanos que
tem como traço fundamental a ligação íntima com a Modernidade Ocidental e ao
Direito Natural Racionalista. Pérez Luño não difere neste sentido, mas vai além,
trata a idéia de universalidade dos direitos como premissa fundamental. Afirma que
os direitos humanos fazem parte de um categoria histórica e que de sua formação
durante a modernidade até o seu apogeu no século XVIII, durante as revoluções
burguesas liberais, terão por base duas correntes ideológicas: o iusnaturalismo
racionalista e o contratualismo.
O iusnaturalismo racionalista mantém-se ligado à idéia de direito natural
inerente a todos os indivíduos. Estes direitos que advém da racionalidade humana
trazem consigo a necessidade de positivação para o seu conseqüente
reconhecimento. Já o contratualismo que tem seu ápice no século XVIII, defende as
normas jurídicas e instituições políticas como resultado do consenso, da vontade
popular, não podendo ser objeto do arbítrio dos governantes148.
147 FERNÁNDEZ-GALIANO, Antonio. El iusnaturalismo. In______. CASTRO CID, Benito de. Lecciones de Teoría del Derecho y Derecho Natural. 3. ed. Madrid: Universitas. 2001. p. 390. 148 PÉREZ LUÑO. Antonio-Enrique. La Universalidad de los Derechos Humanos y el Estad o Constitucional. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. 2002. p. 23.
53
Ambas teorias postulam faculdades jurídicas básicas a todos os indivíduos.
Partindo desta premissa Pérez Luño conclui que o universalismo é inerente aos
direitos humanos. Não é possível falar na existência de direitos humanos numa
sociedade onde continuam existindo distinções sociais, culturais, raciais, religiosas
ou lingüísticas149. Durante o processo de afirmação histórica dos direitos humanos,
delimitado no primeiro capítulo desta monografia, havia pretensões que justificavam
alguns direitos que hoje fazem parte do rol de direitos considerados direitos
humanos, porém contemplavam apenas alguns grupos. Era este o estado das
coisas durante a principal revolução burguesa liberal; a Revolução Francesa de
1789. O que havia naquela sociedade era a proliferação de toda a sorte de
privilégios para apenas dois estamentos muito limitados da sociedade: nobres e
clero. Com isto, mesmo que os direitos que conhecemos como direitos humanos
fizessem parte do arcabouço jurídico deste modelo de sociedade, não caberia a
afirmação de que havia direitos humanos, visto que os direitos humanos são direitos
históricos e somente podem ser considerados se rompidos alguns empecilhos à sua
efetivação. A separação entre Estado e religião e o fim dos privilégios entre os
homens são elementos básicos para esta realização. A esse respeito assinala Pérez
Luño:
A grande invenção jurídico política da modernidade reside, precisamente, nesta haver ampliado a titularidade das posições jurídicas ativas, ou seja, dos direitos a todos os homens, e em conseqüência, haver formulado o conceito dos direitos humanos150.
De fato, aparecerá o universalismo positivado somente no século XVIII, em
três declarações: a Declaração de direitos do bom povo da Virgínia, a Declaração de
independência dos Estados Unidos, ambas de 1776, e por fim a Declaração dos
Direitos do Homem e do Cidadão, promulgada pelos franceses em 1789151. Esta
última é a mais importante, pois serviu de modelo às constituições de vários países
e os direitos ali contidos resumem séculos de delineamento teórico sobre os direitos
149 PÉREZ LUÑO. Antonio-Enrique. La Universalidad de los Derechos Humanos y el Estad o Constitucional. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. 2002. p. 24. 150 “El gran invento jurídico-político de la modernidad reside, precisamente, en haber ampliado la titularidad de las posiciones jurídicas activas, o sea, de los derechos a todos los hombres, y en consecuencia, haber formulado el concepto de los derechos humanos”. PÉREZ LUÑO. Antonio-Enrique. La Universalidad de los Derechos Humanos y el Estad o Constitucional. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. 2002. p. 24-25. (tradução livre do autor). 151 PÉREZ LUÑO. Antonio-Enrique. La Universalidad de los Derechos Humanos y el Estad o Constitucional. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. 2002. p. 25.
54
humanos. Dentre alguns direitos, podemos citar a liberdade, a igualdade, direitos
invioláveis e imprescritíveis e sem dúvida alguma universais. O artigo 1° da
Declaração francesa assim dispunha: “Os homens nascem e são livres e iguais em
direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum”152. Já
o artigo 10° assim prescrevia: “Ninguém pode ser mo lestado por suas opiniões,
incluindo opiniões religiosas, desde que sua manifestação não perturbe a ordem
pública estabelecida pela lei”153. No artigo 17°, último artigo da Declaração, havia
disposição expressa sobre o direito à propriedade: “Como a propriedade é um direito
inviolável e sagrado, ninguém dela pode ser privado, a não ser quando a
necessidade pública legalmente comprovada o exigir e sob condição de justa e
prévia indenização”154. Nestes três artigos se observa a tradução de séculos de lutas
por direitos. Encontramos num mesmo artigo a liberdade e a igualdade, noutro a tão
buscada liberdade religiosa e, por fim, o direito à propriedade, marca indissociável
da sociedade burguesa que alimentou a revolução.
A Declaração francesa de 1789 constitui o primeiro marco da luta pela
universalização dos direitos humanos. Entretanto, o documento mais significativo do
século XX, a Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, foi de fato o
divisor de águas, contribuindo decisivamente para o reconhecimento universal. A
respeito da importância da Declaração de 1948, Bobbio assevera:
Com essa declaração, um sistema de valores é – pela primeira vez na história – universal, não em princípio, mas de fato, na medida em que o consenso sobre a sua validade e sua capacidade para reger os destinos da comunidade futura de todos os homens foi explicitamente declarado155.
Críticas foram feitas quanto à Declaração Universal dos Direitos do Homem
de 1948. Dizia-se que muitos signatários da Declaração não puderam optar e se
viram obrigados a concordar, com as disposições elaboradas pelos vencedores do
conflito, as potências aliadas, pois estavam ocupados por tropas vencedoras da
Segunda Guerra Mundial, outros eram verdadeiros protetorados. Desta forma, não
152 COMPARATO, Fábio Konder. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. 5ª ed. São Paulo: Saraiva. 2007. p. 158. 153 COMPARATO, Fábio Konder. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. 5ª ed. São Paulo: Saraiva. 2007. p. 159. 154 COMPARATO, Fábio Konder. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. 5ª ed. São Paulo: Saraiva. 2007. p. 159-160. 155 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Rio de Janeiro: Campus. 1992. p. 26.
55
seria legítima tal Declaração156. Os direitos humanos neste sentido não passariam de
um imperialismo cultural das potências ocidentais, que tentariam incutir seus valores,
uma verdadeira ideologia política do Ocidente157.
Embora houvesse estas críticas, não se pode olvidar que a Declaração
Universal de 1948 serviu de base para a elaboração de diversas Constituições em
todo o mundo. Portanto, os críticos não constituíam uma maioria, nem mesmo entre
os países “marginalizados”. Tais críticas, contudo, foram sepultadas em 1993,
quando houve o reconhecimento pela comunidade internacional em relação ao
caráter universal dos direitos humanos, na Conferência de Viena158. Os pontos
principais debatidos e reconhecidos pela Conferência de Viena foram: o
reconhecimento da universalidade dos direitos humanos, a legitimidade da
comunidade internacional para fiscalizar a observância dos direitos humanos e a
necessidade de compatibilidade entre a universalização dos direitos humanos e a
pluralidade cultural.
A reafirmação dos valores contidos na Declaração de 1948, feita em Viena,
teve a participação de representantes oficiais de toda a comunidade internacional,
portanto, a comunidade internacional superou qualquer questão sobre a legitimidade
da Declaração de 1948159. José Augusto Lindgren Alves afirma:
O universalismo dos direitos humanos pode e deve ser concretizado. Tais direitos, de primeira, segunda e terceira geração, há muito deixaram se der eurocêntricos. E até mesmo a propósito dos primeiros, civis e políticos, é bom lembrar, por exemplo, que não foram os países ocidentais os líderes da longa luta, bem-sucedida, por seu estabelecimento na África do Sul160.
Peces-Barba busca entender quais são as críticas internas que afetam a
universalidade, isto é, as críticas feitas pelos defensores do universalismo. Ele
chama estas críticas de correccíones, no sentido de que contribuem para corrigir
certos excessos advindos do racionalismo abstrato. Apenas para situar o leitor, cabe
156 SAMPAIO, José Adércio Leite. Direitos Fundamentais: retórica e historicidade. Belo Horizonte: Del Rey. 2004. p. 54. 157 SAMPAIO, José Adércio Leite. Direitos Fundamentais. retórica e historicidade. Belo Horizonte: Del Rey. 2004. p. 55. 158 ALVES, J. A. Lindgren. Os Direitos Humanos como Tema Global. São Paulo: Perspectiva. 1994. p. 139. 159 ALVES, J. A. Lindgren. Os Direitos Humanos como Tema Global. São Paulo: Perspectiva. 1994. p. 146. 160 ALVES, J. A. Lindgren. Os Direitos Humanos como Tema Global. São Paulo: Perspectiva. 1994. p. 147.
56
discorrer um pouco sobre o racionalismo abstrato que encontra guarida no
pensamento de Francisco Laporta. Ele é um universalista, afirma que a
universalidade dos direitos humanos está inteiramente relacionada ao iusnaturalismo
racionalista e que através dos pensadores humanistas e iluministas será possível
pensar em direitos humanos universais para todos, pelo simples fato de serem seres
humanos.
Neste sentido não demonstra nada que o diferencie dos demais. O problema
de Laporta é a sua defesa a um universalismo racional abstrato, muito parecido com
o formulado pelos primeiros iusnaturalistas modernos. Laporta entende que os
direitos devem se manter como direitos morais, sendo impraticável a sua
positivação, vez que é destrutivo o relacionamento entre direitos universais e
sistema jurídico local. As pretensões morais positivadas internamente são
contaminadas pelos interesses internos. Os direitos humanos deveriam sempre
permanecer no campo ético geral.
Também defende a descontextualização dos direitos, pois se os direitos
estiverem ligados à história de um determinado local estes direitos irão obrigar ao
cumprimento apenas os integrantes deste contexto. Desta forma, se forem
descontextualizados os direitos podem ser cumpridos em qualquer local161.
Isto posto, cabe o retorno às três principais vertentes críticas expostas por
Peces-Barba: a positivista, a histórica e a realista. Elas criticam respectivamente os
três âmbitos da universalidade, quais sejam, o racional, o temporal e o espacial162.
Os positivistas buscavam que as pretensões morais tivessem mais eficácia,
assim seria necessário positivar os direitos humanos. Assim as pretensões morais
que eram os direitos humanos não seriam plenos até que se incorporassem ao
ordenamento jurídico.
A crítica histórica, por sua vez, ataca o caráter intertemporal e abstrato dos
direitos humanos. O historicismo propõe o fator histórico como um fator decisivo. É
este inclusive o ponto de vista do próprio Peces-Barba. A sua teoria do transito à
modernidade, nada mais é do que a explicação do surgimento dos direitos humanos
na Europa Ocidental.
161 LAPORTA, Francisco. El Concepto de Derechos Humanos. DOXA: Cuadernos de Filosofía del Derecho, Alicante, n.4, p. 33-35, 1987. ISSN 0214-8676. 162 PECES-BARBA, Gregório. La Universalidad de los Derechos Humanos. DOXA: Cuadernos de Filosofía del Derecho, Alicante, n.14-15, p. 621, 1999. ISSN 0214-8676.
57
Por fim, a crítica realista contesta a efetividade dos direitos e a
impossibilidade de um normativismo que não esteja atento a fatores culturais,
sociais, econômicos. “A universalidade espacial se verá condicionada pelo
analfabetismo, a escassez, a pobreza, a fome e pela inexistência real de sistemas
políticos democráticos únicos que assumam e impulsionem a cultura dos direitos
fundamentais”163.
Deve-se tomar cuidado com as críticas para que não se perca a essência, a
identidade dos direitos humanos e o seu traço racionalista. Porém as críticas se
apresentam bem fundamentadas, obrigando os universalistas a reverem o conceito
de universalismo.
É o que faz Peces-Barba. Afirma que não se pode seguir pelo modelo
abstrato de Laporta, contudo confiar cegamente no positivismo pode descaracterizar
a moralidade dos direitos humanos. O meio termo é o bom caminho. A
universalidade tem que se dar através da moralidade, das pretensões morais
justificadas que se convertem em direitos quando são positivadas164.
Da mesma forma a descontextualização dos direitos humanos não pode
prosperar. É evidente que os direitos humanos possuem características históricas.
Eles surgem quando podem surgir, não surgem de uma vez por todas165. Quanto a
isso Peces-Barba sinaliza que “não há pretensão moral que conduza à liberdade de
imprensa até que esta se consolide na Europa dos séculos XVIII e XIX[...]”166. Estes
direitos seriam formas visíveis de contestação da idéia de universalidade abstrata,
que procura a descontextualização.
A universalização é impulsionada pela moralidade dos direitos baseados na
dignidade humana e nos ideais de liberdade, igualdade, e solidariedade que
estiveram sempre presentes na história da cultura e que encontraram na Europa a
sua maior e melhor fundamentação, embora isso não seja algo restrito
exclusivamente a Europa.
163 “La universalidad espacial se verá condicionada por el analfabetismo, la escasez, la pobreza, el hambre y desde luego por la inexistencia real de sistemas políticos democráticos únicos que asumen e impulsan la cultura de los derechos fundamentales”. PECES-BARBA, Gregório. La Universalidad de los Derechos Humanos . DOXA: Cuadernos de Filosofía del Derecho, Alicante, n. 14-15, p. 622, 1999. SIN 0214-8676. (tradução livre do autor). 164 PECES-BARBA, Gregório. La Universalidad de los Derechos Humanos. DOXA: Cuadernos de Filosofía del Derecho, Alicante, n. 14-15, p. 623, 1999. SIN 0214-8676. 165 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Rio de janeiro: Campus. 1992. p. 32. 166 PECES-BARBA, Gregório. La Universalidad de los Derechos Humanos . DOXA: Cuadernos de Filosofía del Derecho, Alicante, n. 14-15, p. 624, 1999. SIN 0214-8676.
58
A universalidade espacial é uma meta a alcançar, uma luta contra os
nacionalismos e particularismos. Peces-Barba diz que ela deve ser um ponto de
chegada e não um ponto de partida, no sentido de que na universalidade dos
direitos humanos os direitos vão aparecendo em momentos históricos distintos.
Assim, atualmente muitos Estados encontram-se em situações que impedem essa
universalização efetiva por razões econômicas, pela desigualdade e em grande
medida pela ausência de um poder político supranacional que efetive estes
direitos167.
3.2 OS INIMIGOS DO UNIVERSALISMO
Embora se tenha constatado que não há como se falar em direitos humanos
sem a necessária universalização, tem-se acompanhado o crescimento mundial dos
ataques à teoria universalista por teses, doutrina, e movimentos políticos. Entretanto,
é no mundo de hoje, mais do que nunca que estes direitos precisam ser
universalizados, haja vista que a globalização alcançou seu apogeu. Hoje há a
internet, nunca os continentes e indivíduos estiveram tão interligados. As relações
econômicas tornam os Estados interdependentes, de modo que é indispensável a
universalização dos direitos humanos, independentemente de raça, língua, sexo ou
religião168.
Não faz sentido perpetuarem-se as diferenças. Apesar disso, os ataques ao
universalismo se proliferam. Recentemente, no Congresso de Viena (1993),
membros da Organização da Conferencia Islâmica e alguns países criticaram os
direitos humanos universais, taxando-os de produto do pensamento ocidental e
declararam serem impraticáveis ante as particularidades regionais. Essas críticas se
remetem a questões já pacificadas.
A universalidade dos direitos humanos é uma realidade e em diversos
documentos já foi reconhecida pela comunidade internacional. Em três convenções
regionais: a européia, a americana e a africana reconheceu-se a universalidade, e
167 PECES-BARBA, Gregório. La Universalidad de los Derechos Humanos. DOXA: Cuadernos de Filosofía del Derecho, Alicante, n. 14-15, p. 625-626, 1999. SIN 0214-8676. 168 PÉREZ LUÑO. Antonio-Enrique. La Universalidad de los Derechos Humanos y el Estad o Constitucional. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. 2002. p. 27.
59
proclamou-se os direitos humanos, não foram proclamados direitos de europeus,
direito de americanos e assim por diante169. O Universalismo sobrevive aos
particularismos culturais. Essas discussões são um retrocesso, porém é possível
verificar a total falta de legitimidade desta argumentação por um fato muito simples,
não se trata de uma questão cultural entre ocidente e oriente, o que está em jogo
nestas críticas é a perpetuação de governos autoritários e arbitrários que para o
descumprimento dos direitos humanos alegam particularidades culturais descabidas.
Trata-se de um problema entre governantes e governados170.
Ademais, É inaceitável que decorridos sessenta anos desde a proclamação
da Declaração Universal da ONU questões relativas à limitação da universalidade
sejam levantadas. Nada Pode servir de pretexto para o descumprimento dos direitos
humanos. Em que pese o fato de haverem distintas culturas os homens possuem a
mesma dignidade, sendo impraticável qualquer discriminação por razões religiosas,
sexuais ou raciais.
3.2.1 Os inimigos segundo a teoria de Perez-Luño
Peréz Luño analisa os principais inimigos do universalismo, a partir de três
frentes: filosófica, política e jurídica. No plano filosófico a idéia universalista vem
sendo atacada por filósofos chamados de pós-modernistas, que tendem a inverter a
ordem das coisas. Contrariamente à modernidade que prega a racionalidade, a
universalidade e a igualdade, os pós-modernistas acreditam em valores como o
particularismo e a diferença. O pós-modernismo nada mais é do que a tendência
mundial atual de inversão de valores171. Um dos grandes expoentes da doutrina pós-
moderna, Bernard Henri Lévy assinala que:“Conformar-se em ser como os outros,
implica renunciar à própria identidade genuína e intransferível”172. O pós-
169 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Tratado Internacional dos Direitos Humanos. Volume III. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor. 2003. p. 340. 170 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Tratado Internacional dos Direitos Humanos. Volume III. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor. 2003. p. 339. 171 PÉREZ LUÑO. Antonio-Enrique. La Universalidad de los Derechos Humanos y el Estad o Constitucional . Bogotá: Universidad Externado de Colombia. 2002. p. 28. 172 “Conformarse en ser como los otros, o en ser tratado como los otros, implica renunciar a la propia identidad genuina e intransferible”. LÉVY, Bernard-Henri. La barbárie com rostro humano. PÉREZ
60
modernismo basicamente verá na universalidade dos direitos humanos uma
tentativa de arrebanhamento dos homens, por isso ser diferente é a regra, esforçar-
se para não ser como os demais constitui uma das premissas173.
Outro movimento que apresenta forte oposição ao universalismo é o
comunitarismo, que prega a contextualização dos direitos humanos, por razões
históricas e culturais. Cada sociedade buscará os seus direitos com base em suas
experiências históricas. Assim, serão definidos os direitos de cada indivíduo174. Este
tipo de crítica e oposição aos direitos humanos não é nova, encontra seus
antecedentes também na Escola Histórica, que se desenvolveu nos séculos XVIII e
XIX na Alemanha e teve como expoente máximo Carlos Frederico Von Savigny. Os
historicistas criam firmemente na individualidade e variedade humana, um
pessimismo antropológico, ligado à idéia de que o homem é incapaz de tornar-se
melhor, razão pela qual deveria haver desconfiança em relação à mudanças no
ordenamento jurídico. O traço mais característico deste movimento era sem dúvida o
amor pela tradição175. De Maistre considerado um predecessor do historicismo
chegou a afirmar:
A Constituição de 1795 é feita pelo homem. Ora, não existem homens no mundo. Tenho visto, na minha vida, franceses, italianos, russos etc.; e sei também, graças a Montesquieu, que podem existir persas; mas, quanto ao homem, declaro jamais tê-lo encontrado na minha vida; e se existe, por certo é com meu desconhecimento176.
No campo político a universalidade também é combatida pelo relativismo
cultural. O relativismo como o próprio nome explicita é a teoria que dá nova vida aos
valores, de modo que, torna impossíveis juízos de valor. Cada cultura é detentora de
legitimidade para formular as suas normas e, ninguém pode julgá-la por isso. Isto,
porque, não havendo nenhum modelo político-social ideal, ninguém está em
LUÑO. Antonio-Enrique. La Universalidad de los Derechos Humanos y el Estad o Constitucional. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. 2002. p. 29. (tradução livre do autor). 173 PÉREZ LUÑO. Antonio-Enrique. La Universalidad de los Derechos Humanos y el Estad o Constitucional . Bogotá: Universidad Externado de Colombia. 2002. p. 29. 174 PÉREZ LUÑO. Antonio-Enrique. La Universalidad de los Derechos Humanos y el Estad o Constitucional . Bogotá: Universidad Externado de Colombia. 2002. p. 30. 175 BOBBIO, Norberto. O Positivismo Jurídico: Lições de filosofia do direito. São Paulo: Ícone. 1999. p.45-52. 176 BOBBIO, Norberto. O Positivismo Jurídico: Lições de filosofia do direito. São Paulo: Ícone. 1999. p.48.
61
condições de julgar177. Para estes críticos os direitos humanos seriam direitos
artificiais, visto que não há direito fruto da racionalidade ou natureza humana; os
direitos são decorrentes das experiências, tradições e espírito de cada povo, o
volksgeist178.
Os relativistas farão toda a sorte de ataques ao universalismo, chamando-o
de neo-imperialismo, eurocentrismo, neo-colonialismo. Estes argumentos serão
muito utilizados por líderes principalmente de nações do terceiro mundo para a
manutenção de seus governos que desrespeitam a dignidade humana e toda a
gama de direitos que compõe o rol dos direitos humanos.
A crítica feita por Federico Arcos Ramírez é inevitável, o relativismo peca ao
conferir validade moral a toda e qualquer cultura ou costume pelo mero fato de ser
aprovada internamente, ou seja, no âmbito dos Estados Nacionais. Outro equívoco
levantado por Arcos Ramírez é a tendência à homogeneização que decorre do
relativismo. Apesar de pregar a diferença, esta diferença é muito mais falada em
relação aos extracomunitários porque em matéria interna os relativistas
homogeneízam as idéias como se todos os cidadãos de um determinado local
pensassem da mesma forma179. A título de exemplo, é como afirmar que todos os
habitantes de um determinado local concordam com práticas que desrespeitam os
direitos humanos, e que por esta unanimidade ninguém está em condição de julga-
los. Ora, não há unanimidade em lugar algum.
O relativismo alimenta grupos nacionalistas radicais contrários aos direitos
humanos que encontram nesta teoria uma possibilidade para o fechamento cultural,
uma barreira ao diálogo internacional e a perpetuação das barbaridades cometidas,
levando populações interiras à miséria, à fome e à guerra180.
O relativismo é uma falácia perigosa, não é capaz de prever um mínimo
moral aceito a todas as sociedades. Não importa a cultura, a história, as tradições de
um povo, existem condutas que são abomináveis a toda a humanidade; e a
escravidão é uma delas. Entretanto, o relativismo mantém a sua dialética de
distorção da realidade com base em pontos de vista e valores mil. É curioso que 177 PÉREZ LUÑO. Antonio-Enrique. La Universalidad de los Derechos Humanos y el Estad o Constitucional. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. 2002. p. 31. 178 SAMPAIO, José Adércio Leite. Direitos Fundamentais: retórica e historicidade. Belo Horizonte: Del Rey. 2004. p. 40. 179 ARCOS RAMÍREZ, Federico. Guerra en Defesa de los Derechos Humanos? Problemas de legitimidad en las intervenciones humanitarias. Madrid: Dykinson. 2002. p. 53-54. 180 PÉREZ LUÑO. Antonio-Enrique. La Universalidad de los Derechos Humanos y el Estad o Constitucional. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. 2002. p. 27.
62
toda esta busca pelas diferenças, esta valorização cultural extremada foi justamente
o mote da catástrofe que foi o nazismo. Não se pode esquecer que antes do
nazismo havia o pan-germanismo, que foi influenciado por toda esta doutrina
histórica181.
Por fim, Pérez Luño analisa as críticas em matéria jurídica. Distingue
basicamente dois grupos que são dissonantes; os Estados de cunho liberal,
baseados no reconhecimento dos direitos pessoais, civis e políticos, portanto,
ligados às liberdades individuais e os Estados com doutrina constitucionalista, onde
são observados em maior número os direitos sociais. De certa forma, nos Estados
de orientação liberal os direitos sociais deixam a desejar e vice-versa. A distinção
entre ambas é vista na forma de aplicação dos ideais escolhidos pelo Estado. Na
tendência liberal o Estado deve assumir uma condição passiva. A posição passiva é
reforçada pela necessidade de apenas haver vigilância por parte da polícia
administrativa em relação a estes direitos. O Estado só fiscaliza o estabelecimento
das liberdades, nada mais. Quanto aos direitos sociais os Estados assumem uma
posição ativa, para garantir a prestação de serviços públicos. Atualmente a segunda
forma de atuação estatal está comprometida, haja vista ser impossível garantir todas
as demandas sociais como o pleno emprego, ou a vida digna, tanto mais se agrava
a situação nos países do terceiro mundo182. A crítica jurídica será esta, de que não
há como se efetivar os direitos humanos para todos.
3.2.2 Os inimigos segundo Amartya Sen
O indiano Amartya Sen, ganhador de um prêmio Nobel, expõe no livro
“Desenvolvimento como Liberdade” as críticas aos direitos humanos e à
universalidade. Ele divide os movimentos em basicamente três correntes. A primeira,
chamada pelo autor de crítica à legitimidade ataca o caráter abstrato dos direitos
humanos. Nessa concepção os direitos somente são adquiridos através de um
processo histórico, não podem ser confundidos com o efeito pré-legal gerado pelo
181 SAMPAIO, José Adércio Leite. Direitos Fundamentais: retórica e historicidade. Belo Horizonte: Del Rey. 2004. p. 40. 182 PÉREZ LUÑO. Antonio-Enrique. La Universalidad de los Derechos Humanos y el Estad o Constitucional. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. 2002. p. 35.
63
direito natural. Os seres humanos, portanto nasceriam sem direitos, “tanto quanto
nascem sem roupa; os direitos teriam que ser adquiridos por meio da legislação,
como as roupas são adquiridas de quem as faz”183. Essa crítica à legitimidade dos
direitos humanos não é nova, tanto Karl Marx quanto Benjamim Bentham afirmavam
que os direitos devem ser pós-institucionais, nunca como uma ética prévia, ou um
direito natural ao homem184. Amartya Sen refuta a crítica afirmando que mesmo que
pretensões éticas não possam ser reivindicadas em tribunais, onde há imposição da
lei, por exemplo, estas pretensões possuem grande relevância, pois podem até se
sobrepor em relação aos direitos legalizados em algumas ocasiões. Ele cita como
exemplo disto
[..] o direito moral de uma esposa participar plenamente, como igual, das decisões familiares importantes – independentemente do quanto seu marido seja machista – pode ser reconhecido por muitos que, não obstante, não desejam que essa exigência seja legalizada e imposta pela polícia185.
Amartya pensa que esta é apenas uma reivindicação de legalidade e por
isso mesmo não merece prosperar, visto que não é necessária a legalidade para
que estes princípios éticos venham a ser aplicados186.
A segunda crítica aos direitos humanos é chamada de crítica da coerência.
Essa linha se relaciona com a forma, ataca a incoerência do processo de aplicação
dos direitos humanos. Formalmente nas constituições, declarações e convenções os
direitos são sedutores e belos, entretanto, no campo prático não tem servido para o
bem estar da população a que se propõe, haja vista que não possuem um agente
fornecedor, ou melhor, efetivador destas garantias187. Amartya fala que os críticos da
coerência pressupõem a necessidade de contraprestação para a fruição dos direitos.
Se alguém recebe direitos, pergunta-se, de quem é o dever de garantir a fruição?
Os que insistem nesse encadeamento binário tendem a criticar
183 SEN, Amartya. Desenvolvimento como Liberdade. São Paulo: Companhia das Letras. 2000. p. 261. 184 SEN, Amartya. Desenvolvimento como Liberdade. São Paulo: Companhia das Letras. 2000. p. 263. 185 SEN, Amartya. Desenvolvimento como Liberdade. São Paulo: Companhia das Letras. 2000,p. 264. 186 SEN, Amartya. Desenvolvimento como Liberdade. São Paulo: Companhia das Letras. 2000. p. 263. 187 SEN, Amartya. Desenvolvimento como Liberdade. São Paulo: Companhia das Letras. 2000. p. 262.
64
severamente, em geral, a invocação dos “direitos” retóricos nos “direitos humanos” sem uma especificação exata dos agentes responsáveis e de seus deveres de levar a efeito a fruição desses direitos188.
Em defesa aos direitos humanos Amartya expõe com simplicidade a
universalidade dos direitos humanos e a sua capacidade de fazer com que cada um
que estiver em condições de ajudar o faça. Assim, em matéria de direitos humanos,
não se pode falar em obrigação de indivíduos específicos, mas sim na liberdade,
pois cada um sabe os direitos que cada um tem e qualquer um pode ajudar189.
Por fim, o autor indiano fala da crítica cultural, que talvez seja a corrente
teórica que mais ataques realize contra os direitos humanos universais. Amartya
confirma que a tese é sedutora e que atualmente tem recebido muita atenção190. O
problema neste caso está no fato de os direitos humanos se assumirem como uma
ética social universal. As críticas mais freqüentes segundo o autor são as críticas
provenientes das culturas asiáticas. As perguntas freqüentes são se a ética pode
realmente ser universal, se existem valores universais191.
O autor critica os céticos asiáticos que segundo ele afirmam um discurso de
negação aos direitos humanos embasado na idéia de que a cultura asiática é
confuciana, baseada na “disciplina em vez dos direitos, a lealdade em vez das
pretensões”. Contudo, estas afirmações são levianas, pois tendem a generalizar a
Ásia, vasto continente composto por diversas culturas heterogêneas. Estas
concepções para o autor são vinculadas por autoridades destes Estados e não por
historiadores ou especialistas no assunto e pretendem afirmar o autoritarismo
governamental. Não se sustentariam porque há exemplos de países como
Cingapura no qual há uma harmonia e coexistência amistosa entre comunidades192.
Amartya comprova ainda haver um grave desvirtuamento no confucionismo; a
lealdade sega ao Estado não está presente na obra do mestre chinês. A lealdade à
188 SEN, Amartya. Desenvolvimento como Liberdade. São Paulo: Companhia das Letras. 2000. p. 264. 189 SEN, Amartya. Desenvolvimento como Liberdade. São Paulo: Companhia das Letras. 2000. p. 265. 190 SEN, Amartya. Desenvolvimento como Liberdade. São Paulo: Companhia das Letras. 2000. p. 265. 191 SEN, Amartya. Desenvolvimento como Liberdade. São Paulo: Companhia das Letras. 2000. p. 263. 192 SEN, Amartya. Desenvolvimento como Liberdade. São Paulo: Companhia das Letras. 2000. p. 267.
65
família prevalece quando oposta à obediência ao Estado193.
Amartya defende que não foi apenas no Ocidente que se desenvoveu a
tolerância à diversidade ou o direito à liberdade. Para tanto, ele cita Ashoka, um
imperador que viveu no século III a.C. e governou o maior império indiano de que se
tem notícia, difundindo a tolerância religiosa universal após se converter ao budismo.
Cita ainda Kautyla, muito valorizado na tradição clássica indiana, viveu no século IV
a.C. e defendia a liberdade, para as classes superiores. Embora não tenha a
abrangência do universalismo é possível louvar essa valorização à liberdade e
compara-lo a Aristóteles que defendia a liberdade para os gregos livres e excluía
mulheres e escravos194.
Amartya cita ainda outros exemplos de grandes nomes asiáticos que
exerceram a tolerância e o respeito a direitos que hoje compõe o rol dos direitos
humanos, entre eles o imperador mongol Akbar, que trouxe avanços consideráveis
para a tolerância religiosa, e o iraniano Alberouni, que escreveu durante o século XI,
e é considerado um dos primeiros antropólogos teóricos do mundo. Amartya cita
estes exemplos para comprovar a improcedência da crítica aos direitos humanos
feita pelos defensores dos “valores asiáticos” que segundo ele são genéricos demais
e fazem interpretações arbitrárias e restritas de autores e culturas195.
193 SEN, Amartya. Desenvolvimento como Liberdade. São Paulo: Companhia das Letras. 2000. p. 269-270. 194 SEN, Amartya. Desenvolvimento como Liberdade. São Paulo: Companhia das Letras. 2000. p. 272-273. 195 SEN, Amartya. Desenvolvimento como Liberdade. São Paulo: Companhia das Letras. 2000, p. 275.
66
CONCLUSÃO
No primeiro e segundo capítulos deste trabalho, tentou-se demonstrar o longo
caminho e os aspectos históricos da formulação e do desenvolvimento dos direitos
humanos. A modificações sociais que abriram espaço ao surgimento dos direitos
humanos na sociedade ocidental foram narradas. No terceiro capítulo discutiu-se a
universalidade e as críticas feitas a ela.
A grande importância de se recorrer à história é a possibilidade de se chegar
à verdade e romper com os mitos. O mito não se sustenta de forma alguma com o
levantamento histórico, ele prova que os direitos humanos ao contrário do que se
tem afirmado por relativistas não é de maneira nenhuma um conceito que serve à
dominação do ocidente em relação ao oriente, pois os direitos humanos nascem e
se apóiam justamente contra as mais variadas formas de opressão. A Religião, a
economia, o Estado, os opressores foram diversos e acabaram cedendo, para dar
lugar ao respeito à dignidade humana.
Se forem os europeus os seus mentores, pouco importa o que interessa é
ressaltar o valor universal dos direitos e relembrar que existem razões que explicam
o surgimento dos direitos humanos na Europa Ocidental, muitos perderam suas
vidas para que a opressão desse lugar ao respeito à vida humana. Por isso é muito
leviano afirmar que os direitos humanos servem à dominação e à conquista dos
povos. São mais, visam a pacificação social, a possibilidade de regalar a todos com
os meios capazes para a fruição de uma vida digna.
Verificou-se que a universalidade é um projeto da modernidade e este projeto
não teve fim, ele continua. Trazer mais dignidade ao mundo é a finalidade. Os
caminhos à universalização são espinhosos, há muitas diferenças no mundo. Há
que se concordar com alguns teóricos e afirmar que o sonho de ver o mundo sob
uma ética única encontra-se ainda muito distante, mas não é impossível. Trata-se de
uma questão de eficácia. Por razões que cabem ao direito internacional discutir, a
comunidade internacional ainda não possui meios para que estes direitos sejam
eficazes a todos. O que não pode ser colocado em questão jamais é moralidade dos
direitos humanos. Também parecia distante o sonho dos direitos para os burgueses
no século XVIII, ou para os trabalhadores no século XIX. Não se deve perder o foco.
67
Conclui-se que universalidade e direitos humanos são dois conceitos
indissociáveis. As críticas que são feitas aos direitos humanos contribuem para a
sua reafirmação. Embora busquem o fim da universalização e conseqüentemente o
fim destes direitos, fazem com que cada vez mais se desperte a consciência para a
sua necessidade. O mundo de hoje interligado pela globalização necessita de uma
ética única, de uma ética que funcione em benefício de todos. Visualizar um mundo
cheio de particularismos, nacionalismos e relativismos é retroceder e caminhar rumo
à barbárie. De certa forma, todos estes conceitos irracionais da pós-modernidade
caminham para um mundo repleto de discriminação e violações à dignidade
humana. O nacionalismo tende a estabelecer a discriminação em favor de quem o
postula, assim como o relativismo cultural tende a legitimar violações humanitárias
denominando-as manifestações culturais.
Portanto, mais do que nunca temos boas razões para insistir no universalismo
dos direitos humanos, na certeza de que não há proposta melhor que os substitua.
68
REFERÊNCIAS
ALVES, J. A. Lindgren. Os Direitos Humanos como Tema Global. São Paulo:
Perspectiva. 1994.
ANDERSON, Perry. Linhagens do Estado Absolutista. São Paulo: Brasiliense.
1985.
ARCOS RAMÍREZ, Federico. Guerra en Defesa de los Derechos Humanos?
Problemas de legitimidad en las intervenciones humanitarias. Madrid: Dykinson.
2002.
ARRUDA, José Jobson de Andrade. A Grande Revolução Inglesa 1640-1780 :
revolução inglesa e revolução industrial na construção da sociedade moderna. São
Paulo: Hucitel. 1996.
BERUTTI, F. C. ; MARQUES, A. M. ; FARIA, R. M. . História Moderna Através de
Textos. São Paulo: Contexto. 1999.
BITTAR, Eduardo; DE ALMEIDA, Guilherme Assis. Mini-Código de Direitos
Humanos. São Paulo: Juarez de Oliveira. 2008.
BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Rio de Janeiro: Campus. 1992.
69
BOBBIO, Norberto. Estado, Governo, Sociedade: para uma teoria geral da política.
8ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra. 2000.
BOBBIO, Norberto. O Positivismo Jurídico: Lições de filosofia do direito. São
Paulo: Ícone. 1999.
CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Tratado Internacional dos Direitos
Humanos. Volume III. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor. 2003.
CARVALHO, Júlio Marino de. Os Direitos Humanos no Tempo e no Espaço:
visualizados através do direito internacional, direito constitucional, direito penal e da
história. Brasília: Brasília Jurídica. 1998.
COMPARATO, Fábio Konder. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. 5ª
ed. São Paulo: Saraiva. 2007.
FERNÁNDEZ-GALIANO, Antonio. El iusnaturalismo. In______. CASTRO CID,
Benito de. Lecciones de Teoría del Derecho y Derecho Natural. 3. ed. Madrid:
Universitas. 2001.
GARCIA,Marcos Leite. A contribuição de Christian Thomasius ao Processo d e
Formação do Ideal dos Direitos Fundamentais. Itajaí: Novos Estudos Jurídicos, v.
10, n. 2, p. 422, jul/dez. 2005.
GOYARD-FABRE, Simone. Os Fundamentos da Ordem Jurídica. São Paulo:
Martins Fontes. 2002.
70
HOBBES, Thomas. Leviatã. São Paulo: Martins Fontes. 2003.
HOBSBAWM. Eric J.. A Era das Revoluções. São Paulo: Paz e Terra. 2004.
LAPORTA, Francisco. El Concepto de Derechos Humanos. DOXA: Cuadernos de
Filosofía del Derecho, Alicante, n.4, p. 33-35, 1987. ISSN 0214-8676.
LASKI, Harold J.. O Liberalismo Europeu . São Paulo: Editora Mestre Jou. 1973
LE GOFF, Jacques. A Bolsa e a Vida: economia e religião na idade média. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira. 2007.
LOPES, Marcos Antonio. A Política dos Modernos. Cascavel: Edunioeste. 1997.
PECES-BARBA, Gregório. Curso de Derechos Fundamentales : teoria general.
Madrid: Universidad Carlos III. 1995.
PECES-BARBA,Gregório. Transito a la modernidad siglos XVI y XVII. In ______.
FERNÁNDEZ GARCÍA, E.; PECES-BARBA,G. (org.). Historia de los Derechos
Fundamentales . Tomo I. Madrid: Dykinson/Universidad Carlos III. 1998.
PÉREZ LUÑO. Antonio-Enrique. La Universalidad de los Derechos Humanos y el
Estado Constitucional. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. 2002.
71
RAMOS, André de Carvalho. Teoria Geral dos Direitos Humanos na Ordem
Internacional. Rio de Janeiro: Renovar. 2005.
SEVCENKO, Nicolau. O Renascimento. 7ª ed. Campinas: Unicamp. 1988,
RIBEIRO, Renato Janine. Hobbes: o medo e a esperança. In ______. WEFFORT,
Francisco C.(org). Os Clássicos da Política: Maquiaveal, Hobbes, Locke,
Montesquieu, Rousseau, “O federalista”. São Paulo: Ática. 2000.
ROSSI, Paolo. O Nascimento da Ciência Moderna na Europa. Bauru: Edusc.
2001.
SAMPAIO, José Adércio Leite. Direitos Fundamentais: retórica e historicidade.
Belo Horizonte: Del Rey. 2004.
SEN, Amartya. Desenvolvimento como Liberdade. São Paulo: Companhia das
Letras. 2000.
SIEYÈS, Emmanuel Joseph. A Contituinte Burguesa: Qu’est-ce que lê tiers état?
Trad. Norma Azevedo. 4° ed. Rio de Janeiro: Lúmen J úris. 2001
SILVA. Francisco Carlos Teixeira. A Sociedade Feudal. São Paulo: Brasiliense.
1982.
STONE, Lawrence. Causas da Revolução Inglesa 1529-1642. Bauru: EDUSC.
2000.
72
TOCQUEVILLE, Alexis de. A Democracia na América. 2 ed. São Paulo: USP.
1987.
TREVELYAN, George McCaulay. A Revolução Inglesa . Brasília: Universidade de
Brasília. 1982.
WOLKMER, Antônio Carlos; LEITE, José Rubens Morato. Os novos direitos no
Brasil: natureza e perspectivas uma visão básica das conflituosidades jurídicas. São
Paulo: Saraiva. 2003.