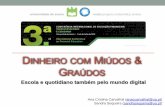Tanto mar: construção trocada em miúdos, por Elisa Campos de Quadros
-
Upload
renan-lazzarin -
Category
Entertainment & Humor
-
view
1.451 -
download
1
description
Transcript of Tanto mar: construção trocada em miúdos, por Elisa Campos de Quadros

Tanto mar: construção trocada em miúdos1
Profª Elisa Campos de Quadros2
“Se, de repente, A gente se distraísse O ferro do suplício Ao som de uma canção”. (Fantasia – Chico Buarque)
A música não é só forma de conhecimento ou reconhecimento do mundo, mas
também de atuação sobre o mundo. A ideia de que ela exerce uma influência – e poderosa sobre
o homem – sempre existiu. Seu papel é decisivo nas sociedades primitivas em que a arte tem uma
atuação mágico-propiciatória, participando de todos os rituais de sociabilização.
À poesia podemos atribuir a mesma importância. Tanto Platão quanto Aristóteles
discutem, em várias de suas obras, os efeitos morais da música e da poesia. Essas artes sempre
despertaram o interesse de filósofos, críticos e criadores que as relacionaram, interrogando-lhes as
correspondências genéticas e, em muitos momentos, voltaram a conjugá-las, não só no sentido de
usar efeitos sonoros do texto como recursos musicais, como no de propor também correlação
semântica entre texto e música.
A história da música popular brasileira é pródiga em exemplos da simbiose altamente
produtiva que gera a figura do poeta-músico. Especialmente na década de 60, tivemos no Brasil
um importante momento de variadas tendências de transformação e criação nessa parceria da
música com a poesia. A canção de protesto é uma das vertentes mais férteis desses veios
múltiplos que se configuraram então, e que atraiu muitos e expressivos talentos para a sua
modalidade.
Em Chico Buarque de Holanda, vamos encontrar uma das adesões mais significativas
a essa música que tinha como escopo uma leitura crítica da situação do país. Participante da vida
universitária como estudante de arquitetura e com uma vivência familiar altamente
intelectualizada, construiu textos poético-musicais extremamente elaborados. Teve uma projeção
rápida e ampla com o engajamento nos festivais de música popular, que mobilizaram jovens de
todo o país na época.
A eficácia e a eficiência da música participativa de Chico se torna voz de resistência a
partir da década de 70. Sua aceitação popular se transforma em perigo para o regime estabelecido.
Assim, suas músicas passam a ser alvo da ferrenha atuação da censura que vetava duas em cada
1 Artigo originalmente publicado in Fragmenta. Curitiba: UFPR, n. 7, 1990. p. 47-75. A presente versão traz atualizações em relação ao Acordo Ortográfico de 1990 e à NBR 14724, que rege trabalhos acadêmicos no Brasil. 2 Bolsista da CAPES.

três que compunha. O Brasil vivia, ainda naquele momento, como estratégia cultural, a política
de supressão: AI nº 5, a apreensão de livros, discos e revistas; a proibição de filmes e peças;
enfim, uma censura rígida. Nessa situação, a arte não dialoga com a realidade, mas com a censura.
A alternativa para o criador é desenvolver uma linguagem estética da malandragem, que possa
pronunciar alegoricamente o que a censura procura silenciar.
Esse é o caso da música “Tanto mar” que Chico compõe em homenagem à
Revolução Portuguesa de 1974 e que foi cantada em show com Maria Bethânia em 1975. Por
apresentar uma referencialidade de louvor à revolução bastante explícita, a música é censurada e
aparece no disco do show apenas orquestrada. Com letra modificada, reaparece em 1978, no
disco Chico Buarque. O caráter mais cifrado do novo texto representa a astúcia do artista que,
mesmo em face da censura, leva adiante seu compromisso de expressão. Trata-se de uma
composição com particularidades curiosas e com uma extraordinária conjunção de letra e música,
que vale a pena ser analisada.
Tanto mar (versão 1975)
Sei que estás em festa, pá
Fico contente
E enquanto estou ausente
Guarda um cravo para mim
Eu queria estar na festa, pá
Com a tua gente
E colher pessoalmente
Uma flor do teu jardim
Sei que há léguas a nos separar
Tanto mar, tanto mar
Sei também quanto é preciso, pá
Navegar, navegar
Lá faz primavera, pá
Cá estou doente
Manda urgentemente
Algum cheirinho de alecrim
Tanto mar (versão 1978)
Foi bonita a festa, pá
Fiquei contente
E inda guardo, renitente
Um velho cravo para mim
Já murcharam tua festa, pá
Mas certamente
Esqueceram uma semente
Nalgum canto do jardim

Sei que há léguas a nos separar
Tanto mar, tanto mar
Sei também quanto é preciso, pá
Navegar, navegar
Canta a primavera, pá
Cá estou carente
Manda novamente
Algum cheirinho de alecrim
Distanciado do evento, o texto de 1978 exigiu modificações, porque a canção de
protesto tem um caráter histórico bem datado. Essas modificações deram uma feição de alegoria
política muito mais marcante ao texto, que se tornou mais elaborado esteticamente. Nossa análise
se fará fundamentalmente sobre esta versão.
Todo o artifício de composição poemática desse texto se funda em duas imagens:
festa e mar. Um acontecimento e um espaço. Essas imagens vão sendo desdobradas em
elementos correlatos ao longo de 4 segmentos, correspondendo às 4 estrofes em que se organiza
o poema transformando-o num caleidoscópio de sentidos que se interrelacionam em múltiplas
(incontáveis) possibilidades de leitura.
O acontecimento – festa – constitui o incipit 3 do texto. É enunciado nos dois
primeiros segmentos que trazem entre si uma relação de sequencialidade causal e temporal. No
terceiro segmento, há uma ruptura narrativa, e a relação com os segmentos anteriores é mantida
apenas pela permanência de um receptor anteriormente anunciado e com quem ou “eu” poético
dialoga. Aqui é situado o espaço – mar. Espaço intermediário, em cujos extremos se encontram,
como antípodas, os dois interlocutores. O quarto segmento contém a intencionalidade do
emissor: transportar o acontecimento do espaço do receptor para o seu próprio espaço.
A festa, apresentada no verso inicial, é, no terceiro verso do primeiro segmento,
metonimicamente referenciada por cravo e, a partir de então, temos um intenso jogo metonímico
que desencadeia um arsenal imagético de base vegetal: murchar, semente, jardim, primavera e alecrim.
Murchar, que, no segundo segmento, é o desdobramento negativo de festa e que se
entrecruza semanticamente com cravo, é uma etapa natural do ciclo vegetativo. Assim, esse caráter
degenerativo apresenta uma negatividade reversível, porque, quando murcha, a flor deixa como
consequência a semente. Na semente está prometida a flor e a festa. A continuidade do jardim
fica praticamente garantida pela semente esquecida em algum canto. Basta que haja condições
favoráveis e a semente eclodirá, como no mito dionisíaco em que deus renasce na primavera.
3 Na sociocrítica, o incipit é um fragmento do início de um texto em que são supostas revelar-se as condições de legibilidade desse texto. O explicit seria o fragmento final do texto, constituindo juntamente com o incipit uma particularidade dos sistemas modelizantes secundários (como os sistemas artísticos).

Num aprofundamento de análise, buscando a referencialidade dessa metáfora mítico-
vegetativa, percebemos que ela está relacionada a uma circunstância histórico-política de
Portugal: a Revolução dos Cravos que em 1974 derrubou a ditadura salazarista.
Sem que em nenhum momento seja explicitada a palavra revolução ou mencionado o
nome de Portugal, o compositor vai, ao longo do texto, lançando uma teia de indícios que
constroem o motivo poemático. A revolução é metonimicamente revelada pelo seu efeito festa e,
ainda, por seu símbolo cravo. A primavera é mais um indício que aponta para a época da revolução,
25 de abril, tempo de primavera e de revoluções na Europa. É oportuno relembrar que esta
revolução que está sendo louvada por uma música, teve como senha desencadeadora da ação
revolucionária outra música: Grândola; Vila morena. O tema da música-senha gira em torno de
Grândola, espaço paradisíaco, “terra da felicidade”.
Portugal é referido por uma série de sutis indicações: pá, mar, alecrim, jardim. Pá! é uma
interjeição que identifica linguisticamente Portugal. Mar representa o espaço contíguo à terra
portuguesa, está íntima e estreitamente ligado à história de Portugal, principalmente a partir dos
descobrimentos marítimos: “Ó mar salgado, quanto de teu sal / São lágrimas de Portugal!”4.
Encravado entre o mar e a “Estremadura” espanhola, a mirada de Portugal teve que
inevitavelmente se fazer para o ocidente, vencendo o mar, transformando-se no “Império que
nasceu no mar”5. Ao motivo mar do texto estão vinculadas palavras como léguas (medida
marítima) e navegar. Além disso tudo, Portugal é conhecido como “o jardim da Europa à beira-
mar plantado”. Daí a felicidade da utilização dos motivos vegetais que, reiteradamente, aparecem
no texto. Aliados a jardim sugerem uma certa ordem ideal, harmoniosa. Por outro lado, alecrim
está ligado ao culto que cada grupo social faz à natureza, atribuindo poderes místicos a certos
vegetais. O alecrim é, em Portugal, considerado uma planta que só nasce nos jardins dos justos.
Também é símbolo do amor, da fidelidade e da felicidade. Colocado sobre brasas, serve para
desinfetar o ambiente dos maus cheiros e, principalmente, dos maus fluidos.
As escolhas léxicas, que a montagem dessa bela alegoria exigiu, fazem apelo a quatro
operações fundamentais: isolar, articular, ordenar e teatralizar. Nossa análise veio até aqui
tentando isolar alguns elementos, articulando-os e ordenando-os para melhor manifestar a planta
baixa do texto. Queremos agora estudar a operação de teatralização que se realiza. Um “eu”
poético relata um fato passado – a festa – e os desdobramentos desse fato. A seguir, é
mencionada a relação emocional que o “eu” poético tem com o acontecimento – “fiquei
contente”.
4 PESSOA, Fernando. Mar português. In: _____, Obra poética. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1977, p. 82. 5 PAES, José Paulo. Um por todos. São Paulo: Brasiliense, 1986, p. 145.

Surge, no segundo segmento, a figura do destinatário que, em verdade, é o agente do
evento anteriormente anunciado: “Já murcharam tua festa”. O resultado da festa ficou aquém do
projeto. O sonho revolucionário estava além do que há presentemente, mas, a qualquer
momento, pode realizar-se em plenitude.
No terceiro segmento, o “eu” poético relaciona sua própria condição com a do “tu”
do segmento anterior: “sei que há léguas a nos separar”. A consciência dessa condição é enfatizada
anaforicamente pelo verso: “Sei também quanto é preciso...”. A realidade em que se encontra o
emissor da mensagem poética está a léguas de distância das conquistas obtidas na festa que está
sendo comentada.
No último segmento, há uma radical mudança de tom e a voz do “eu” poético passa
a ser de comando, como uma ordem ou súplica: “Canta a primavera”, “Manda novamente...”. Em
“canta a primavera”, desenvolve-se a ideia do poder do canto, elemento demiúrgico capaz de
fazer a primavera, fazer brotar a semente. Aí condensam-se dois significados metamusicais: a
primavera sendo cantada e a primavera cantando. Nos dois casos, um enfático apelo à vinda de
um tempo novo para alterar um espaço de carência: “Cã estou carente”. O espaço de carência,
que não experimentou o gozo da festa, só se modificará em tempo de eclosão de sementes, em
tempo de fertilidade, de despertar do vigor vegetativo. E o cheirinho de alecrim é
estrategicamente o explicit do contexto, constituído por todas as conotações simbólicas que já
apresentamos e tornando-se no delicado vínculo com os ares desejados.
Junto com este texto é possível articular, em análise, dois outros de Chico Buarque:
“Sabiá”, de 1968, e “Fado tropical”, de 1973, que se acha integrado à peça Calabar. Nesses três
textos poético-musicais é notável a recorrência de um cá e um lá, que remetem à “Canção do
exílio”, de Gonçalves Dias.
“Sabiá”, o primeiro deles, é nitidamente uma “Canção do exílio”, em que cá e lá,
dêiticos espaciais, passam a ter uma significação temporal, fato que, em certa medida, também
acontece em “Tanto mar”.
Um sujeito, num tempo presente, sonha regenerar o espaço em que uma palmeira já
(agora) não há; a flor que já (agora) não dá, mas que em outro tempo foi o lugar de se “ouvir
cantar uma sabiá”. E onde o exilado sabe ser o seu universo, o seu lugar.
Adélia Bezerra de Meneses analisa magistralmente este texto em Desenho mágico: poesia
e política em Chico Buarque. Diz a autora: “O presente aqui significa o exílio – no caso, exílio interior
de quem se sente desterrado em sua própria terra”6.
6 MENESES, Adélia Bezerra de. Desenho mágico: poesia e política em Chico Buarque. São Paulo: Hucitec, 1982, p. 162.

Em “Tanto mar”, também o “eu” poético é um exilado na própria pátria, “um
desterrado em sua terra” a solicitar uma justa equiparação com conquistas de um outro espaço.
Temos em “Fado tropical” a manifestação do desejo de implantação do modelo
cultural do “lá” (de Portugal) no espaço “cá” (do Brasil). E a mistura se constitui em algo
absolutamente insólito, porque cada elemento lusitano faz parelha com um elemento tropical,
como se pré-anuncia no título da música “Fado tropical”, que amalgama elementos
identificadores dos espaços culturais que se pretende aproximar. Assim, surgem avencas na
caatinga, alecrins no canavial, o vinho tropical, a mulata com rendas do Alentejo e mais guitarras
e sanfonas; jasmim, coqueiro e fontes, sardinhas e mandioca, o rio Amazonas correndo trás-os-
montes e numa pororoca desaguando no Tejo. Esta seria a forma de esta terra cumprir seu ideal,
tornando-se “um imenso Portugal”7.
Aí o problema da busca da identidade da nação é fundamental. A expressão colocada
na boca de Matias de Albuquerque, em dado momento da peça Calabar resume todos os
equívocos de nossa história: “O que é bom para Portugal é bom para o Brasil”.
Sérgio Buarque de Holanda sintetiza com muita propriedade a questão:
A tentativa de implantação da cultura europeia em extenso território, dotado de condições naturais, se não adversas, largamente estranhas ‘a sua tradição milenar, é, nas origens da sociedade brasileira, o fato dominante e mais rico em consequências. Trazendo de países distantes nossas formas de convívio, nossas instituições, nossas ideias, e timbrando em manter tudo isso em ambiente muitas vezes desconfortável e hostil, somos ainda hoje uns desterrados em nossa terra. Podemos construir obras excelentes, enriquecer nossa humanidade de aspectos novos e imprevistos, elevar à perfeição o tipo de civilização que representamos: o certo é que todo o fruto do nosso trabalho ou de nossa preguiça parece participar de um sistema de evolução próprio de outro clima e de outra paisagem.8
O desterro, o exílio a que “Tanto mar” se refere, dá-se justamente porque não se
implantam, plantam, em nosso território elementos que possam florescer na possibilidade de uma
cultura autóctone, na liberdade de ser brasileiro.
O paradoxal e irônico disto tudo é que efetivamente no século XVII, tempo em que
se passa o drama de Calabar, o Brasil copia o modelo de “Fado tropical”. No tempo em que
“Tanto mar” propõe a possibilidade do modelo português para imitação não se tem nem
cheirinho de alecrim.
A tensão que se estabelece em “Sabiá” e “Tanto mar” não é, como na “Canção do
exílio”, de Gonçalves Dias, de espaço, mas de tempo. O que se busca é um futuro que torne
isotópicos os espaços de liberdade.
7 A ideia de que Portugal deve cumprir é de Fernando Pessoa e está disseminada na “Mensagem”. 8 HOLANDA, Sérgio Buarque de apud MENESES, Adélia Bezerra de, op. cit., p. 163.

Diferentemente de “Sabiá”, que se insere na temática do “Dia-que-virá”9 com um
tom de grande melancolia, “Tanto mar” não apresenta, na sua segunda versão, aquele valor
soteriológico de eximir o sujeito-histórico de uma responsabilidade histórica. Em “Sei que há
léguas a nos separar/Tanto mar, tanto mar,/ Sei também quanto é preciso, pá/Navegar, navegar”
também está dito o que está silenciado: “navegar é preciso; viver não é preciso”10. E nos versos
de Chico Buarque, mutatis mutandi, navegar é igual a lutar. Assim, lutar é preciso; viver não é
preciso. Configura-se o reconhecimento de que estamos longe de uma consciência política, a
léguas dela, é necessário vencer a distância. Há um incitamento a vencer a distância. Há um
incitamento a vencer o mar ideológico, que precisa ser transposto.
Trabalhadas algumas possibilidades de leitura do texto, queremos agora mostrar
como Chico Buarque fundiu com rara felicidade o componente linguístico ao componente
melódico, numa permanente correspondência que garante “eficácia e encanto” ao conjunto.
Para esse tipo de investigação, tomaremos como fundamento o estudo de Luiz Tatit
sobre a canção11.
“Tanto mar” tem uma estrutura melódica que congrega relações modais de três tipos
de persuasão: por figurativização, por paixão e por decantação.
Se pensarmos inicialmente na canção enquanto forma comunicativa, verificamos que,
além de uma modalização fazer do destinador e da modalização fazer do ouvinte, há também uma
sobremodalização. A canção de Chico, principalmente por ser de protesto, realiza uma
sobremodalização do seguinte tipo: o destinador sabe fazer e quer fazer. Essa pressão comunicativa
atua sobre o destinatário, induzindo-o a “querer fazer” e “dever fazer”. O ouvinte não só é
tomado pelo encantamento da música, querendo ouvi-la (querer fazer), mas, como se trata de um
tema político, é pressionado a dever ouvi-la (dever fazer). A tensão situa-se numa outra
modalidade: o poder fazer, daí o seu caráter alegórico. A ação da censura inibe os dois actantes da
comunicação, não permite que o destinador e o destinatário fechem diretamente o circuito de
comunicação por meio da consequente atuação.
Analisando a persuasão figurativa do texto, é possível identificá-la, na medida em que
se percebe que o diálogo entre o destinador e o ouvinte se insere em outro diálogo: no diálogo
entre o “eu” poético e um “tu” presente no texto. O ouvinte passa a ser envolvido por esse
diálogo simulado, fazendo ao mesmo tempo parte do diálogo que a canção mantém com ele.
Conforme Tatit: “A função do simulacro é imitar a locução principal, presentificando a situação.
Durante o mesmo tempo que o interlocutor fala com o interlocutário, o destinador canta para o
9 GALVÃO, Walnice Nogueira. MMPB: uma analise ideológica. In: ____, Saco de gatos. São Paulo: Duas cidades, 1976, p. 96. 10 Citação de Fernando Pessoa que introduz a Obra poética, op. cit., p. 15. 11 TATIT, Luiz. A canção-eficácia e encanto. 2 ed. São Paulo: Atual, 1987.

destinatário ouvinte. A locução é uma só”12. Melodia e texto revelam a presença de um diálogo,
porque ganham contornos e características que muito as aproximam da entoação da fala, do
discurso oral. Nisso se instaura o valor de verdade que a persuasão figurativa produz.
Outro recurso da persuasão figurativa é a acomodação da melodia ao texto. Embora
a linha melódico seja altamente reiterativa na canção que estamos tratando, ou seja, possui uma
periodicidade muito definida, temos nos primeiros versos de cada segmento um deslocamento da
acentuação, para que esta se adapte ao texto. Por exemplo:
1º segmento: sílabas – 3; 5; 7.
2º segmento: sílabas – 3; 7; 9.
3º segmento: sílabas – 3; 7.
4º segmento: sílabas – 1; 5; 7.
Somente em um verso há o procedimento inverso em que a acentuação textual se
modifica para se acomodar à melodia:
“Sei que há léguas a nos separar”.
Separar se transforma em séparar. Esse procedimento, no entanto, mesmo
constituindo exceção, não desvincula melodia e texto. Ao contrário, reforça a ideia de diferença,
de separação, que está no texto.
Também no caso da acomodação, podemos dizer que ela se prende ao movimento
da linguagem coloquial, em que os significados o texto exigem modificação entoativas.
Da mesma forma, a presença dos dêiticos, abundantes no texto, reforça a veracidade
do “simulacro de locução”. Estes sugerem uma vinculação direta com a realidade do diálogo,
porque situam o ato elocutório e orientam o momento de comunicação.
Em “Tanto mar”, há dêiticos de vários tipos:
- dêiticos imperativos:
“Canta a primavera”
“Manda novamente...”
Nesses dêiticos está sugerida a atuação de um tu que deve ter uma atitude, porque há
necessidade de satisfazer uma carência.
- dêiticos de lugar:
“Cá estou carente”
“Sei que há léguas a nos separar”
Cá e léguas definem espacialmente a situação dos interlocutores no ambiente locutivo.
- dêiticos de tempo:
12 TATIT, Luiz, op. cit., p. 28.

“Manda novamente”
“Inda guardo”
Além desses, os próprios verbos apresentam indicações temporais, que manifestam
uma tensão entre um passado e um presente.
- dêiticos interjetivos e exclamativos:
“Foi bonita a festa, pá”
“Tanto mar, tanto mar”
A interjeição pá caracteriza cacoetes linguísticos peculiares à fala portuguesa. Tanto
mar funciona como indicador do assombro que as dificuldades da empreitada apresentam.
Estes são alguns elementos que comprovam a persuasão figurativa do texto em que o
compositor/cantor se investe de enunciador de uma situação que tem todos os sintomas de uma
realidade que está naquele momento sendo comunicada.
A figura passional do texto se estabelece pela tensão entre a realidade em que o
destinador está (“cá estou carente”) e a situação almejada. A disposição passional, nesse caso,
decorre da ausência da modalidade poder. A emoção avulta, ainda, porque o destinador sabe (“sei
quanto é preciso, pá”) e quer, mas não pode, daí o pedido de uma intervenção externa (“canta”,
“manda”).
A modalização passional da melodia está perfeitamente conectada à modalização
passional do texto. Em quase todos os segmentos, os versos finalizam por um tom descendente,
e muitas vezes grave, que confirma a sugestão de que se terá asseverando algo.
Ainda temos a inflexão passional trazida pela mudança de andamento melódico. O
início da canção com uma melodia lenta, que mal se manifesta, encoberta pela recitação e a
instrumentação que compõe esse fundo musical, remetem uma languidez de fim de festa (“foi
bonita a festa”). A guitarra, instrumento que toma o primeiro plano nesse acompanhamento,
lembra o dedilhar dolente de uma canção portuguesa.
A partir do 4º segmento altera-se o andamento do movimento melódico, que é
acelerado, correspondendo ao estado anímico de ansiedade do “eu” poético que revela no texto o
desejo de modificar a sua condição, por meio de frases imperativas que ganham influxo
contundente. A guitarra deixa o primeiro plano e temos a presença marcante de uma flauta
acompanhada de palmas frenéticas. Na nossa concepção, o compositor faz através do arranjo
instrumental e do andamento melódico a mesma simulação de referência a dois espaços lá e cá,
que já analisamos anteriormente. O cá, representado pela vibrante flauta em aceleração melódica,
nos sugere a música andina. Assim teríamos, por essa sugestão, uma ampliação geográfica. Cá não
é só o Brasil, mas toda a América Latina carente.

Por fim, podemos apreender, nessa composição poético-musical, uma persuasão
decantatõria que parece prevalecer sobre as demais, sem contudo eliminá-las. Os contornos
melódicos da canção não aparecem de maneira caótica, organizam-se em princípios reiterativos,
conformando uma periodicidade, um motivo. Isso permite uma certa previsibilidade de
informação sonora e permite uma leitura, que pode avançar ou recuar. O motivo melódico é o
mesmo em todas as frases introdutórias de segmento – sete notas, mas se expande em duas mais
no 2º e 3º segmentos. Interessante que aí estão versos que contêm uma certa negatividade: “Já
murcharam tua festa, pá”, “Sei que há léguas a nos separar”. Nas demais frases melódicas, o
primeiro e o segundo segmentos são quase que totalmente paralelísticos.
O terceiro segmento é absolutamente isométrico, e nisso parece enfatizar o caráter de
segurança do saber que se enuncia e, como já fizemos notar, se manifesta anaforicamente pela
repetição de sei.
No 4º segmento, a narrativa vai sendo invadida pela sonorização e o motivo
melódico vai sendo repetido aceleradamente até quase atingir um frenesi, num tipo de persuasão
decantatória que se compatibiliza com a exaltação revolucionária proposta no texto.
A utilização desse multimeios de pressividade comunicativa conjugam texto e melodia.
Temos cálculo, jogo, canção, canto, encanto, encantamento.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ANDRADE, Mário de. Aspectos da música brasileira. São Paulo: Martins, 1965. ANGENOT, Marc. Glossário da crítica contemporânea. Trad. Miguel Tamen. Lisboa: Comunicação, 1984. BAHIANA, Ana Maria. Nada será como antes, MPB nos anos 70. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1980. _____ et al. Anos 70, música popular. Rio de Janeiro: Europa, 1979-1980. BERIO, Luciano. Entrevista sobre a música contemporânea. Trad. Álvaro Lorencini e Letizia Zini Nunes. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1981. BOSI, Alfredo. O ser e o tempo da poesia. São Paulo: Cultrix, 1977. ____ (org.). Cultura brasileiro: temas e situações. São Paulo: Ática, 1987. CALDAS, Waldenyr. Iniciação à música popular brasileira. São Paulo: Ática, 1985. CAMPOS, Augusto de. Balanço da bossa e outras bossas. 4. ed.. São Paulo: Perspectiva, 1986.

CANDIDO, Antonio. Dialética da malandragem. In: ALMEIDA, Manoel Antonio de. Memórias de um sargento de milícias. Rio de Janeiro: LTC, 1978. DAGHLIAN, Carlos (org.). Poesia e música. São Paulo: Perspectiva, 1985. DELEWZE, Gilles. Lógica do sentido. São Paulo: Perspectiva, 1974. FAVARETTO, Celso F. Tropicália, alegoria, alegria. São Paulo: Kairós, 1979. FREITAS, Léa Vinocur. Momentos da música brasileira. São Paulo: Nobel, 1985. GALVÃO, Walnice Nogueira. Saco de gatos. São Paulo: Duas Cidades, 1976. HERZFELD, Friedrich. Nós e a música. Trad. Luiz de Freitas Branco. Lisboa: Livros do Brasil, 1981. MENESES, Adélia Bezerra de. Desenho mágico: poesia e política em Chico Buarque. São Paulo: Hucitec, 1982. MARIZ, Vasco. A canção brasileira. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira/MEC, 1972. PAES, José Paulo. Um por todos. São Paulo: Brasiliense, 1986. PESSOA, Fernando. Obra poética. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1977. SANT’ANNA, Affonso Romano de. Música popular e moderna poesia brasileira. Petrópolis: Vozes, 1968. SCHWARZ, Roberto. O pai de família e outros estudos. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978. SQWEFE, Enio; WISNIK, José Miguel. O nacional e o popular na cultura brasileira, música. São Paulo: Brasiliense, 1983. STEFANI, Gino. Para entender música. Trad. Maria Bethânia Amoroso. Rio de Janeiro: Globo, 1987. SCHURMANN, Ernst. A música como linguagem: uma aboragem histórica. São Paulo: Brasiliense/CNPq, 1989. TAME, David. O poder oculto da música. São Paulo: Cultrix, 1984. TATIT, Luiz. A canção: eficácia e encanto. 2 ed. São Paulo: Atual, 1987. TINHORÃO, José Ramos. Pequena história da música popular. Petrópolis: Vozes, 1978. VALENÇA, Suetônio Soares. Tra-la-lá. Rio de Janeiro: FUNARTE, 1981. VASCONCELOS, Gilberto. Música popular: de olho na fresta. Rio de Janeiro: Graal, 1977. VELOSO, Caetano. Alegria, alegria. Rio de Janeiro: Pedra Q. Ronca, s/d.

WISNIK, José Miguel. O coro dos contrários: a música em torno da semana de 22. São Paulo: Duas Cidades, 1983.