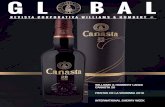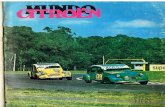Revista-AfricaCinema
-
Upload
rodolfonjfonseca -
Category
Documents
-
view
215 -
download
1
description
Transcript of Revista-AfricaCinema
-
PatrocnioRealizao
frica, CinemaUm olhar contemporneo
-
Permita-se ver navios.www.laffilmes.com.br
Laffilmes Cinematogrfica
-
A CAIXA uma das principais patrocinadoras da cultura brasileira, e destina, anualmente, mais de R$ 60 milhes de seu oramento para patrocnio a projetos culturais em seus espaos, com o foco atualmente voltado para exposi-es de artes visuais, peas de teatro, espetculos de dan-a, shows musicais, festivais de teatro e dana em todo o territrio nacional, e artesanato brasileiro.
Os eventos patrocinados so selecionados via Progra-ma Seleo Pblica de Projetos, uma opo da CAIXA para tornar mais democrtica e acessvel a participao de pro-dutores e artistas de todas as unidades da federao, e mais transparente para a sociedade o investimento dos recursos da empresa em patrocnio.
A Mostra frica, Cinema vai apresentar ao pblico ca-rioca os principais nomes do cinema contemporneo afri-cano, com retrospectivas de Mahamat-Saleh Haroun e de Abderrahmane Sissako indicado ao Oscar de filme es-trangeiro em 2015 por Timbuktu.
Desta maneira, a CAIXA contribui para promover e di-fundir a cultura e retribui sociedade brasileira a confian-a e o apoio recebidos ao longo de seus 154 anos de atuao no pas, e de efetiva parceira no desenvolvimento das nos-sas cidades. Para a CAIXA, a vida pede mais que um banco. Pede investimento e participao efetiva no presente, com-promisso com o futuro do pas, e criatividade para conquis-tar os melhores resultados para o povo brasileiro.
CAIXA ECONMICA FEDERAL
Abderrahmane Sissako nas filmagens de Timbuktu (2014)
-
Presidenta da Repblica Dilma Vana Rousseff
Ministro da FazendaJoaquim Levy
Presidenta da Caixa Econmica Federal Miriam Belchior
frica, Cinema:Um olhar contemporneo
Ferreira, Leonardo Luiz (org.)1. EdioJunho de 2015ISBN 978-85-69060-01-7
RealizaoLaffilmes Cinematogrfica
ProduoMarcelo LaffitteMariana Bezerra
CuradoriaJoo Juarez Guimares
Direo de ProduoLarissa TavaresLeonardo Luiz Ferreira
Assistncia de ProduoLudmila OlivieriCamila FariasIsabel Scorza
Coordenao Editorial & RevisoLeonardo Luiz Ferreira
Projeto GrficoGuilherme Lopes Moura
Produtor de CpiasBreno Lira Gomes
Assistente de produo de CpiasBreno Machado
WebdesignerFernando Alvarez Junior
VinhetaLuiz Guimares de Castro
Edio & ProjeoCoordenaoLuiz Guimares de CastroOperadoresJonas MuradJoo Rabello
Assessoria de ImprensaClaudia OliveiraMariana Bezerra
MonitoriaCamila Farias
Coordenao de Mdias SociaisGabriela Moscardini
TraduoSilncio MultimdiaCarol SilveiraDaniel CelliDiana IliescuKarina LegrandMariclara Oliveira
Suporte TIMarcelo Gutierrez
Registro Fotogrfico e VideogrficoMarcelo Caldas
ImpressoGrfica Stamppa
PapelCouch Matte 200g/m2 (capa)Couch Matte 115g/m2 (miolo)
TipografiaPT Sans e PT Serif
Tiragem1.000
CAIXA Cultural RJ
30 de junho a 12 de julho de 2015
Av. Almirante Barroso, 25, Centro Tel.: (21) 3980.3815
www.facebook.com/CaixaCulturalRiodeJaneiro
www.caixacultural.gov.br
www.africacinema.com.br
Todos os direitos reservados. proibida a reproduo deste livro sem prvia autorizao dos organizadores.
Nos termos da Portaria 3083, de 25.09.2013, do Ministrio da Justia, informamos o Alvar de Funcionamento da CAIXA Cultural RJ: n 041667, de 31/03/2009, sem vencimento.
Agradecimentos CaioAndr RamiroLzaro RamosMilton GonalvesThomas SparfelJoel Zito ArajoClaudia OliveiraJos Paulo PessoaFilipe FurtadoFernando OrienteMoiss PachecoMariana BezerraOctvio Bezerra
Apoio
-
para a tela e derrubam por terra a crtica de que o cine-ma africano peca pelo amadorismo e deficincias tcni-cas. Suas obras com narrativas originalssimas e seduto-ras so realizadas com esmerado acabamento.
A mostra frica, Cinema Um Olhar Contemporneo vai apresentar ao pblico carioca pelculas recentes de ci-neastas de pases como Burkina Faso, Congo, Chade, Mali, Mauritnia, Moambique e Senegal.
O mauritano Abderrahmane Sissako e o chadiano Maha-mat-Saleh Haroun, que j tiveram Timbuktu e Um Homem que Grita em exibio comercial no Brasil, so os mais re-conhecidos autores da regio e recebem uma seleo es-pecial de seus longas no evento.
E Alain Gomis (Hoje) e Sarah Bouyain (Nossa Estrangeira) representam outra vertente do cinema africano contem-porneo: filhos de imigrantes africanos radicados em ou-tro continente que retornam a terra de seus antepassados para se dedicarem a realizao cinematogrfica.
Joo Juarez GuimaresCurador da mostra frica, Cinema Um Olhar Contemporneo
Quando se fala em cinema africano hoje em dia, geral-mente refere-se aos pases ao sul do Saara, a chamada frica Negra, uma das regies mais carentes do planeta e onde no existe tradio de produo cinematogrfica.
Em quase todas as naes desta rea, a atividade cine-matogrfica enfrenta uma realidade precria: em poucos pases existe algum tipo de financiamento ou apoio, v-rios deles no possuem mais salas de projeo as que existiam atualmente esto fechadas - e em muitos nunca foram realizados longas-metragens.
Apesar deste panorama pouco animador, recentemente alguns cineastas da frica Negra se destacaram com ttu-los que conquistaram a imprensa e pblico especializado e, alm de premiados em diversos importantes festivais, vrios deles obtiveram distribuio para pases do mundo inteiro, fato pouco comum para obras africanas, pois mui-tos destes filmes no conseguem exibio sequer em seus prprios pases de origem, sendo relegados s plateias de certames e mostras internacionais.
Os ttulos apresentados na mostra frica, Cinema Um Olhar Contemporneo impressionam pela inteligncia e criatividade com que transpem a cultura de seus pases
Editorial
Nossa Estrangeira (2010), de Sarah Bouyain
-
12
36
20
48
-
fortuna crticaUm Homem que GritaDesejo de Mudana, por Leonardo Luiz Ferreira
Temporada de SecaErnias de um Pai, por Luiz Fernando Gallego
GrigrisResqucios de Beleza, por Heitor Augusto
TimbuktuCantos e Uivos de Resistncia, por Pablo Gonalo
O Barco da EsperanaFrustrao e Esperana, por Rafael Saraiva
especialO Cinema Poltico Africano e o Direito de NarrarPor Marcelo Rodrigues Souza Ribeiro
Perfil com o Cineasta Licnio AzevedoPor Leonardo Luiz Ferreira
Entrevista com Manthia DiawaraPor Leonardo Luiz Ferreira
artigos Por Joel Zito ArajoO Que o Cinema Africano?
As Escolas do Cinema Africano
Lusfona
Francfona
Anglfona
fichas tcnicas
812162024
3628
40
44
485258
62
sumrio
-
8 frica, Cinema
-
9 fortuna crtica
Um Homem que Grita no pode ser avaliado com o pres-suposto de que se trata da nica produo em longa-me-tragem do pas africano Chade em 2010, que no possui nem mesmo salas de cinema. Muito menos imaginar que por essa razo recebeu o prmio do jri no ltimo Festi-val de Cannes. O que sempre deve ser levado em conside-rao a obra em questo, nunca as condies em que foi feita, como uma forma de exemplo a ser seguido devido s inmeras intempries. O que o diretor Mahamat-Sa-leh Haroun (Daratt: Temporada de Seca), que j tem uma carreira com quatro filmes, faz bom cinema. E nada me-lhor do que isso para legitimar o seu trabalho.
O Chade um pequeno pas consumido pela misria e guerra, assim como tantos outros do continente africa-no. nesse ambiente desestruturado que se desenrola a narrativa de Um Homem que Grita, que tem como pano de fundo uma luta atual entre governo e rebeldes pelo poder. Mas o que interessa a Haroun o estudo de personagem para notar o que a guerra produz em um indivduo: par-te-se de um salva-vidas de piscina de hotel para refletir o momento de uma populao, que alijada da prpria terra e tm a famlia desfigurada em prol de defender ptria. O cinema como reflexo poltica, sem nunca se configu-rar como tal ou se apoiar em lugares-comuns de discursos
Desejo de Mudanapor Leonardo Luiz Ferreira
Um Homem que Grita (2010),
de Mahamat-Saleh Haroun
Um Homem que Grita
*Texto originalmente
publicado no portal
Almanaque Virtual.
-
10 frica, Cinema
Um Homem que Grita (2010)
lho durante o jantar em casa: apenas a me reage e replica ao silncio, e a cmera permanece ali, com uma distncia estabelecida do objeto, a observar o movimento e traduzir o cerne da questo do filme.
Um Homem que Grita ressalta a potncia do gesto em de-trimento do discurso, ainda que o longa termine com um poema de mensagem direta para o espectador se mobili-zar. O que o cineasta busca entender as relaes familia-res em reflexo ao confronto blico, como os laos so man-tidos com o caos ao redor. Afinal como diz Adam em uma declarao explcita: no fui eu que mudei, foi o mundo que mudou. Portanto, sua jornada para salvar o filho se torna uma cruzada de restituio dos valores mais bsicos do ser humano: viver em paz consigo e com o outro.
Uma fita cassete a nica mensagem enviada pelo jo-vem Abdel para sua noiva grvida, que agora reside em seu lar. Nela, a descrio da guerra em poucas palavras; e sem partir para a encenao do conflito, o diretor poten-cializa um sentimento de perda, como o choro sem lgri-mas de Adam na calada da noite. O corpo atirado no mar, prximo ao desfecho, boia em direo a um rumo desco-nhecido e fora de quadro, mesmo que a escurido recaia sobre a caminhada na gua do salva-vidas, no ltimo pla-no, Mahamat-Saleh Haroun aponta para o desejo de mu-dana, nem que seja pela via da tragdia, como Roberto Rosselini no clssico Roma, Cidade Aberta (1945).
sobre oprimidos. A mise-en-scne do realizador no pode-ria ser mais precisa nesse sentido, com closes do rosto de Adam e o silncio que o assalta lentamente devido imi-nncia da fragmentao de seu microuniverso pessoal e de trabalho.
Mahamat sabe estruturar a sua histria e utilizar as fer-ramentas cinematogrficas em prol da dramaturgia. H uma conteno emocional que acaba por tensionar o dra-ma de um pai que entrega seu filho para o exrcito e pas-sa a viver com essa angstia: os planos o colocam solit-rio em qualquer espao, at ficar realmente sozinho como o nico bastio da resistncia laboral no hotel. As notcias so transmitidas pelo rdio, que sugere um conflito cada vez mais prximo, s que a dor de perder um ente querido marca mais o personagem do que bombas ou tiros. des-concertante, por sua simplicidade descritiva, o plano m-dio em cmera baixa da ausncia de dilogo entre pai e fi-
Mahamat sabe estruturar a sua histria e utilizar as ferramentas cinematogrficas em prol da dramaturgia.
-
11 fortuna crtica
-
12 frica, Cinema
-
13 fortuna crtica
O argumento de Temporada de Seca bem interessante. Um homem idoso e cego, com autoridade patriarcal, em uma pequena comunidade do interior do Chade, d a seu neto uma misso: matar o homem que matou seu filho, j que o governo concedeu anistia para crimes de guerra. O jovem Atim, chamado de o rfo, nem conheceu seu pai: afinal foram 40 anos de guerra civil.
Na capital, Atim consegue encontrar o assassino Nassa-ra, um homem que para se fazer escutar precisa de um am-plificador para cordas vocais lesadas junto ao pescoo. Em-bora no seja nada jovem, Nassara est casado com uma moa bem mais nova que se encontra grvida. E apesar de ser rude e grosseiro, em vias de ser pai, tambm desen-volve uma inclinao paternal para com Atim que conse-guiu ser ajudante na pequena padaria do outro mesmo se mostrando hostil e belicoso. Mas Atim comea a poster-gar a concluso de sua vingana.
E r n i a sde um Paipor Luiz Fernando Gallego
Ali Barkai em
Temporada de Seca (2006)
Temporada de Seca
*Texto originalmente publicado
no site Crticos.com.br e
gentilmente cedido pelo autor.
-
14 frica, Cinema
a, as Ernias nascidas do sangue de um pai assassinado, perseguiriam Orestes que tambm estaria desobede-cendo a Apolo se no matasse sua me. E to logo o faz, as Ernias nascidas do sangue dela o perseguem com re-morsos intolerveis.
Na magistral trilogia de squilo, a soluo ser dada pela substituio da vingana pela Justia, criando-se um tri-bunal por inspirao de outra deusa, Palas Atena (Miner-va para os romanos). O resultado da votao entre os 12 membros d empate quanto a punir o matricdio de Ores-tes e faz com que surja o voto de Minerva no caso, a favor de que ele no seja mais perseguido pelas Ernias. Estas protestam, dizendo que, sem medo do castigo que elas infligem, os homens se trucidaro uns aos outros. Atena faz a proposta de no perseguirem os que comete-ram crimes, mas possam tentar advertir os que esto in-clinados a comet-los: de Ernias perseguidoras, elas se transformariam em Eumnides (tolerantes). A psicanli-se de Melanie Klein entendeu a sabedoria do mito como uma forma de falar da transformao da culpa persecu-tria apenas por temor de ser descoberto e punido
H muitos pais em cena, at mesmo duplicados: o cego que perdeu seu filho e ordena vingana tal como o deus Apolo exigiu a mesma coisa de Orestes pela morte de seu pai, Agamenon; Nassara, prestes a ser pai biolgico e que-rendo ser pai adotivo de Atim; o pai morto que mais do que um fantasma ausente a ser vingado: transformado em misso abstrata, ideia, ideal, meta a ser perseguida.
Quando Atim estabelece uma relao prxima com Ai-cha, a jovem esposa grvida de Nassara, temos uma fran-ca configurao triangular edpica. Atim quer matar o ho-mem que est querendo ocupar o lugar de seu pai e que seu adversrio; concomitantemente, desenvolve familia-ridade-intimidade com a mulher do outro, em vias de se tornar me. Caso adotado por Nassara, ela ser sua ma-drasta um delicado papel de substituta para o lugar de me (no se fala da me de Atim).
Como matar o homem que quer ser seu pai? Como de-sobedecer o av de postura hiertica? Na lenda grega, Orestes chega a ter que matar a prpria me, Clitemnes-tra, porque ela participara da morte do esposo. Se no o fizesse, as deusas mais primitivas que cobravam vingan-
Youssof Djaoro em cena de Temporada de Seca (2006)
-
15 fortuna crtica
em culpa reparadora por considerao e identificao com quem foi prejudicado, com chances de elaborao das faltas e do remorso.
A sabedoria poltica do desfecho da Orestia tambm evidente: alm da criao do tribunal e da justia, ou seja, da Lei em lugar da vendetta, temos uma proposta de pro-cesso civilizatrio que redunda exatamente na possibili-dade do perdo pela anistia o que no obrigatoriamente est espontaneamente nos coraes humanos, mas sim no projeto educativo para a vida em comum civilizada.
O av de Atim (cego como um dipo aps ter conscin-cia de suas falhas trgicas?) no aceita a anistia que perdo-
soam estranhos e mal definidos na relao de Nassara com Atim, podendo ser pensado que Nassara quereria mesmo ser justiado ao manter o jovem em sua casa hiptese que no se sustenta pelas demais atitudes gerais do perso-nagem. No d para deixar de pensar que a elaborao do filme foi simplista ou at mesmo mal resolvida. Esta for-ma de apresentar enredos como "retratos em um por um" da realidade, sem maior dimensionamento ficcional (que transmita uma realidade ainda mais real do que o mero re-alismo/naturalismo) infelizmente empobrecedor.
O despojamento geral (assim como digresses desne-cessariamente longas na chegada de Atim capital) no facilita a aproximao de plateias mais amplas, e filmes como este acabam relegados a prmios em festivais e admirao de parte da crtica. O que uma pena, j que o tema se mostra forte, sempre atual, eterno. O que justifica tentar conhecer o filme com seu belo desfecho.
aria o assassino de seu filho e transmite o dio transgera-cional ao neto. Um exemplo de vinganas sem fim pode ser lembrado em Abril Despedaado (2001), de Walter Salles.
O filme de Mahamat-Saleh Haroun desenvolve sua pro-posta de forma bem direta e despojada, quase como uma fbula oriental (ou africana, no caso). Esta forma tem sido apreciada em festivais (este filme recebeu o prmio es-pecial do Jri em Veneza, 2006), seja pelo despojamen-to que se quis assim (leia-se: como uma forma narrativa na verdade sofisticada de desdramatizao) ou mes-mo como resultado de uma viso naf, que o que Tem-porada de Seca chega a aparentar. H lances de roteiro que
O filme de Mahamat-Saleh Haroun desenvolve sua proposta de forma bem direta e despojada, quase como uma fbula oriental (ou africana, no caso).
-
16 frica, Cinema
-
17 fortuna crtica
Mahamat-Saleh Haroun tem uma carreira slida com in-teresses cinematogrficos bastante definidos. A famlia seja ela de sangue ou formada com afetos improvisa-dos um deles. Outro o entrelaamento de um con-texto macro de seu pas, o Chade, com os dramas de seus personagens em geral filhos tendo de resolver proble-mas dos pais ou proteg-los. Haroun tambm tem uma assinatura bastante definida como diretor (preferncia pelo scope, mistura de atores com diferentes formaes, dilogo entre o naturalismo e a fantasia, valorizao do humanismo mesmo em situaes-limite).
Assim Um Homem que Grita (2010), seu nico filme a, milagrosamente, estrear no circuito comercial brasileiro. O mesmo vale para Nosso Pai (Abouna, 2002), o mais en-cantador filme de Haroun, e Temporada de Seca (Daratt, 2006), o mais impactante. Haroun o melhor realizador africano da atualidade e representante solitrio da cine-
Souleymane Dm em
Grigris (2013)
Grigris
* Texto originalmente publicado
na Revista Interldio
(www.revistainterludio.com.br) e
gentilmente cedido pelo autor.
Resqucios de Belezapor Heitor Augusto
-
18 frica, Cinema
teza de quem o mrito tambm achou Souleymane Dm, o danarino que protagoniza o longa. S a firmeza de seu olhar profundo e o timbre de sua voz, que equili-bra ternura, carncia e determinao j vale a experincia de assistir GriGris. Uma vez mais o diretor efetiva a inte-rao de quem no tem experincia na atuao Dm com atores slidos que acompanham Haroun h tempos, como Marius Yelolo.
Por outro lado, rende-se a chaves, promovendo uma identificao entre eles prxima ao primrio. A mais gra-ve e que est justamente no centro do filme a aproxima-o dos excludos. GriGris, o danarino, manco (possi-velmente teve paralisia infantil). Seu reinado s existe na pista de dana, onde ele domina. Fora dela, no consegue emprego sequer como criminoso. Por quem ele se apai-xona? Por uma prostituta! Linda, por sinal, que quer ser o qu? Modelo. E, obviamente, vive a rejeio.
Esse chavo dos rejeitados s no mais bvio do que a caada dos bandidos no final. Mas ao mesmo tempo em que o filme se enfraquece pela obviedade do roteiro, ele surpreende ao preferir um final feliz dentro das possi-bilidades dos personagens e especialmente pelo belssi-mo plano da dana, que oferece fantasia e quebra a toa-da naturalista.
GriGris um impasse como cinema. Por um lado, forte-mente belo, encantador e honesto; por outro, ancorado no arqutipo. A esperana que o espectador encontre res-qucios de beleza em GriGris e v descobrir o restante dos filmes de Haroun, pois uma experincia gratificante.
matografia chadiana, cuja dependncia da antiga metr-pole para a produo e do selo legitimador dos festivais europeus tornam ainda mais complexo falar de identida-de local e autenticidade um seno bastante comum no continente. Essa problematizao como falar de pro-duo local sendo que at a lngua adotada a do coloni-zador? compartilhada por diversos pensadores afri-canos, sendo Ferid Boughedir um dos principais.
Mas esta outra discusso difcil de encerrar neste tex-to que pretende focar-se em GriGris, o mais recente e, disparado, o mais fraco de Haroun. Como de costume, ele filma bem. O quadro composto com segurana e h nuances no comportamento da cmera, transitando do plano fixo mais frio cmera na mo que se assume per-sonagem interagindo com os atores.
Haroun ou sua produo, j que no podemos ter cer-
S a firmeza de seu olhar profundo e o timbre de sua voz, que equilibra ternura, carncia e determinao j vale a experincia de assistir GriGris.
Mahamat-Saleh Haroun e sua equipe no set de Grigris (2013)
-
19 fortuna crtica
-
20 frica, Cinema
-
21 fortuna crtica
Cantos eUivos deResistnciapor Pablo Gonalo
Um filhote de veado corre pelas areias, num deserto, fu-gindo, desesperado, enquanto, em off durante esse tra-velling lateral , ressoam tiros de metralhadoras, encadea-dos e simtricos. O plano expressa velocidade, dinmico, mas, curiosamente, nos seus detalhes, parece um tanto lento, como se denunciasse um delay como se suplicasse por uma pausa, por um respiro, para que os tiros ausentes no invadam a cena. Vem o corte, os tiros chegam e atin-gem totens africanos figuras de madeira que so dila-pidadas, furadas, e se desfiguram no ritmo cinematogr-fico das balas. So tiros que no alvejam pessoas, que no ferem nem sangram; tiros sem corpos, automticos; tiros sem sujeitos, que miram mais do que os objetos; proj-teis que querem aniquilar os valores carregados e trans-mitidos por aquelas esculturas. Estamos, claro, diante das duas primeiras sequncias de Timbuktu, de Abderrahmane Sissako, e ambas as cenas, justapostas, sintetizam o cerne
Timbuktu (2014)
Timbuktu
*Texto originalmente
publicado na Revista Cintica
(www.revistacinetica.com.br) e
gentilmente cedido pelo autor.
-
22 frica, Cinema
Satima passa a cena lavando os cabelos ao lado de uma bacia dgua, diante do deserto. Ela est em casa, diz, e no convidou ningum. Se no quiser ver o seu rosto, pro-voca, que v embora.
Timbuktu fortemente temperado por esse tipo de co-ragem, que pulula em diversos planos do filme. Zabou (Kettly Noel) a personagem icnica dessa perseverana. Como uma contra-mola que resiste, com a face alegre mostra, ela veste roupas cheia de cores, destoa, e interpela os soldados terroristas. Em um francs enftico, manda- os merda. Tem trejeitos de bruxa, ares xamnicos, per-versos, e ironiza, e satiriza, e debocha, e paira com a for-a de uma aura original. Mais do que denunciar as regras absurdas dessa ortodoxia, Sissako testemunha um teatro de resistncia, um teatro do cotidiano que tenta destituir o significado de cdigos sem sentido.
Esse teatro acaba por atingir os prprios terroristas. Embora o futebol seja proibido, alguns desses sunitas, de turbante e com armas em punho, discutem sobre Messi, Zidane e a Copa do Mundo de 1998. Instantes depois, eles acompanharo o julgamento de um grupo, condenado a dezenas de chibatadas por ter jogado futebol. Paralela-mente resistncia, portanto, h dissimulao, cinismo e oportunismo, como se existissem mediaes mais com-plexas e bem distantes de polos apenas contrrios e anta-gnicos. Num contraponto, Sissako cria uma cena potica: os habitantes de Timbuktu jogam uma partida de futebol com traves dos dois lados, dois times, movimentos, dribles e faltas, mas, sintomaticamente, falta a bola, e, com essa ausncia, os jogadores chutam areia ao vento. Indireta-mente, a cena remete sequncia final de Blow Up De-pois Daquele Beijo (1966), de Michelangelo Antonioni, na qual mmicos jogam uma partida de tnis sem bola. Con-tudo, mais do que uma fbula sobre o cinema e a imagem, Sissako, no seu retrato desse povoado, quer revelar as sub-verses e teimosias inerentes aos hbitos culturais. Mes-
do intricado contraponto tecido pelo diretor. H, de um lado, a nsia por uma fuga, a vontade um tanto incua de escapar, mas que urge, que grita, que necessria. Do ou-tro lado, h uma inquietao em flagrar imagens que per-sistem, que perseveram e preservam sentidos e valores, a despeito dessa violncia insistente em sufoc-los.
Como nas suas obras anteriores, Sissako ergue sua dra-maturgia visual em pequenos vilarejos no deserto da Mau-ritnia. So povoados que permitem uma vida simples, de caa, pesca, coleta, e um cotidiano em harmonia com as areias do deserto, a vasta paisagem, a luz adusta e o ven-to que sopra e espalha as pegadas dos seus personagens. Timbuktu o nome desse povoado, mas aqui a maior no-
vidade dramtica est na insero de um grupo de terro-ristas palavra com teor ocidental islmicos e orto-doxos que, com armas em punho, regem o dia a dia do povoado. Os habitantes vale dizer no so exata-mente rabes, mas mouros, meio rabes, meio africanos convertidos ao islamismo, e por isso, talvez, interajam com os invasores entre farsas e sabotagens, frente s inmeras regras que destoam de suas heranas e convic-es culturais. O filme instala-se nesse entre-lugar pre-ciso, fronteirio, entre uma ortodoxia na etimologia de regras restritas, sem excees e leis que no reverbe-ram como legtimas.
Nos minutos iniciais, gestos sutis revelam o reverso dos hbitos islmicos: alguns terroristas entram armados num ambiente de preces e, diante do acontecimento, um dos fiis pede para que eles se retirem. Nesse decoro, re-zas no rimam com rifles. Em outra cena, um dos terro-ristas vai at a casa de Satima (Toulu Kiki), me de Toya (Layla Walet) e casada com Kidane (Pino). O terrorista fica encantado com ela e, num gesto ambguo, de fascnio e (falso) pudor, exige que ela cubra o rosto. Destemida, ela responde que no vestir o vu. Com pacincia e orgulho,
Mais do que denunciar as regras absurdas dessa ortodoxia, Sissako testemunha um teatro de resistncia (...)
Sissako, no seu retrato desse povoado, quer revelar as subverses e teimosias inerentes aos hbitos culturais.
-
23 fortuna crtica
mo sem uma bola, mesmo proibido, resiste um prazer de jogar que arma nenhuma estiola.
Gritadas todos os dias por um alto falante, num torpor medieval de governar os indivduos, as regras do alcoro no so unilateralmente incorporadas, mas traduzidas, ressignificadas, como os liames das quatro lnguas faladas na regio (o dialeto hassanya, o rabe, o francs e o in-gls), gerando situaes indefinidas, fronteirias. Em Tim-buktu, h objetos que parecem fora do mapa daquele po-voado como as armas, os celulares, os computadores, as ondas da internet que chegam to rpido como desapare-cem e que, no entanto, remapeiam as relaes, reconec-tam a densa teia do dia a dia. As imagens e os dramas vi-vidos pelos personagens de Abderrahmane Sissako, assim, situam-se entre cancelas e horizontes, entre formas de in-terditar, de colocar limites, de impor a fora, e formas ou-tras, mais sutis, de modificar, de passar alm e transgre-dir. Essas fronteiras emergem, teimosamente, a despeito do deserto que as acolhe.
Assim, entre rudos de comunicao, Sissako revela, aos poucos, como a violncia se instala, como a lei, com va-gar, vivida, experimentada, e consegue se impor. O nome da fora, portanto, tambm tem trejeitos teatrais. No por acaso, pela justia, como farsa e como modo dramti-co, que a lei, de fora para dentro, se efetiva. nesse mote que as torturas surgem: como encenaes pblicas, insg-nias de um poder incipiente, mas que no fraqueja. Rostos apedrejados, corpos soterrados, chibatadas, execues. Todos veem, sentem e so impelidos a baixarem a cabe-a. Numa das cenas mais fortes do filme, uma moradora condenada a quarenta chibatadas por estar cantando, noite, de forma descontrada, junto a amigos, em sua casa
(uma linda cano, diga-se de passagem). Ao ser punida, ela volta a cantar, em ato, no instante da porrada. Mais do que um sentido meldico, o canto o local de plenitude, o local da resistncia.
Por outro lado, possvel delinear tambm uma trama, que conta a histria da famlia de Kidane e do seu empe-nho vo em impor justia onde no h. Muito exterior e alegrico, tecido de fora para dentro, esse plot acaba ren-dendo os momentos menos empolgantes de Timbuktu. Em algumas sequncias, quase se descamba para o mau melo-drama, enfatizando emoes que envolvem a filha, a he-rana, a sucesso e o abandono. Na cena final, a escolha de Kidane no ecoa como um canto arraigado de resis-tncia ou transformao, mas destoa, num af solipsis-ta, junto aos uivos pouco harmnicos dos camelos que acompanham o instante.
No entanto, mesmo que a trgica luta de Kidane seja pouco convincente e suas falas soem foradas, seu desen-lace no alcana o proscnio nem retira o protagonismo do complexo e convincente cenrio que Sissako arquite-ta. Quando surge, o melodrama apenas tangencia a for-a do local e no atenua a intricada dramaturgia desse vi-larejo prximo ao deserto do Saara. Em Timbuktu, no h maniquesmos, mas impasses; e os paradoxos e as opo-sies permanecem numa tenso imanente ao quadro, j que no arriscam sntese alguma. No h dicotomias en-tre culturas superiores e culturas dominadas, mas modos de vidas que esto, todo dia, numa incessante e comple-xa interao. Veem-se culturas em frico em conflitos fsicos, em moto-contnuo. So as fascas do choque, suas luzes velozes e volteis, que Sissako to bem desperta, re-gistra, capta e poetiza.
Timbuktu (2014)
-
24 frica, Cinema
-
25 fortuna crtica
Frustraoe Esperana
por Rafael Saraiva
Muito se discute sobre a complexa questo dos imigrantes africanos em solo europeu e o impacto cultural, econmi-co e social que tais migraes causam no velho continen-te. Mas quem de verdade so essas milhares de pessoas que decidem abandonar seus lares e pases de origem em busca de uma vida melhor em outro continente? So al-gumas dessas histrias que O Barco da Esperana preten-de contar. Seu primeiro ato dedicado a apresentar tais personagens, um pouco de suas vidas ainda em territrio senegals e seus mais distintos sonhos que os motivam a partir: h os que querem se tornar msicos de sucesso, ou-tros jogadores de futebol, e aqueles que apenas objetivam trabalhos em plantaes. Uns deixando famlia para trs, outros com olhos apenas para o futuro. Muitas diferenas, mas todos unidos por uma esperana incerta depositada no destino (ainda assim, curioso ver uma personagem consciente do momento de crise pelo qual a Europa atra-vessa). Tambm interessante notar o modo sbrio como a capital Dacar retratada com seu povo humilde e di-versos problemas ali retratados, claro, mas sem aquele olhar de "pena" to caracterstico de diretores estrangei-ros (Moussa Tour nascido no Senegal). um local em movimento, pulsante, onde as pessoas trabalham e coe-xistem, enfim, vivendo em sociedade.
O Barco da Esperana (2012)
O Barco da Esperana
*Texto originalmente publicado
no site Coisa de Cinema
(www.coisadecinema.com.br) e
gentilmente cedido pelo autor.
-
26 frica, Cinema
o capito da embarcao, com a gigante responsabilidade de guiar aquela frgil piroga pelo oceano Atlntico; Nafy, a nica mulher a bordo, que entrou como clandestina; e Lansana, uma espcie de "feitor" do barco, responsvel pela ordem e planejamento/gerenciamento da misso. O roteiro consegue evitar que eles caiam em alguns lugares fceis: seria conveniente demais transformar Baye Laye em um grande heri infalvel, ou reduzir Lansana a um mero vilo, mas felizmente isso no acontece, e fcil se envolver emocionalmente com os dramas que eles vivem. S uma pena que nem todos os personagens recebam o mesmo tratamento, sendo pouco explorados (mas uma deciso compreensvel para evitar problemas de ritmo).
E se a simples convivncia j seria um grande desafio, o que dizer do (talvez) maior antagonista de todos, a natu-reza? O mar e seu horizonte a perder de vista. O calor in-cessante dos dias, o frio das noites. As tempestades e as guas revoltas. Esses fatores, somados a total precarieda-de da piroga (com sua comida racionada, combustvel li-mitado e motores no confiveis), do toques de terror viagem. E quem j viu algum filme envolvendo os elemen-tos acima pode adivinhar o que O Barco da Esperana re-serva para seus passageiros mas mesmo no trazendo nada de novo, essas situaes so bem executadas, tan-to tecnicamente (a cena da tormenta bem feita para um filme de oramento aparentemente limitado) quanto dra-maticamente ( impossvel no ficar pesaroso com o mo-mento em que os personagens se deparam com um barco deriva, e tem que tomar a cruel deciso de passar direto, sem prestar socorro).
Por tudo isso, uma pena que os atores nem sempre al-cancem o nvel emocional que a histria pede, sendo tal-vez o grande ponto fraco do longa. Certas falas parecem simplesmente recitadas sem muito capricho, e alguns di-logos soam artificiais. Mas no suficiente para arranhar a boa impresso deixada por esse belo filme, retrato da dura jornada vivida por dezenas de milhares de africanos que j tentaram fazer essa mesma travessia, muitas vezes sem sucesso, sucumbindo diante das inmeras adversida-des. Algo que muito bem resumido pela tocante sequn-cia final, que mistura a frustrao e a esperana to cons-tantes e presentes na vida daquelas pessoas.
Mas o filme s engrena de verdade a partir do momen-to em que aquelas trinta (ou 31, como eles descobrem em certo ponto da viagem) pessoas sobem a bordo do Goor Fitt, um grande mas extremamente precrio barco de madeira (a piroga do ttulo original) rumo Espanha em uma viagem estipulada para sete dias de durao. E da em diante, no s a terra firme deixada para trs, mas qualquer vestgio de civilizao, e esse ambiente espacial-mente limitado torna-se o microcosmo vigente. Um grupo heterogneo, no apenas composto de senegaleses, mas de imigrantes de outras nacionalidades africanas tambm, com costumes, lnguas e religies diferentes. Um prato cheio para inevitveis atritos, ainda mais em uma situao extrema como essa. E dentre eles se destacam Baye Laye,
E se a simples convivncia j seria um grande desafio, o que dizer do (talvez) maior antagonista de todos, a natureza?
O Barco da Esperana (2012)
-
27 fortuna crtica
-
28 frica, Cinema
-
29 especial
O Cinema Poltico Africano e o Direito de Narrar
por Marcelo Rodrigues Souza Ribeiro
O conceito de cinema polticoUma das tendncias mais importantes dos cinemas africa-nos , sem dvida, a do chamado cinema poltico. A deno-minao cinema poltico no est isenta de problemas afinal, que critrios podem orientar a classificao? e remete, em ltima instncia, prpria definio de pol-tica e, portanto, aos lances do jogo etimolgico que liga a forma clssica da polis grega s formas contemporne-as de coletividade (em diversos nveis que, hoje, tendem a tomar o enquadramento nacional como referncia, embo-ra no se reduzam a ele). Entretanto, apesar dos proble-mas, o conceito de cinema poltico permanece relevante, desde que seja deslocado.
Uma das objees mais radicais ao conceito (no senti-do de atacar suas razes, seus fundamentos) costuma to-mar a forma de uma generalizao: todo cinema pol-tico. No entanto, partir de um conceito amplo de poltica e dizer que todo cinema poltico pode nos impedir de compreender as configuraes cinematogrficas da ques-
Bamako (2006)
*Uma verso inicial desse texto foi publicada em 08/04/2011 na
Revista Amlgama (http://www.revistaamalgama.com.br/04/2011/
o-cinema-politico-africano-e-o-direito-de-narrar/) e reproduzida em
http://www.incinerrante.com/textos/o-cinema-politico-africano-e-
o-direito-de-narrar.
-
30 frica, Cinema
trio) para uma concepo generalizada da poltica como construo de um mundo comum. Assim, o cinema pol-tico no designa apenas o conjunto de filmes que retra-tam a esfera da poltica (no sentido restrito) e os polticos como o caso do contundente Xala (Ousmane Semb-ne, 1975) nem tampouco os filmes que abordam temas geralmente discutidos na esfera da poltica (isto , obje-tos de polticas pblicas governamentais, tanto em mbito nacional quanto internacional) como o caso do igual-mente contundente Moolaad (Ousmane Sembne, 2004). Com efeito, a intensidade poltica desses e de outros filmes do senegals Ousmane Sembne resulta, em parte, do fato de no abordarem a poltica como esfera separada, impe-dindo sua sacralizao como espao decisrio.
Precisamos devolver ao cinema sua potncia poltica. Em primeiro lugar, preciso saber em que consiste a po-tncia poltica do cinema de todo cinema incluindo, entre outros tipos de filmes, as comdias romnticas mais individualistas (afinal, o pessoal o poltico) e as fices
to da poltica, simplesmente por tornar impossvel reco-nhec-las. No se trata de saber o que define restritiva-mente o cinema poltico como se fosse possvel aplicar critrios temticos para classificar um filme como polti-co ou no, de acordo com uma concepo bastante usual da poltica como esfera separada da vida coletiva (isto , a poltica como governo). Sem dvida, a fora dessa con-cepo se deve adeso, muitas vezes cega, aos discursos dominantes nas democracias representativas ocidentais, que diferenciam formalmente a poltica da arte, da eco-nomia ou da religio, entre outras, e neutralizam, dessa forma (pelo desconhecimento e pela recusa de reconheci-mento), as mltiplas zonas de indeterminao em que as esferas da vida coletiva se indiferenciam.
Um dos sentidos do deslocamento necessrio para o conceito de cinema poltico consiste na passagem de uma concepo restrita da poltica como esfera separada (isto , simplesmente, o governo, no sentido de atividade gover-namental que se realiza sobre as populaes de um terri-
Abderrahmane Sissako no set de Bamako (2006)
-
31 especial
da poltica da narrativa como condio originria de sua prpria existncia. justamente o que est em jogo no fil-me Bamako (2006), de Abderrahmane Sissako, que faz so-prar novos ares na tradio mundial do cinema poltico ao construir e desconstruir, ao mesmo tempo, um dispositivo ficcional: o julgamento de um processo da sociedade civil africana (representada pelo povo do Mali) contra as ins-tituies financeiras internacionais (representadas pelo Banco Mundial e pelo Fundo Monetrio Internacional) e suas polticas de ajuste estrutural, seus ditames econmi-cos sabidamente desastrosos, seu papel reconhecidamente problemtico na promoo global da insustentabilidade.
O processo se passa no quintal de uma casa em Bamako, e esse cenrio que a casa do pai de Sissako exempli-fica um recurso importante do cinema do diretor: a auto-biografia, que, para ele, deve se desdobrar como abertura para o outro. O dispositivo elaborado pelo diretor consiste em trs cmeras fixas destinadas captao do julgamen-to uma voltada para a corte, duas voltadas para a ban-cada de testemunhas (uma frontal e outra lateral) e em uma cmera em movimento que passeia pelo quintal, mostra ngulos diferentes da corte, dos advogados e das testemunhas, registra os movimentos da plateia e as in-meras irrupes do cotidiano que interrompem o proces-so, introduzindo seu ritmo mundano na mecnica regra-da do julgamento e se fazendo registrar, igualmente, pelas cmeras fixas. Entre os diversos elementos do cotidiano, adivinham-se os traos sugestivos, embora incompletos, de outras memrias de gnero, suplementando o filme de tribunal: um melodrama familiar se desenrola entre Mel e Chaka, um casal cuja filha est doente e cuja relao pas-sa por uma crise profunda, enquanto um detetive realiza uma investigao policial em torno do sumio ou do rou-bo de uma arma. Entre os fios narrativos articulados, que
cientficas mais apocalpticas (afinal, se a poltica como esfera separada se preocupa com o futuro previsvel do planejamento governamental, a poltica irrestrita se in-teressa no porvir como advento, sempre monstruoso, do novo). Contudo, em vez de dizer simplesmente que todo cinema poltico (arriscando um esvaziamento da ques-to da poltica que corresponde, como seu oposto com-pleto, sua separao), preciso reconhecer que, se todo cinema tem (ou pode ter) efeitos polticos, na medida em que existe no mundo comum, o cinema poltico consiste num certo tipo de cinema (e no todo cinema): aquele que se engaja no questionamento e na explorao de seu pr-prio carter poltico. Se, do ponto de vista de seus efeitos, todo cinema potencialmente poltico (porque pode pro-duzir efeitos no mundo comum que compartilhamos), do ponto de vista de sua intencionalidade e, principalmen-te, de suas caractersticas estticas, s poltico o cinema que interroga e intensifica a sua prpria potncia poltica, disseminando sua deriva interrogativa.
Bamako como cinema polticoUm dos propsitos mais recorrentes dos cinemas africa-nos consiste na busca de outras imagens da frica e de suas paisagens culturais. Diante do exotismo colonialis-ta que se prolonga no regime ocidentalista de escritura da frica e se investe com o que Edward Said denomina poder de narrar (e, portanto, de excluir outras narrati-vas), os cinemas africanos tm como impulso originrio, mesmo que eventualmente subterrneo e inconsciente, a reivindicao do direito de narrar. Eis a sua condio pol-tica originria. No entanto, se todos os cinemas africanos carregam a potncia poltica da reivindicao do direito de narrar, o cinema poltico africano pode ser identifica-do naqueles filmes que interrogam e exploram a questo
(...) os cinemas africanos tm como impulso originrio, mesmo que eventualmente subterrneo e inconsciente, a reivindicao do direito de narrar.
-
32 frica, Cinema
busca por profissionais do direito se acrescentou a busca por testemunhas, que foi feita, sobretudo, junto a associa-es. Por fim, as pessoas da cidade foram convidadas para o julgamento, cujos depoimentos assistem de dentro do quintal ou escutam do lado de fora, e cujos trmites igno-ram, interrompem ou respeitam, enquanto aguardam ou antecipam seu desfecho.
A partir de suas trajetrias e de seus conhecimentos, os depoimentos que as testemunhas oferecem movimentam diversas questes cruciais para as polticas governamen-tais contemporneas (remetendo concepo restrita de poltica da modernidade): a produo agrcola e industrial e a organizao dos mercados nacionais e internacionais; as privatizaes, o papel dos Estados nacionais e seu des-monte no contexto do neoliberalismo; as migraes e as experincias de deslocamento que povoam as faces da Terra. A escritora Aminata Dramane Traor, ex-Ministra da Cultura do Mali, argumenta que a frica vtima de suas riquezas, e no da pobreza. Madou Keita narra uma experincia trgica de migrao atravs do deserto. O pro-fessor Georges Keita discute as economias nacionais dos
permanecem disjuntos, o que se entrev so os afazeres e os acontecimentos mais variados que compem um pano-rama do cotidiano mulheres tingindo tecidos, crianas brincando e chorando, a celebrao de um casamento etc.
No julgamento, a parte civil representada por uma equipe encabeada pela senegalesa Assata Tall Sall e pelo francs William Bourdon, enquanto a defesa fica por con-ta da equipe do burquinab Mamadou Savadogo, do ma-liano Mamadou Konat e do francs Roland Rappaport. So advogados e advogadas profissionais que interpretam a si mesmos como outros, assumindo posies na tece-lagem da fico do processo, como atores no-profissio-nais (o que exemplifica, de forma contundente, a herana neorrealista que marca o cinema de Sissako). curioso o exemplo de Roland Rappaport: no filme, ele o respons-vel pela argumentao final da defesa das instituies fi-nanceiras internacionais; fora do filme, sua atuao como advogado o aproxima justamente da posio contrria, de questionamento do papel dessas instituies no mundo contemporneo. A corte composta pelo presidente do tribunal, Hamye Foun Mahalmadane, assessorado por Mariam Ciss, Alou Diarra e Oumou Berith Diakit.
Estados africanos e seu papel nos problemas que os pases do continente enfrentam. Samba Diakit recebe a palavra para ser ouvido pela corte, mas, depois de dizer seu nome e outras informaes exigidas pelo protocolo, permanece calado sobre todo o resto, com um silncio ensurdecedor. Assa Badiallo Souko denuncia as polticas de privatizao em meio ao neocolonialismo das multinacionais.
Em Bamako, o aparelho cinematogrfico acolhe um acon-tecimento singular, abrigando na fico no cerne do falso que existe apenas para aparecer na tela uma potncia po-ltica que permanece contida, silenciada e neutralizada na realidade jurdico-poltica em que nos encontramos. Em Bamako, o cinema comea a fazer justia, suplementando
Em Bamako, o cinema comea a fazer justia (...)
Filmagem da cena do julgamento em Bamako (2006)
-
33 especial
a injustia perpetrada pelas instituies que se inscrevem paradoxalmente sob o signo da justia, da humanidade e da cooperao internacional. A justia que se faz pelo ci-nema e que permanece interminvel, por vir encontra seu impulso primeiro no desejo de dar uma outra imagem da frica (e do mundo) e na reivindicao de um direito de narrar. Esse desejo e essa reivindicao constituem no apenas a condio originria dos cinemas africanos, como afirmei acima, mas tambm temas centrais que atraves-sam Bamako e ligam os depoimentos das testemunhas, o julgamento como dispositivo, as interrupes que o coti-diano acarreta entrelaando todos os fios da narrativa.
O julgamento se abre antes mesmo de comear ofi-
cialmente, conforme o protocolo com a questo da pa-lavra, de sua potncia e de sua ddiva interdita: o campo-ns Zegu Bamba se dirige corte sem que lhe tenha sido dada a palavra e tem sua participao interditada pelo tri-bunal. A palavra interdita no incio isto , proibida, mas, tambm, dita nas margens, nos interstcios, nos interva-los do processo da histria assombra todo o julgamento, at que, mais frente no filme, seu fantasma toma corpo numa irrupo, interrompendo os trmites protocolares: com um canto inesperado, entre o pleito final da defesa e aquele da parte civil, Zegu Bamba faz soar uma lngua que, para a maioria dos espectadores do filme, permane-cer estrangeira (pois Sissako no oferece qualquer legen-
O ator norte-americano Danny Glover em Bamako (2006)
-
34 frica, Cinema
de ajuda humanitria e solidariedade transnacional que se associam cada vez mais a intervenes militarizadas como se o outro no fosse capaz de agir por si mesmo, de modificar suas condies e de lutar contra os problemas que o afetam, precisando por isso de ajuda externa.) A vio-lncia gratuita dos cowboys, que assassinam um dos dois professores de um povoado (pois dois demais, como di-zem), remete situao recorrente, na frica ps-colonial, de privatizao do poder por figuras de autoridade que, em geral, se beneficiaram de sua atuao poltica nacionalis-ta na luta pela independncia e se converteram em ditado-res que orientam seus governos para seus ganhos pessoais.
sobre o pano de fundo da condio ps-colonial na frica que pode se tornar legvel o sonho de Samba Diaki-t, contado a Fod e a Jean-Paul do outro lado do muro do quintal, depois de cortado o som do auto-falante que transmite o julgamento: Eu tenho toda noite um sonho que me perturba. [...] Eu estou na escurido a luz Em todo caso, no estou em casa. Nesse sonho, estou senta-do e, diante de mim, h um grande saco. Ele est cheio de cabeas de chefes de Estado. Cada vez que eu mergulho minha mo l dentro, a mesma cabea que eu pego. E quando eu a coloco de volta, meu sonho acaba e eu acor-do. [...] Eu no sei se um negro ou um branco. Em todo caso, a mesma cabea. Exterior ao julgamento, o sonho perturbador de Samba Diakit tem como objeto central os chefes de Estados africanos, que so mencionados literal-mente nos depoimentos e aparecem metaforicamente (ao menos na minha leitura) como parte do pano de fundo que d sentido a Death in Timbuktu. Sem pretender interpre-
da), exceto pela meno a ela no pleito da parte civil. Em todo caso, na bancada de testemunhas que represen-ta, no dispositivo do julgamento, o lugar da transparn-cia comunicativa da palavra o canto de Zegu Bamba introduz a opacidade incompreensvel de uma estrangei-ridade. Assim como o canto de Zegu Bamba, a narrativa de Madou Keita e o silncio de Samba Diakit introduzem na bancada de testemunhas o tema do direito de narrar.
Outra instncia do tema do direito de narrar o faroeste Death in Timbuktu, em que o prprio Sissako, o diretor pa-lestino Elia Suleiman, o ator estadunidense Danny Glover, o diretor congols Zeka Laplaine e outros representam uma estranha pardia dos filmes de faroeste que povoam a imaginao cinematogrfica mundial e que constituem uma das heranas mais marcantes de Hollywood. Reuni-dos diante da televiso, crianas, homens e mulheres as-sistem ao trecho de um filme inexistente. Segundo Sis-sako, Death in Timbuktu foi uma maneira de mostrar que os cowboys no so todos brancos e que o Ocidente no o nico responsvel dos males da frica. Ns temos tam-bm nossa parte de responsabilidade. A interpretao do diretor revela outra dimenso da questo do direito de nar-rar: juntamente com reivindicao da possibilidade de nar-rar sua prpria histria e de que ela seja reconhecida por outrem, o direito de narrar codifica, em Death in Timbuk-tu, a possibilidade de assumir a responsabilidade por sua prpria histria. (Um lado perverso e ambivalente do hu-manismo ocidental consiste justamente na vitimizao do outro que se pretende salvar desde a misso civiliza-dora que alimentou o projeto colonial at os discursos
A justia que s o cinema se revela capaz de fazer, de criar, no dispositivo fictcio elaborado por Sissako, no equivale a uma representao da justia institucional
-
35 especial
tar de forma mais sistemtica o contedo manifesto que as palavras de Samba Diakit reconstituem como seu sonho recorrente, seu pesadelo assombroso, que o assola a cada noite, possvel dizer que se trata de um dos elementos vi-tais (sejam fictcios ou no, pouco importa) que transbor-dam o enquadramento do dispositivo fictcio do julgamen-to, num movimento crucial para a compreenso do filme.
A justia que s o cinema se revela capaz de fazer, de criar, no dispositivo fictcio elaborado por Sissako, no equivale a uma representao da justia institucional (isto , encenao de um julgamento convencional, mesmo que imaginrio), ultrapassando incessantemente suas fronteiras. Para fazer justia, o aparelho cinemato-grfico deve se manter aberto: o filme s constri a fic-o na medida em que desconstri seu dispositivo, abri-gando inmeros traos da vida que pulsa no cotidiano, no sonho de Samba Diakit, nos tecidos que as mulhe-res tingem, nas crianas que passeiam pelo quintal, no bar ao som das msicas cantadas por Mel. A construo da fico do julgamento se entrelaa com a desconstru-o de seu dispositivo, impulsionada pelas irrupes da vida, isto , pelo que acontece e isso inclui, em ltima instncia, a morte. o que se passa entre Mel, seu ma-rido Chaka e sua filha Ina, delimitando um eixo melodra-mtico que atravessa o filme e, embora no tome conta de seus ritmos, d a seu desfecho um peso simblico, talvez insuportvel. Diante da morte, o cinema de Abderrahma-ne Sissako assume, em Bamako, a tarefa poltica de ima-ginar a vida possvel, apesar de tudo.
Marcelo Rodrigues Souza Ribeiro professor, pesquisador e crtico de cinema e cultura visual. Escreve e edita o siteincinerrante.com. Atua tambm como curador de mostras e festivais. Graduado em cincias sociais e mestre em antropologia social, desenvolve, atu-almente, pesquisa de doutorado sobre cinema, direitos humanos e cosmopolitismo no Programa de Ps-Graduao em Arte e Cultura Visual da Universidade Federal de Gois.
-
36 frica, Cinema
Licnio Azevedo no set de Virgem Margarida (2012)
36 frica, Cinema
-
37 especial
Um dos destaques presentes na Mostra frica, Cinema Um Olhar Contemporneo o filme Virgem Margari-da (2012), vencedor do Festival de Amiens, que tem na di-reo o brasileiro Licnio Azevedo. Nascido em Porto Ale-gre e formado em jornalismo, o cineasta se radicou em Moambique onde teve aulas com Jean-Luc Godard e tra-balhou com Ruy Guerra. Em entrevista exclusiva, Licnio fala sobre sua formao, o cinema moambicano e reflete a respeito de Virgem Margarida.
Como foi o seu incio de carreira?Licnio Azevedo: Trabalhei para vrios jornais brasilei-ros, sobretudo da imprensa independente da poca, de oposio ditadura militar: Coorjonal, Movimento, Ver-sus Tambm fiz muitas reportagens, como independen-te, para jornais como Jornal da Tarde (So Paulo) terre-moto da Guatemala em 76, onde eu me encontrava com o meu colega Caco Barcellos, e vrios outros. Muitas re-portagens sobre a realidade poltica e social da Amrica
por Leonardo Luiz Ferreira
37 especial
-
38 frica, Cinema
O quanto o trabalho com Ruy Guerra e Jean-Luc Go-dard foram importantes na sua formao? Toda a minha ligao com Gordard e Ruy terica, apesar de que participei vagamente em alguns filmes moambi-canos do Ruy, como escritor, assistente ou qualquer coi-sa do gnero. Godard me ensinou que cinema contabili-dade: filmar um minuto e montar um filme de dois. Claro, com o vdeo, a era digital, isto foi um pouco superado. Mas sempre um belo exerccio a ser feito por algum que quer fazer cinema. Com Ruy, alm de ser uma pessoa que admiro muito, aprendi a ligar a realidade fico. Virgem Margarida baseado em fatos reais ocorri-dos em 1975 em Moambique. O filme discute diver-sos temas, como feminismo, preconceito e machis-mo. Como foi a construo do roteiro e o que mais lhe atraa na histria?A ideia do filme surge-me, como documentrio, a partir de uma foto do meu amigo Ricardo Rangel, o grande fot-grafo moambicano, da gerao do Ruy Guerra, que fale-ceu h uns cinco anos. Um dia mostrou-me uma foto: uma mulher, prostituta, de minissaia, escoltada por dois mili-tares, guerrilheiros recm-sados da guerra pela Indepen-dncia. Era o comeo da operao que tinha como objetivo levar todas as prostitutas, smbolo da decadncia e explo-rao colonial, para centros de reeducao no interior do pas, no meio da selva, entre animais selvagens, para se-rem transformadas em mulheres novas. Eu prprio, ul-tra-idealista na poca, julgava aquele processo algo de positivo. Rangel deu o nome foto, A ltima Prostitu-ta, mas de maneira bastante irnica. A foto me inspirou para um documentrio que fiz, com o mesmo ttulo, do-cumentrio bastante tradicional, baseado em entrevistas com reeducandas e reeducadoras (ex-combatentes) pois o tema, na poca, no permitia grandes fantasias. No docu-mentrio, com os depoimentos das reeducandas, sobretu-do, me dei conta do que realmente havia acontecido em nome das boas intenes, todo o lado machista, etc Um homem entre 500 mulheres. Elas contaram-me a hist-ria de Margarida, uma camponesa adolescente que foi le-vada por engano para o centro de reeducao A histria de Margarida, para mim, merecia uma fico e no alguns minutos de documentrio.
Latina, com o sonho de uma Amrica Latina unida, que era o nosso sonho daquela poca. Na poca, era proibido pela censura publicar informaes sobre as guerras pela Independncia que eram travadas em Angola, Moambi-que, Guin-Bissau, contra o colonialismo portugus. Mas ns, como jornalistas, acompanhvamos a evoluo des-tas guerras atravs das informaes das agncias inter-nacionais de imprensa. Quando estes pases se tornaram independentes, como eu j conhecia toda a Amrica La-tina, resolvi conhecer os nossos irmos do outro lado do Atlntico. Estive primeiro na Guin-Bissau, como jorna-lista, e escrevi um livro com relatos da guerra pela sua In-dependncia. Ruy Guerra, conhecendo o livro, convidou-me para ir com ele para Moambique, em 1977, para onde fora convidado para apoiar a criao do Instituto Nacio-nal de Cinema. Fui como jornalista, escritor, e foi como tal que entrei no cinema, aos poucos. S comecei a dirigir filmes, pequenos filmes, j em vdeo, nos anos oitenta. A Ebano a mais antiga produtora moambicana, criado h mais de vinte anos, por um grupo de cineastas e cinfilos, entre os quais eu prprio. Como produtora, a Ebano j fez mais de 50 documentrios, filmes educativos, e coprodu-o de algumas fices, entre as quais Virgem Margarida.
Licnio Azevedo no set de Virgem Margarida (2012)
38 frica, Cinema
-
39 especial
jornalista que fui, de ter participado de uma cinematogra-fia nacional que comeou com o documentrio. O siste-ma de produo atual absolutamente dependente dos fi-nanciamentos externos.
Como os filmes so recebidos em Moambique?Moambique um pblico que aprendeu muito lendo cinema: documentrios, revoluo, identidade nacional, memria O pblico moambicano alfabetizou-se bas-tante com o cinema nacional.
A escolha da paleta de cores da fotografia varia entre tons cinzentos e terrosos. Como foi o processo de dire-o de fotografia e o quanto contribui para a histria?A fotografia tem a ver com o cinza da histrias, dos unifor-mes das reeducandas. assinada pelo Mario, o diretor de fotografia de Pai Patro (1977), de Paolo e Vittorio Taviani, com quem tive grande empatia e prazer em trabalhar.
Fale um pouco sobre o cinema em Moambique. Como o sistema de produo? O cinema em Moambique teve vrias fases, todas elas ba-seadas no documentrio. Eu poderia falar vrias horas so-bre isto, a primeira fase revolucionrio, o documentrio como instrumento poltico, de unidade nacional, etc. Foi num momento crucial para o pas, logo aps a Inde-pendncia, com o comeo das agresses armadas da Ro-dsia, depois pela frica do Sul do apartheid. Foi um per-odo de cinema ultra-engajado, necessrio, depois tivemos o cinema mais independente, com mais liberdade criati-va e temtica, que continua at hoje. Sinto orgulho, como
Virgem Margarida (2012)
Leonardo Luiz Ferreira cineasta, crtico de cinema e jornalista. Membro da ACCRJ (Associao de Crticos de Cinema do Rio de Ja-neiro), j colaborou com inmeros veculos, entre eles Contracampo, Revista Pais, Almanaque Virtual, Jornal do Brasil e Variety. Codire-tor do documentrio Chantal Akerman, de c (2010), da srie televisi-va Cinema de Bordas (Canal Brasil, 2013) e realizador e roteirista do curta Paisagem Interior (2014). Atualmente finaliza seu segundo lon-ga, NK + EP, um documentrio sobre os cineastas franceses Nicolas Klotz e Elisabeth Perceval.
39 especial
-
40 frica, Cinema
-
41 especialEntrevistacomManthia Diawarapor Leonardo Luiz Ferreira
O professor e cineasta Manthia Diawara uma das princi-pais autoridades quando o assunto cinema africano. Pro-fessor da Universidade de Nova York, onde dirige o Insti-tuto para Assuntos Afro-americanos, tem o livro African Cinema: Politics and Culture considerado como uma das referncias para pesquisa na rea. Alm deste, ele produ-ziu outras obras relacionadas ao audiovisual africano en-tre filmes, ensaios e livros. Na entrevista exclusiva, Man-thia faz um breve histrico do cinema africano, se debrua sobre a obra de Haroun e Sissako e reflete sobre os novos realizadores africanos.
Como voc definiria o cinema africano?Manthia Diawara: O cinema africano nasceu com as in-dependncias dos pases africanos, como uma misso de autorrepresentao, definir a si prprio, e como um meio artstico e espao para produo de culturas africanas autnticas. Qualquer definio de cinema africano in-O cineasta Manthia Diawara
-
42 frica, Cinema
sako, amplamente demonstram a sua dvida com Semb-ne atravs da crtica ao neoliberalismo e ajuste estrutural no primeiro, e mulumanos no segundo.
A retrospectiva no Rio de Janeiro foca na contempo-raneidade, com filmes realizados entre 2001 e 2014. O que voc pode falar a respeito do cinema africano contemporneo?Poderamos falar sobre a contemporaneidade dos filmes africanos recentes em termos de suas aberturas as estti-cas do que o chamado cinema mundial: autoria, prima-zia do espao sobre o tempo, narrativas descontnuas, e compromisso com que Gianni Vatimo chama de pensa-mento frgil. A maioria dos principais diretores, desde os anos 2000, como Sissako, Mambety, Andrew Dosumu, fi-caram distantes de uma posio poltica forte e dogmti-ca. Os filmes so conhecidos pelos belos enquadramentos e imagens de fragilidade e ludicidade. Estilisticamente, o cinema de Sissako pode ser enquadrado do mesmo modo que os filmes de Tarkovski; Zeze Gamboa utiliza atores brasileiros em seus filmes angolanos; e John Akomfrah questiona o arquivo e o ensaio sobre o estilo de filmar de muitos adeptos de Alain Rene e Chris Marker. Outra for-ma de ver esses filmes na contemporaneidade observ--los atravs de seus temas: imigrao, crtica do neolibe-ralismo e globalizao, corrupo, religio. interessante notar aqui a influncia da televiso e de curadores de fes-tivais (Cannes, Berlim) em filmes, no s da frica, mas do chamado Sul global. Os ltimos filmes de Sissako e Ha-roun foram, por exemplo, produzidos pela Arte.
No Brasil, assim como o resto do mundo, os destaques do cinema africano so os diretores Mahamat-Ha-roun e Abderrahmane Sissako. Ambos tiveram filmes lanados nos cinemas comerciais daqui, algo raro em se tratando de cinema africano no Brasil. Pode falar um pouco sobre a carreira e importncia de ambos?Ambos trabalharam bastante seu caminho dentro do cine-ma africano, absorvendo os principais temas e estilos de Sembne, Mambety, Souleymane Ciss e outros pioneiros. Eles tm um senso apurado da esttica do cinema con-temporneo, que foram universalizados atravs de gran-des festivais. Ambos tambm trabalham com grandes di-retores de fotografia e montadores, at a extenso de que no podemos mais falar sobre amadorismo ou que esto
clui os filmes feitos por diretores da frica e da Dispora africana; o uso de lnguas africanas nos filmes; e o com-prometimento particularmente na fase inicial (anos 1960) para descolonizar e criar imagens revolucionrias. O propsito do cinema africano, como da independncia dos pases, foi revelar ao mundo uma maneira nica e sin-gular dos africanos em contar histrias, enquadrar ima-gens, e definir o tempo e o espao. Algum poderia pensar nos filmes realistas socialistas de Ousmane Sembne, ou o cinema de vanguarda de Med Hondo (Soleil O, 1967), que, em contraste ao etnografismo e paternalismo das imagens de Jean Rouch, exibidas nos personagens africanos mo-dernos com interioridades psicolgicas completas, e como atores de situaes histricas e polticas emergenciais.
Como poderamos traar uma linha do tempo com fa-tos, filmes e cineastas da frica?Muitos historiadores conectam o nascimento do cinema africano ao filme Borom Saret (1963), de Ousmane Semb-ne, no porque o primeiro filme africano j feito. Existi-ram filmes anteriores feitos por diretores no Egito, Sudo e frica do Sul, etc. Mas Borom Saret foi considerado como o primeiro reflexo narrativo a pegar a identidade africa-na moderna como um objeto de estudo; ainda que ele em-pregue o discurso do novo homem/mulher como pos-tulado por Frantz Fanon, Kwameh Nkrumah, Leopold S. Senghor e Amilcar Cabral. Fanon costuma dizer que no existe cultura, apenas a cultura nacional. A historicidade de Borom Saret vem da deciso de Sembne em colocar o contexto de definio de uma nao africana em busca de uma linguagem de autodeterminao e soberania.
O quanto o diretor Ousmane Sembne ainda uma in-fluncia para as novas geraes de cineastas africanos?Alguns representantes da nova gerao de diretores afri-canos ainda afirmam que Sembne a maior influncia no cinema deles. Outros poderiam pensar em diretores como Balufu Bakupa-Kanyinda (Juju Factory), e Appoline Traor. Outros cineastas do continente e da dispora di-zem que Djibril Diop Mambety (Touki Bouki) a maior in-fluncia. O cinema de Mambety menos esttico e opo-sitor, mais imaginativo, com novos usos da linguagem cinematogrfica. Mas claro que Sembne continua como a maior influncia no posicionamento poltico e terico do cinema africano. Os filmes Bamako e Timbuktu, de Sis-
-
43 especial
Margarida) e Djo Munga (Viva Riva!). O que voc pode dizer sobre eles?Hoje, de Alain Gomis, um filme maravilhoso, estetica-mente bem rodado, que funde uma linguagem de jazz ao cinema, caracterizado pelo surrealismo, realismo mgico, e a descontinuidade em planos portentosos que registram a vida cotidiana de Dakar, Senegal. A influncia de Djibril Diop Mambety bvia aqui. Hoje de fato mereceu o Grande Prmio do Festival Pan-africano de Ouagadougou. Eu tam-bm adoro Viva Riva!, de Djo Munga, que um remake de um filme de gangster passado no Congo. Este filme talvez seja a mais bem sucedida tentativa em casar o cinema au-toral com a tradio do vdeo de Nollywood. A atuao, his-tria, e a ao so totalmente plausveis. Djo Munga , sem dvida, o diretor mais promissor do novo cinema africano.
Voc pode apontar apenas um clssico do cinema africa-no que define o passado e outro que reflita o presente?Xala (1975), de Ousmane Sembne, constitui para mim um momento nico na frica, com sua utilizao das escada-rias de Encouraado Potemkin dentro do contexto africa-no em retratar a impotncia do neocolonialismo burgus no Senegal. Da mesma forma, Timbuktu, de Sissako, repre-senta um momento seminal no novo cinema africano que contribui para a guerra contra a intolerncia, o integralis-mo mulumano e a violncia irracional direcionada aos menos favorecidos. Ambos os filmes so locais e univer-sais em termos de linguagens cinematogrficas para atin-gir a todas as plateias.
abaixo do padro mundial da linguagem cinematogrfica. bom tambm dizer que ambos os diretores tm relaes diretas com a tradio francesa de autoria, o que faz com que os espectadores de festivais pelo mundo tenham fa-miliaridade com suas linguagens. Podemos ressaltar tam-bm a forma admirvel com que Sissako imprime nos seus filmes as dificuldades e sensibilidades do mundo poltico, como o jihadismo e o neoliberalismo.
Os ttulos contemporneos como os filmes de Sis-sako e Haroun, por exemplo , circulam normalmen-te nos cinemas da frica? Como a recepo?As salas de cinema como conhecemos esto fechadas na maior parte da frica. Aquelas que ainda esto abertas mostram, sobretudo, filmes de ao. Existem locadoras que recentemente emergiram com a popularidade dos vdeos de Nollywood da Nigria. Os filmes de Sissako e Haroun so, em sua maioria, exibidos na televiso e em alguns centros culturais da Frana e do Reino Unido lo-calizados na frica. Infelizmente, por causa da escassez de salas na frica, pessoas no Brasil, Frana e nos Esta-dos Unidos tm visto mais filmes autorais africanos do que as pessoas que vivem no continente.
Na mostra selecionamos espao para o trabalho de Moussa Tour, que recebeu algumas indicaes e pr-mios com O Barco da Esperana. Fale um pouco a res-peito do trabalho do realizador.Os filmes de Moussa Tour interessam a audincias am-plas (Toubabi, TGV e La Pirogue). Eles so narrativas bem diretas sobre a busca pela identidade, autorrealizao e mudana. Diferente dos filmes autorais, o cinema de Tour se relaciona com personagens centrais que so motivados pelos conflitos que encaram e que os modificam. Tour tra-balhou como assistente de Sembne, cuja influncia pode ser vista na forma com que ele traa a psicologia dos per-sonagens. Finalmente, os filmes de Tour so levados pela histria, diferente dos filmes de Sissako. O Barco da Espe-rana particularmente tocante na forma com que ns nos identificamos com os personagens e sua luta.
Alm de Sissako, Haroun e Tour, o evento exibe os seguintes nomes do cinema africano: Dieudo Hama-di (Exame de Estado), Alain Gomis (Hoje), Sarah Bou-yain (Nossa Estrangeira), Licnio Azevedo (Virgem
O professor Manthia Diawara
-
44 frica, Cinema
-
45 artigos
O mapa cinematogrfico africano to diverso e comple-xo como o mapa geopoltico do continente. Cheick Omar Sissoko, cineasta veterano do Mali, que j foi ministro da cultura do seu pas e hoje secretrio-geral da Federao Pan-Africana de Cineastas, em uma palestra que proferiu em sua ltima visita ao Rio de Janeiro, em junho de 2015, dividiu o cinema africano em 3 subgrupos.
Em um destes subgrupos encontra-se o Egito, Marrocos, Nigria e frica do Sul pelo nmero de suas produes. A histria do cinema egpcio, o mais antigo do continente, remonta-se ao incio do sculo XX. O primeiro filme foi re-alizado e projetado em 1907. O dia 20 de junho, data des-ta primeira projeo, transformou-se em O Dia do Cinema Egpcio. A partir da at 2009, o pas produziu mais de 4 mil filmes. E hoje, o mercado de cinema egpcio um dos trs nicos do mundo onde os filmes nacionais so os preferi-dos do pblico1.
O Marrocos, para competir com a influncia do cinema egpcio, construiu o seu primeiro estdio de cinema em Bye Bye Africa (1999)
O Que o Cinema Africano?por Joel Zito Arajo
-
46 frica, Cinema
a realizao do filme frica sobre o Sena pelos primeiros estudantes africanos negros da famosa escola de cinema IDHEC em Paris.
Este equvoco, que faz da expresso cinema africano como sinnimo de filmes produzidos no sul do deserto do Saara, se justifica. Na realidade, Ousmane Sembne de fato o pai do Cinema Negro africano. O seu cinema coinci-de com uma frica que procurava a sua prpria imagem e a independncia dos poderes colonialistas. tambm um cinema pan-africanista, intimamente vinculado ao movi-mento de negritude, a conscincia de ser negro e a uma esttica de valorizao da subjetividade africana e de ex-presso de um olhar prprio sobre sua histria, tradies e sua interao com o mundo moderno2. A partir de Semb-ne, cria-se a temtica e os estudos sobre cinema africano.
1946, na cidade de Rabat. O pas, com os seus grandes es-tdios, e com investimentos massivos da Europa, dentre eles do produtor Dino De Laurentiis, destaca-se como um dos cenrios favoritos de grandes produes mundiais, como Lawrence da Arbia (1962), de David Lean, Star Wars (1977), de George Lucas, Gladiador (2000), de Ridley Scott, Cruzada (2005), de Ridley Scott, e Babel (2006), de Alejan-dro Iarritu. A sua cinematografia tambm uma das mais importantes do continente africano.
A Nigria, que um caso excepcional na indstria do ci-nema mundial, produz cerca de 1.000 obras cinematogr-ficas por ano totalmente financiado por parceiros priva-dos e com um circuito de distribuio baseado na venda de DVDs e no em salas de cinema. Esse fenmeno com suas caractersticas especficas ficou mundialmente co-
nhecido como Nollywood. A Nigria junto com o Egito so hoje as duas cinematografias da frica que mais facilida-de tm de atingir o seu pblico.
A frica do Sul, que aps a queda do apartheid deslan-chou o seu cinema e tornou-se tambm um dos maiores produtores africanos, uma das cinematografias mais premiadas do continente. Destacam-se: Carmen na fri-ca (2005), de Mark Dornford-May, ganhador do Urso de Ouro do Festival de Berlim de 2005, e Infncia Roubada (2005), de Gavin Hood, que recebeu o Oscar de melhor filme estrangeiro em 2006.
A histria deste primeiro subgrupo da categorizao do Cheick Omar Sissoko ajuda a desmanchar um equvo-co recorrente em vrias livros e artigos sobre o cinema africano. Normalmente, o incio da produo cinemato-grfica do continente associada formao dos Esta-dos independentes na dcada de 60. E o cinema senegals, em 1963, com o pioneirismo do cineasta Ousmane Sem-bne, com Borom Sarret/O Bom Homem da Charrete tido como o marco deste nascimento. Ou, para alguns pesqui-sadores, este marco inicial teria acontecido em 1957, com
A Nigria, que um caso excepcional na indstria do cinema mundial, produz cerca de 1.000 obras cinematogrficas por ano
E hoje resta saber quem ser o autor contemporneo que conseguir ocupar o lugar deste cineasta que se tor-nou um mito africano quase na mesma altura dos heris polticos como Amilcar Cabral, Patrice Lumumba ou Tho-mas Sankara? Ser Abderrahmane Sissako? Mahamat-Sa-leh Haroun? Moussa Tour? Dieudo Hamadi? Alain Go-mis? Sarah Bouyain? Lcnio Azevedo? Djo Munga?
S o futuro dir, mas esta Mostra oferece a oportuni-dade para o seu pblico conferir o potencial e riqueza de cada um deles.
Joel Zito Arajo cineasta, doutor em comunicao pela ECA/USP e ps-doutor em cinema pela Universidade do Texas.
Ousmane Sembne, o pai do cinema africano
1 Samir Farid. Introduo ao Cinema Egpcio. http://www.festival-
cannes.fr/pt/article/57981.html2 Manthia Diawara, Lydie Diakhat. Cinema Africano: Novas Formas
Estticas e Polticas. CML, Sextante Editora, 2011. Porto-Portugal.
-
47 artigos
-
48 frica, Cinema
-
49 artigos
A Frana, atravs dos seus realizadores mais vanguardistas, tambm esteve presente no incio do cinema moambicano, aps a libertao do colonialismo portugus. Em 1977, Jean Rouch e Jean-Luc Godard vo para Moambique no perodo fugaz em que alguns governos revolucionrios marxistas africanos, como Samora Machel, compreendiam que a cultura era parte integrante e fundamental da luta pela libertao e descolonizao.
Jean Rouch vai a convite do governo, tendo na base um protocolo entre o Ministrio Francs de Cooperao e a Universidade Eduardo Mondlane de Moambique, com o intui-to de trabalhar na formao da nova gerao de cineastas locais. Jean-Luc Godard convi-dado depois de propor ao governo revolucionrio desenvolver um estudo para a criao e implantao de uma televiso independente e inovadora. O cineasta Ruy Guerra, um dos mais destacados nomes do nosso Cinema Novo, e moambicano de nascimento, em um breve regresso, chega um pouco antes para dirigir o Instituto de Cinema de Moambique. Entre os cineastas locais emergentes que participaram deste breve e rico momento his-trico que trouxe a marca e as tenses da vivncia com estes grandes nomes do cinema mundial, estavam aqueles que realizariam a partir da as mais importantes obras do cine-ma moambicano: Joo Ribeiro, Sol de Carvalho e Licnio Azevedo. O documentrio Kuxa Kanema: O Nascimento do Cinema (2003), de Margarida Cardoso, um precioso registro e reflexo deste captulo singular da cinematografia africana e mundial.
O cinema de Licnio Azevedo, um brasileiro que muda para Moambique em 1978, vai Virgem Margarida (2012)
Lusfona por Joel Zito Arajo
As Escolas do Cinema Africano
-
50 frica, Cinema
desabrochar nos anos noventa, no fim da guerra civil que sucedeu conquista da independncia. Este branco, ga-cho, de classe mdia, foi parte de um grupo significativo de brasileiros que foram para Moambique nos anos se-tenta, mas foi o nico que adotou o pas como sua ptria e permaneceu. Antes de sua chegada, j tinham filmado por l os brasileiros Celso Lucas e Jos Celso Martinez Correia (25, em 1976), Fernando Silva (Um ano de Independncia, em 1977), Murilo Salles (Estas so as armas, em 1978). Sua cinematografia nunca foi um olhar de fora, ela parte de um conjunto de produes que tem em comum apresen-tar a multiplicidade de vozes da sociedade moambicana, e um rico mosaico da vida das pessoas comuns. Em sua es-ttica inicial podemos ver elementos do cinema de Jean Rouch, no modo observacional, destacadamente em A r-vore dos Antepassados (1994), um documentrio que acom-panha o retorno para a terra natal da famlia de Alexan-dre Ferro, e tambm do docudrama, com a reencenao de histrias reais. Um dos seus filmes mais originais, que exemplificam o uso deste mtodo, o docudrama Desobe-diencia (2002), considerado por muitos festivais como um filme ficcional. Esta obra reencena a histria real da cam-ponesa Rosa que foi acusada de ser a causadora do suicdio do seu marido, por no obedec-lo. Na reencenao par-ticipou toda a famlia do morto, e o irmo gmeo aceitou interpretar o marido. A tenso dramtica e original des-te documentrio que a famlia, que nunca tinha visto um filme, aceitou reviver os eventos com o propsito inconfes-so de retaliar contra a viva Rosa, que j tinha sido julga-da duas vezes, por um curandeiro e por um tribunal, e fora absolvida por ambos. O resultado do processo flmico o fruto de duas cmeras que buscam paralelamente retratar a complexidade da situao. Uma capta a reencenao e a outra, seguindo o mtodo observacional, capta o drama real familiar que acontece nos bastidores das filmagens.
O ltimo filme de Licnio Azevedo, um longa-metragem ficcional, Virgem Margarida (2012), presente na seleo da
mostra frica, Cinema Um Olhar Contemporneo, baseado na histria dos campos de reeducao de mulhe-res prostitutas pelo governo revolucionrio da FRELIMO, criados no final dos anos setenta, e que tinham como pro-psito transform-las, fora, em mulheres novas so-cialistas. A narrativa surgiu de sua observao documen-tal, e foi inspirada em uma histria real que levantou no perodo no qual rodou o documentrio A ltima Prosti-tuta (2009). Em Virgem Margarida, Licnio Azevedo reali-za mais um retrato de uma sociedade que ainda busca re-solver as contradies e o fracasso de um sonho utpico cheio de grandes ideais.
O cinema lusfono angolanoAs caractersticas estticas e narrativas do cinema rea-lizado em Angola, no final da guerra civil, em 2002, tem muita proximidade com os filmes moambicanos, e de certa forma, tambm com os filmes de Leo Lopes, de Cabo Verde, e de Flora Gomes, de Guin-Bissau. Essas ci-nematografias tm como referncia para suas realizaes o docudrama e os cinemas neorrealistas italiano e bra-sileiro. Os personagens e as histrias so tiradas da re-alidade do povo simples, e os filmes so instrumentos de reflexo sobre esses pases em suas dificuldades ps--independncia e ps-guerra civil. No so histrias de heris exemplares das novas sociedades nascentes, so dramas de pessoas que sofreram e perderam muito com a guerra, so retratos de mulheres e filhos desgarrados buscando sobreviver nas cidades ou no interior do pas, e da problemtica do desemprego e da delinquncia ju-venil. E so todos eles rodados em lugares reais, fora dos estdios, sempre incorporando atores no-profissionais, que interpretam pessoas parecidas com eles, em suas ori-gens ou condio social. So filmes que buscam uma au-tenticidade na representao de suas histrias que fo-ram ou poderiam ter acontecido no passado recente ou no presente. Portanto, esto longe de ser histrias esteti-
Em Virgem Margarida, Licnio Azevedo realiza mais um retrato de uma sociedade que ainda busca resolver as contradies e o fracasso de um sonho utpico cheio de grandes ideais.
-
51 artigos
zantes, glorificadoras da revoluo ou da independncia, e comprometidas com a construo do homem novo afri-cano. o que podemos ver nos primeiros longas de fico de Zez Gamboa, O Heri (2004), e de Maria Joo Ganga, Na Cidade Vazia (2004), os dois filmes mais premiados da produo angolana ps-independncia.
Mas, voltando um pouco atrs, e considerando a riqueza do pas, e a sua condio de uma das trs maiores econo-mias da frica subsaariana, Angola produziu poucos fil-mes desde a conquista da independncia. A guerra inter-nacional contra Angola, no perodo de 1975 e 1991, e as duas guerras civis, travadas entre os dois maiores parti-dos de libertao, o MPLA e a UNITA, no perodo de 1992 a 2002, provocou uma tragdia econmica e poltica que no deixou de fora a produo audiovisual. Neste pero-do sobressaram os filmes politicamente comprometidos com a viso vitoriosa da luta pela independncia do reali-zador Antnio Ole e os filmes de Ruy Duarte de Carvalho, que mesmo sendo criticado por manter caractersticas et-nogrficas do cinema europeu sobre a frica, buscava dife-renciar-se desta matriz assegurando aos africanos um lugar de sujeitos na narrao de suas histrias. Os filmes de Ruy Duarte de Carvalho so ricos pelos comentrios intrigan-tes que faz sobre a situao da Angola ps-independncia.
As obras de Flora Gomes e Leo LopesAmilcar Cabral, o pai da independncia de Guin Bissau e Cabo Verde, foi, junto a Samora Machel e Thomas Sanka-ra, um dos lderes africanos que compreendiam que a cul-tura como elemento fundamental na luta pela libertao e descolonizao poltica e mental do africano. Os cinemas de Flora Gomes (Guin Bissau) e Leo Lopes (Cabo Verde) so os resultados da trajetria de dois artistas que foram profundamente envolvidos com a luta pela independn-cia dos seus pases.
Flora Gomes foi incentivado por Amilcar Cabral a rea-lizar seus estudos de cinema no exterior, foi assistente do cineasta francs Chris Marker e voltou para o seu pas para registrar o processo de independncia. Em 1987 realiza o seu primeiro longa ficcional, Mortu Nega (Morte Nega-da), uma homenagem ao processo de libertao que funde a histria contempornea com a mitologia africana. Mor-tu Nega recebeu prmios de melhor filme e melhor atriz no FESPACO de 1988, e participou de importantes festivais internacionais. Aps este trabalho, Flora Gomes realizou
mais cinco longas ficcionais, no perodo de 1992 a 2010, entre eles o filme Nha Fala (2003), rodado em Cabo Verde, que tem uma influncia original dos musicais realizados pelo cinema indiano e senegals. O cinema de Flora Go-mes alm de remeter ao docudrama e ao neorrealismo sempre incorporou uma espcie de realismo mgico afri-cano, usando de mitos e alegorias para retratar a realidade social e poltica africana. o que tambm podemos ver em seu ltimo filme, A Repblica dos Meninos (2013), que tem o astro afro-americano Danny Glover como protagonista.
Leo Lopes, o artista plstico cabo-verdiano de maior reconhecimento internacional, foi combatente pela inde-pendncia, ministro da cultura do seu pas e hoje depu-tado nacional. Foi o primeiro cineasta de Cabo Verde a re-alizar um longa-metragem ficcional, Ilhu de Contenda, em 1994, uma adaptao da obra literria de Teixeira de Sou-za sobre os conflitos entre a velha aristocracia de origem portuguesa da Ilha do Fogo e a classe ascendente de mu-latos comerciantes. Depois deste longa, Leo Lopes reali-zou dois mdia-metragens documentais: Bit (2006) e So Tom: os ltimos contratados (2010), e um longa documen-tal Vozes solidrias: um outro canto esperana (2014). Em suas mltiplas atividades de artista e intelectual, alm de ter escrito vrios contos e ensaios, tambm coorganizou um curso de ps em cinema no M_EIA, Mindelo Escola In-ternacional de Artes, universidade criada por ele na Ilha de So Vicente, que incorporou 14 profissionais brasilei-ros de renome.
Referncias
ARENAS, Fernando. Retratos de Moambique Ps-Guerra Civil: a filmografia de Licnio Azevedo. In: Filmes da frica e da Dispora: objetos de discursos/ Mahomed Bamba, Alessandra Meleiro, organizadores Salvador : EDUFBA, 2012.
DIAWARA, Manthia; DIAKHAT, Lydie. Cinema Africano: Novas Formas Estticas e Polticas. CML, Sextante Editora, 2011. Porto-Portugal.
SABINE, Mark. Reconstruindo o corpo poltico de Angola projees globais e locais da identidade e protesto em O Heri. In: Filmes da frica e da Dispora: objetos de discursos/ Mahomed Bamba, Alessandra Meleiro, organizadores Salvador : EDUFBA, 2012.
-
52 frica, Cinema
-
53 artigos
A participao do cinema na construo de um imagin-rio ocidental sobre a frica comeou logo depois que os irmos Lumire, considerados os pais do cinema, realiza-ram a primeira exibio comercial de um filme no Grand Caf, situado no Boulevard des Capucines, em Paris. O ci-nema de atualidades dos irmos Lumire tambm inaugu-rou os filmes propagandsticos que difundiam os valores coloniais, o poder civilizador do colonizador e as imagens estereotipadas sobre a frica, como um continente pri-mitivo, sem cultura, infantil e brbaro. Imagens que mais tarde seriam consolidadas por Hollywood, especialmente nos filmes de Tarzan. As afinidades polticas dos irmos Lumire com o ditador fascista Benito Mussolini e com o colaboracionismo francs do Marechal Ptain ajudam a entender porque um forte olhar colonial norteou o cha-mado cinema de atualidades.
Alguns filmes anticoloniais foram produzidos por re-alizadores europeus, antes da independncia dos pases africanos, em um perodo pregresso s primeiras produ-
Francfona por Joel Zito Arajo
Mahamat-Saleh Haroun no set
de Um Homem que Grita (2010)
As Escolas do Cinema Africano
-
54 frica, Cinema
es do pai do cinema negro africano, o senegals Ousma-ne Sembne, reconhecidamente o grande contestador da viso e dos valores impostos pelo colonialismo. Entre as produes europeias mais marcantes esto os filmes et-nogrficos produzidos por Jean Rouch e a obra As Esttu-as Tambm Morrem (1953), de Chris Marker e Alain Res-nais, que denuncia a pilhagem da frica pelos ocidentais e as ameaas de extino de uma civilizao milenar. Esse filme ficou proibido de ser exibido na Frana por dez anos. Entretanto, tanto a viso colonial, quanto o olhar huma-nista dos cineastas europeus, e mesmo de grandes nomes como Rouch, foram posteriormente contestados como portadores de um olhar distorcido sobre a frica pela ge-rao de africanos que se firmou aps a independncia. A mais contundente crtica veio de Soleymane Ciss, ci-neasta do Mali, um dos mais importantes dessa gerao: Filmaram-nos como animais Eu fao cinema porque quero filmar-nos como seres humanos.
A originalidade de Ousmane Sembne e de sua geraoOusmane Sembne foi aquele que montou as bases de um novo e moderno imaginrio sobre a frica, com uma linguagem e uma esttica prprias. O primeiro filme de longa-metragem da frica subsaariana considerado como o marco da histria do cinema africano, La noire de..., realizado por Ousmane Sembne em 1966, j traz parte dos temas que se tornaram recorrentes na primei-ra gerao de cineastas ps-Independncia: a crtica ao colonialismo, nova burguesia africana, um olhar sobre a vida urbana associado a uma valorizao da tradio, e uma viso crtica sobre a condio da mulher africa-na. O filme La noire de..., em suas cenas iniciais, j que-bra os paradigmas e esteretipos firmados sobre os ne-gros na cinematografia ocidental. Uma jovem africana, elegante, com roupas modernas, e com uma postura que demonstra respeito, dignidade e conscincia de sua im-portncia, desembarca na Riviera Francesa ao lado dos turistas europeus, enquanto um homem branco, tam-bm elegante, espera por ela na alfndega. No desen-rolar da histria veremos, aos poucos, como esta jovem negra ser trada pelos seus patres brancos que prome-teram uma vida glamourosa em uma Frana elegante, com seus cafs e lojas de moda. Sembne vai descons-truindo clichs sobre a frica, sobre os africanos e tam-bm os clichs que os africanos tinham sobre a Frana.
Este o incio de uma filmografia comprometida em es-tabelecer um novo imaginrio sobre a frica, um olhar efetivamente africano (Diawara, 2011).
Mas a maioria dos filmes feitos na frica, se colocar-mos de lado o Egito e a Nigria, foram realizados na zona francfona. Como herana do perodo colonial, 26 pases africanos, onde vivem cerca de 370 milhes de habitantes, tem o francs como lngua oficial. Logo no perodo ps--Independncia, de 1963 a 1975, dos 185 longas-metra-gens produzidos, 125 deles receberam apoio tcnico e fi-nanceiro da Frana. Na anlise do pesquisador Roy Armes, a razo para este apoio to significativo foi: A frica sem-pre foi uma prioridade, j que, como observou J. Barrat, o continente permite que a Frana seja realmente uma po-tncia mundial, e no s europeia.
Os franceses, at hoje, continuam sendo os maiores pro-dutores do cinema africano, embora o montante aporta-do para cada filme seja relativamente pequeno. E isto tem um custo, como destaca o pesquisador de cinema Manthia Diawara (2011:30): Quando um produtor europeu pen-sa em frica, v apenas o pblico europeu, os festivais de Cannes, Berlim e Toronto. (...) acreditam que a histria da frica tem de ser universal e evitar polticas ultrapassa-das. Procuram filmes que deixem o pblico europeu de bem com a sua conscincia.
Sembne, que gostava de denominar a si mesmo como africfono, ao invs de francfono, foi o primeiro a re-cusar essa imposio. No seu segundo filme de longa-me-tragem, Mandabi/A Ordem de Pagamento (1968), ele tam-bm aquele que vai ser pioneiro no uso de uma lngua africana em um filme, o wolof. Embora Mandabi tenha ori-gem em um romance escrito em francs, ele transforma a maior parte dos dilogos do seu filme para o wolof, resul-tando em maior naturalidade das cenas e dilogos. uma atitude que provoca uma revoluo esttica, levando-o a quebrar certas regras da linguagem cinematogrfica, de-mandando uma nova forma de ver o cinema. Mas Manda-bi vai alm por usar a lngua francesa como instrumento da dominao colonial. O wolof a lngua do povo, o fran-cs a lngua elitista, violenta, usada pelos burocratas e por todos os viles.
Os dois primeiros filmes de Sembne foram realizados com apoio francs, apesar da censura que La noire de... re-cebeu. Sua briga com o francs Robert de Nesle, produ-tor de Mandabi, que no aceitou que os dilogos fossem
-
55 artigos
na lngua wolof, foi tambm uma cruz na trajetria do seu segundo longa. Mas, a partir do seu terceiro longa, Emitai (1971), que tambm fazia crtica ao colonialismo, Semb-ne perdeu o financiamento francs. Os filmes que produ-ziu, desde ento, foram com recursos independentes.
Lydie Diakhat, fundadora e codiretora do Festival Real Life Documentary, de Gana, chama a ateno para as ca-ractersticas dos europeus de nova gerao, e das novas mentalidades que emergiram na Europa com a eferves-cncia das lutas estudantis e anticoloniais africanas e asi-ticas nos anos sessenta, que podem, em seu olhar africa-no, ter apenas atualizado o esprito dos missionrios do perodo colonial. Citando o cineasta Jean-Marie Tno: Os sculos passam e a frica continua a ser uma terra de mis-so (...) Os humanitrios de hoje substituram os missio-nrios de ontem. A colonizao vestiu o traje