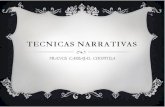Principais Tecnicas de Remediacao
-
Upload
fabiola-cunha -
Category
Documents
-
view
2.736 -
download
5
Transcript of Principais Tecnicas de Remediacao
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUMICA
TCNICAS DE REMEDIAO APLICVEIS EM DEPSITOS DE RESDUOS DO REFINO DE PETRLEO
SABRINE FERREIRA RODRIGUES
2010
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUMICA CURSO DE GRADUAO EM ENGENHARIA QUMICA
TCNICAS DE REMEDIAO APLICVEIS EM DEPSITOS DE RESDUOS DO REFINO DE PETRLEO
SABRINE FERREIRA RODRIGUES
Orientador: Fabola Oliveira da Cunha
Seropdica, RJ Julho / 2010ii
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUMICA CURSO DE GRADUAO EM ENGENHARIA QUMICA
SABRINE FERREIRA RODRIGUES
TCNICAS DE REMEDIAO APLICVEIS EM DEPSITOS DE RESDUOS DO REFINO DE PETRLEO
Monografia apresentada para concluso do Curso de Engenharia Qumica da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.
MONOGRAFIA APROVADA EM 13/07/2010
Fabola Oliveira da Cunha, D. Sc., DEQ/IT/UFRRJ (Orientadora)
Rui de Gos Casqueira, D. Sc., DEQ/IT/UFRRJ
Sandra Cristina Dantas, M. Sc., DEQ/IT/UFRRJiii
DEDICATRIA
Ao meu pai, Domingos Savio, que comigo sonhou, batalhou e concretizou minha Engenharia Qumica.iv
AGRADECIMENTOS Acima de tudo, agradeo a Deus que a minha fora de cada dia, a esperana de cada momento, a razo de cada batalha, a f nas dificuldades e as bnos em cada vitria. A minha querida me pelo amor incondicional, pelas preocupaes, pelo zelo, pela educao, pela dedicao, pela pacincia, pela motivao e incentivo em todos os momentos de minha vida. Ao meu grande pai pelo exemplo de vida, educao, palavras, conselhos, amor, carinho, oraes, e principalmente, por acreditar no meu potencial e deixar que eu realizasse um de seus sonhos. A minha linda irm Saviane pela dedicao imensurvel minha famlia. Pelo esforo pelos meus estudos. Pelo amor e carinho. Pela preocupao e zelo por todos esses anos. A minha outra linda irm Simone pelo amor e carinho. Pelas fortes e importantssimas oraes pela minha vida. Ao meu grande tesouro, minha av Maria de Morais Rodrigues (In Memorian) pelo grande exemplo de vida e garra, batalha e vitrias. Seus exemplos e dedicao ficaro marcados para sempre em meu corao. Ao meu cunhado Rodrigo Martins Lopes por toda a fora que vem dando a mim e a minha famlia. Por todo o amor, carinho, conversas, enfim, pelo afeto de irmos que estamos construindo durante esses anos. A Wagner Drei Junior pelos grandes momentos juntos. Por todo carinho, companheirismo, alegrias, superaes, pacincia e dedicao. Aos Mestres da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro pelos ensinamentos a mim concebidos e a conquista do ttulo em Engenharia Qumica. Professora Fabola Oliveira da Cunha pela amizade, confiana e orientao na conduo e concluso deste trabalho. A minha amiga e companheira Monique Mockdece pelo carinho e amizade por todos esses anos. Aos meus amigos Ruralinos que, cada um com sua particularidade, contriburam para que esses anos fossem inesquecveis os quais levarei para sempre em meu corao e minha memria. E a todos que de alguma forma contriburam para que essa etapa fosse vencida.v
BIOGRAFIA Sou de Barra Mansa, interior do Rio de Janeiro. Tenho uma famlia linda: meu pai Domingos, minha me Ondina e minhas irms Saviane e Simone com quem sempre morei at vir para a Rural. At o presente momento sempre me dediquei para conquistar uma boa formao profissional. O meu 2 grau foi cursado em paralelo com um curso Tcnico em Telecomunicaes na Escola Tcnica Pandi Calgeras onde foi uma fase de grande crescimento pessoal. Ao concluir o curso tcnico decidi me dedicar ao ingresso em uma Universidade Pblica na rea de Engenharia. Realizei alguns vestibulares e tive a aprovao em duas Universidades Federais, a UFF e a UFRRJ. Porm, eram cursos distintos. Para uma era Engenharia Eltrica e para a outra Engenharia Qumica. Por fortes influncias de meu pai e meu av Jos Baptista, que por sinal so profissionais na rea, escolhi cursar a Engenharia Qumica. Ento juntei a mudana, o entusiasmo e a fora de vontade e vim para a Rural. Os primeiros perodos foram de intensos estudos e dedicao. Nas ltimas semanas de meu 5 perodo a vida me pregou uma pea. Meu pai ficou desempregado e eu teria que voltar para minha casa, pois minha famlia no tinha mais recursos para me manter aqui. Ao concluir as provas finais, juntei novamente minha mudana e voltei para minha cidade. L fui trabalhar no comrcio. Depois de longos sete meses, graas a Deus, eu tive a beno de voltar para a Rural e retomar meus estudos. Retornei cheia de disposio e novos projetos para a minha vida. Comecei a me dedicar intensamente para o incio de um estgio, o incio efetivo da minha formao profissional. Em fevereiro de 2009 comecei o meu estagio na VALE, Mangaratiba - RJ na rea de gesto de pessoas, segurana do trabalho e rea administrativa. Hoje levo de grande aprendizado um melhor conhecimento do ser humano. Como o dia-a-dia de uma empresa, dificuldades e contratempos, responsabilidades. Em paralelo com o final de minha graduao inicializei minha Ps-Graduao Lato Sensu em Engenharia de Segurana do Trabalho na UNIFOA com o objetivo de ampliar meus horizontes e conhecer novas reas da engenharia. Ao final do curso me sinto preparada para atuar no mercado de trabalho com uma Engenheira Qumica de forma tica e responsvel.vi
SUMRIO CAPTULO I INTRODUO ................................................................................................................ 01 CAPTULO II REVISO BIBLIOGRFICA ........................................................................................ 04 2.1. Investigao para Remediao .................................................................................... 04 2.2. Tcnicas de Remediao ............................................................................................. 06 2.2.1. Escavao e Remoo de Solos ..........................................................................06 2.2.2. Atenuao Natural Monitorada .......................................................................... 08 2.2.3. Solidificao e Estabilizao .............................................................................. 09 2.2.4. Vitrificao ......................................................................................................... 12 2.2.5. Extrao de Vapores do Solo ............................................................................. 13 2.2.6. Tratamento Trmico ........................................................................................... 15 2.2.6.1. Tratamento Trmico in situ ..................................................................... 16 a) Injeo de Vapor ..................................................................................... 16 b) Aquecimento por Resistncia Eltrica .................................................... 17 c) Aquecimento por Radio Frequncia ........................................................ 17 d) Aquecimento por conduo Trmica ...................................................... 17 2.2.6.2. Tratamento Trmico ex situ .................................................................... 18 a) Desoro Trmica ................................................................................... 18 2.2.7. Bioventilao ..................................................................................................... 19 2.2.8. Biorremediao .................................................................................................. 20 2.2.8.1. Biorremediao in Situ ............................................................................ 24 2.2.8.2. Biorremediao ex Situ ............................................................................ 26 a) Landfarming ........................................................................................... 26 b) Biorreatores ............................................................................................ 27 2.2.9. Fitorremediao .................................................................................................. 27 2.2.9.1. Fitoextrao e Fitovolatilizao .............................................................. 28 2.2.9.2. Fitoestabilizao ...................................................................................... 29 2.2.9.3. Fitodegradao ........................................................................................ 30 2.2.9.4. Rizofiltrao ............................................................................................ 31 2.2.10. Oxidao Qumica ............................................................................................ 31 2.2.11. Extrao por Solventes ..................................................................................... 32 CAPTULO III CASO REFAP ................................................................................................................... 34 3.1. Sobre a REPAP ........................................................................................................... 34 3.2. Geologia do Borreiro ................................................................................................... 35 3.3. Hidrogeologia do Borreiro .......................................................................................... 37 3.4. Contaminante da Borra ................................................................................................ 37 3.5. Recomendaes de SANBERG ................................................................................... 38 3.6. Propostas para o caso REFAP ..................................................................................... 39 CAPTULO IV CONCLUSES ................................................................................................................ 41 REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS .......................................................................... 42vii
NDICE DE TABELAS
Tabela 1 Vantagens e Desvantagens do SVE ................................................................. 15 Tabela 2 Suscetibilidade de Contaminantes para Biorremediao ................................. 21 Tabela 3 Caractersticas para um Sistema de Biorremediao in situ ............................ 26 Tabela 4 Exemplos de plantas hiperacumuladoras de metais ........................................ 29 Tabela 5 Valores de referncia para metais em sedimentos de reas industriais propostos pela CETESB (2001) .......................................................................................................... 37 Tabela 6 Valores de referncia para TPH e metais em sedimentos de reas industriais propostos pela Norma Holandesa ....................................................................................... 37
viii
NDICE DE FIGURAS Figura 1 Esquema de Escavao de solo contaminado .................................................. 07 Figura 2 Esquema de um processo solidificao/ Estabilizao .................................... 10 Figura 3 Diagrama bsico de um processo de vitrificao in situ para remediao de solos contaminados ............................................................................................................ 13 Figura 4 Sistema SVE .................................................................................................... 14 Figura 5 Sistema de injeo de vapor ............................................................................ 16 Figura 6 Diagrama simplificado da desorso trmica .................................................... 18 Figura 7 Sistema de Biorremediao in situ .................................................................. 25 Figura 8 Sistema de Landfarming .................................................................................. 27 Figura 9 Esquema de Fitoextrao ................................................................................. 29 Figura 10 Esquema da Fitodegradao .......................................................................... 30 Figura 11 Mapa topogrfico da rea do Borreiro ........................................................... 35 Figura 12 Mapa de Monitoramento ................................................................................ 36
ix
RESUMO
Neste trabalho foi realizado um estudo de caso sobre a contaminao do solo por um Borreiro da Refinaria Alberto Pasqualini, Canoas - RS. Aps uma investigao para a remediao desta rea foi constatado a contaminao de TPH (Hidrocarbonetos Totais do Petrleo) e metais pesados. Foram apresentadas as tcnicas de remediao: Escavao e Remoo de Solos, Atenuao Natural Monitorada, Solidificao e Estabilizao, Vitrificao, Tratamento Trmico, Extrao de Vapores do Solo, Bioventilao, Biorremediao, Fitorremediao, Oxidao Qumica e Extrao por Solventes. Posteriormente, foram propostas tcnicas de melhor aplicabilidade na rea contaminada.
Palavras Chaves: Solo. Contaminao. Remediao. Metais pesados. Hidrocarbonetos. Totais do Petrleo.
x
ABSTRACT
This report presented a case study about soil contamination by a Borreiro of the Alberto Pasqualinis Refinery, Canoas - RS. After an investigation to remediation in this area was found contamination of TPH (Total Petroleum Hydrocarbons) and heavy metals. They have showed remediation techniques: Excavation and Soil Removal, Monitored Natural Attenuation, Solidification and Stabilization, Glazing, Heat Treatment, Soil Vapor Extraction, Bioventing, Bioremediation, Phytoremediation, Chemical Oxidation and Solvent Extration. They have proposed techniques that better applicability in the contaminated area.
Keywords: Hydrocarbons.
Soil. Contamination. Remediation. Heavy metals. Total Petroleum
xi
CAPITULO I
INTRODUO
Desde os primrdios da industrializao, no sculo XIX, so gerados diversos resduos que degradam o meio ambiente pela contaminao do solo, da gua ou do ar. Poluentes so lanados no meio ambiente por diversas maneiras dentre elas vazamento em dutos e tanques, falha no processo industrial, falta de tratamento de efluentes, armazenamento inadequado, acidentes no processo industrial ou no transporte de substncias txicas, produo de co-produtos indesejados, emisso de gases, etc. A partir da dcada de 70, a questo da contaminao do solo e das guas por produtos e resduos qumicos ganha um olhar mais cauteloso dos pases desenvolvidos. Pois, reas contaminadas prejudicam diretamente a sade humana como tambm ecossistemas. O reconhecimento de que o meio ambiente tem que ser preservado se consolidou com a criao e implementao de leis e rgos governamentais que detalham e punem a poluio de guas, solo e ar. No mbito nacional, algumas leis especficas comeam a ser aprovadas. No Estado de So Paulo, por exemplo, a Lei 13.577, aprovada em julho de 2009, pautada em diretrizes e procedimentos para proteo da qualidade do solo e gerenciamento de reas contaminadas. J no mbito federal, uma Resoluo do CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente), que trata das mesmas diretrizes, foi recentemente aprovada e entrar em vigncia j no primeiro semestre de 2010 (EGLE, 2010). Conforme estabelece o Decreto n. 28.687/82, art. 72, poluio do solo e do subsolo consiste na deposio, disposio, descarga, infiltrao, acumulao, injeo ou enterramento no solo ou no subsolo de substncias ou produtos poluentes, em estado slido, lquido ou gasoso. O solo um recurso natural bsico, constituindo um componente fundamental dos ecossistemas e dos ciclos naturais, um reservatrio de gua, um suporte essencial do sistema agrcola e um espao para as atividades humanas e para os resduos produzidos (PRESIDNCIA DA REPBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, 2010).1
Os stios contaminados ou disposies antigas produzem riscos para o bem-estar da coletividade so chamados de Passivos Ambientais (SCHIANETZ, 1999). Duas das principais caractersticas da poluio do solo so seu carter acumulativo e a baixa mobilidade dos poluentes. Quando uma indstria deixa de emitir efluentes lquidos ou poluentes do ar, seus efeitos imediatos cessam. O rio seguir fluindo e suas guas diluiro os poluentes remanescentes ou os transportaro para longe. No caso das emisses atmosfricas, o ar se tornar limpo assim que ocorrer a interrupo da emisso, j que as correntes atmosfricas promovem a disperso dos poluentes. Mas as substncias nocivas acumuladas no solo ali permanecem e lentamente podem poluir as guas subterrneas ou superficiais e afetar a biota (RODRIGUEZ, 2006). A capacidade de autodepurao do solo evidenciada pela transformao dos poluentes no subsolo que pode ocorrer por processos biolgicos (ao de microorganismos aerbicos, anaerbicos e facultativos para digesto de matria orgnica) e processos fsicoqumicos (adsoro e reteno de microorganismos e substncias indesejveis). Estes processos se tornam favorveis, dependendo de diversos fatores, tais como, condutividade hidrulica, granulometria, composio mineralgica, capacidade de troca catinica, permeabilidade, umidade, presena de nutrientes e condies de aerao (CAMPOS, 2007). A recuperao do solo envolve diversas tcnicas de manejo visando tornar uma rea degradada em um novo ambiente novamente produtivo, restabelecendo um conjunto de funes ecolgicas e econmicas. Elas podem ser de aes corretivas: Restaurao, Reabilitao, Remediao, Atenuao natural e de abandono: Atenuao natural, Recuperao espontnea e Continuidade da degradao. Dentre as tcnicas de recuperao do solo destaca-se a remediao (SNCHEZ, 2008). Para um trabalho de remediao deve ter uma investigao completa e um acompanhamento para verificar a eficincia das medidas adotadas e os possveis impactos gerados pela remediao da rea contaminada. O encerramento da atividade se dar quando acontecer o cumprimento de padres preestabelecidos pelo projeto de remediao. Estes padres dependem das caractersticas fsico-qumicas dos contaminantes, das condies hidrogeolgicas do local, viabilidade econmica e, principalmente, da legislao ambiental competente para a rea atingida (CETESB, 2001).2
O objetivo do trabalho apresentar as tcnicas de remediao mais adequadas para a descontaminao do passivo ambiental gerado pela Refinaria Alberto Pasqualini localizada em Canoas, RS. A contaminao ocorreu atravs da disposio dos resduos do processo de refino do petrleo, borra desta unidade da Petrobrs. Em decorrncia do despejo de borra, tal rea foi denominada Borreiro. Neste esto presentes inmeros componentes orgnicos (Hidrocarbonetos Totais do Petrleo, benzeno, tolueno, xilenos e etilbenzeno) e inorgnicos txicos (cromo, cdmio, mercrio, chumbo, brio, arsnio, cloro, selnio e prata) (SANBERG, 2003). A fim de alcanar tal objetivo, o presente trabalho foi organizado da seguinte forma: A primeira parte contendo uma reviso bibliogrfica das principais tcnicas de remediao de solos; A segunda parte contendo os dados da rea do Borreiro caracterizando a rea como contaminada; A terceira parte contendo as tcnicas julgadas mais adequadas para a remediao da rea.
3
CAPITULO II REVISO BIBLIOGRFICA
2.1. Investigao para Remediao Normalmente, a contaminao do solo no pode ser identificada a olho nu e em algumas situaes ela desaparece no subsolo sem ao menos ser constatada e diagnosticada. Na maioria dos casos, a contaminao descoberta devido aos efeitos gerados por ela como danos a vegetao, alterao na qualidade da gua, surgimento de doenas em populaes prximas as reas contaminadas, dentre outros. Confirmada a contaminao de uma rea, por um rgo ambiental competente, atravs de uma anlise de risco para sade humana e segurana pblica, inicia-se um projeto de investigao para remediao. Sua finalidade fornecer dados para a elaborao e detalhamento de um projeto de remediao para que sejam utilizadas tcnicas apropriadas, adequadas s leis ambientais vigentes e que seja economicamente vivel. As informaes necessrias para um projeto de investigao so as caractersticas geolgicas e hidrogeolgicas, geoqumicas e hidroqumicas da rea a ser remediada (MILANI, 2008). Segundo a Companhia Ambiental do Estado de So Paulo (CETESB, 2001) a caracterizao da geologia regional e local deve possibilitar a descrio geolgica da rea de interesse, contemplando os aspectos geomorfolgicos, litolgicos, estratigrficos, pedolgicos, estruturais e geotcnicos, atravs da elaborao de mapa geolgico em escala apropriada e sees geolgicas elucidativas. realizada mediante consulta de mapas geolgicos, imagens de satlite e fotografias areas; realizao de inspees de campo e sondagens mecnicas convenientemente localizadas e conduzidas de acordo com as normas tcnicas vigentes e aplicao de mtodos geofsicos (resistividade eltrica, potencial espontneo ou eletromagnetismo). A caracterizao da hidrogeologia regional e local de extrema importncia visto que os maiores danos causados com uma contaminao do solo so em guas subterrneas. importante conhecer a estrutura hidrogeolgica do subsolo (composio do subsolo, espessura, estruturao e disposio das camadas, permeabilidade, porosidade, etc.); o4
balanceamento das guas (utilizao, vegetao e guas da superfcie, reconstituio da gua subterrnea, in- e exfiltrao em rios, lagos e canais (filtrado na margem), retirada da gua subterrnea (para fins industriais ou de abastecimento da comunidade), poos de monitoramento); grandezas hidrulicas do aqufero; nveis do lenol fretico; linhas isopiezomtricas; direo e velocidade do fluxo da gua subterrnea; etc (SCHIANETZ, 1999). Para a caracterizao geoqumica e hidroqumica necessrio a identificao dos poluentes presentes. A identificao est relacionada com a origem, tipos, propriedades fsicas, qumicas e biolgicas (peso molecular, toxicidade, densidade, volatilidade, solubilidade em gua, presso de vapor, etc.) e processos de transporte e imobilizao ambiental (degradabilidade, persistncia, bioacumulao, mobilidade). A caracterizao geoqumica se faz atravs de amostragem de solo englobando todas as camadas do mesmo, seja zona no saturada ou zona saturada. E a caracterizao hidroqumica realizada atravs da implantao de uma rede de poos subterrneos de monitoramento estrategicamente localizados com base na caracterizao hidrogeolgica da rea contaminada (SPILBORGHS, 1997). Em geral, uma rea contaminada sofre diversas variaes nos seus aspectos fsicoqumicos onde pode haver mais de uma possibilidade de tratamento. A maioria das variaes ocorre no meio fsico como, por exemplo, heterogeneidade de solos, condies hidrogeolgicas locais, dentre outros. Seus aspectos qumicos podem variar nas concentraes e distribuio dos contaminantes em sua matriz. Essa variao pode ocorrer devido possibilidade dos contaminantes estarem livres (em altas concentraes), na fase gasosa ou vapor, adsorvidos (retidos nas partculas do solo), dissolvidos em meio aquoso, etc. Alm disso, existe a possibilidade de ocorrncia de contaminantes secundrios (MARIANO, 2006). Alm desses aspectos que so vlidos para quaisquer situaes, deve-se tambm investigar possveis interferncias causadas por fundaes, tanques enterrados, linhas de matrias-primas e produtos, galerias de guas pluviais e efluentes, poos sumidouros, poos rasos e profundos, principalmente naquelas reas antigas ou profundamente transformadas. Qualquer uma dessas interferncias poder impedir, reduzir a eficcia ou
5
inviabilizar uma proposta de remediao, mesmo que muito bem estudada (CETESB, 2001). A etapa de investigao a base de um projeto de remediao. Dela sero retirados elementos para a tomada de decises sobre quais as tcnicas, ou combinao destas, sero aplicadas na rea contaminada mesmo que nessa fase do projeto ainda no se tenha elementos suficientes para a definio final do projeto. Nesta fase, deve-se buscar o maior nmero de elementos decisrios para escolha das tcnicas a serem utilizadas e fazer uma anlise da viabilidade econmica do projeto tendo em vista o benefcio de cada alternativa de remediao com relao s despesas envolvidas (MILANI, 2008). 2.2. Tcnicas de Remediao As tcnicas de remediao envolvem diversos mtodos: trmicos, fsico-qumicos, biolgicos e isolamento. E podem ser dividas, de acordo com o local onde ocorre o tratamento, em dois principais processos: in situ e ex situ. Dependendo da situao a tcnica de remediao poder ser feita nos dois processos. O processo ex situ consiste na remoo do solo contaminado e tratamento do mesmo o qual pode retornar ao local de origem. Sua principal vantagem o tempo de remediao. E o processo in situ consiste na remediao do solo no local sem a necessidade de remov-lo. Sua principal vantagem a economia do processo j que no h custo de transporte e remoo do solo contaminado. Neste trabalho sero apresentadas resumidamente as principais tcnicas de remediao que esto sendo empregadas, seja in situ ou ex situ, incluindo os princpios bsicos envolvidos e consideraes sobre o projeto, implantao, operao, manuteno, aplicao, vantagens e desvantagens. 2.2.1. Escavao e Remoo de Solos Nesta tcnica o solo contaminado removido por equipamentos apropriados at uma rea delimitada (estabelecida no processo de investigao da remediao) onde no haja mais contaminantes. E a rea onde o solo foi retirado pode receber novos solos, ou os mesmos retirados, aps o tratamento (USEPA, 2001a). Na figura 1 o solo contaminado 6
removido atravs de uma retroescavadeira e disposto em pilhas para tratamento. Aps o tratamento o solo retornado para o local de origem.
Figura 1 Esquema de Escavao de solo contaminado (apud MILANI, 2008). O uso da tcnica de escavao limitado pelas condies da rea contaminada como a profundidade dos contaminantes, ocupao da rea, acesso de mquinas, etc (MILANI, 2008). A remoo do solo deve ser realizada com muita segurana, pois h alguns riscos iminentes (inalao de vapores e materiais particulados contaminados) as pessoas prximas a escavao e a possvel transferncia de contaminantes de um compartimento ambiental para outro (durante a escavao, armazenamento, tratamento) (CETESB, 2001). Segundo CETESB (2001), para a realizao da escavao deve-se seguir um plano, que contemple os seguintes aspectos: medidas de proteo individual dos trabalhadores, para evitar riscos de inalao, ingesto ou absoro drmica de poluentes; medidas de segurana, para evitar a emisso de contaminantes e a exposio da populao vizinha a riscos, durante as operaes de escavao, armazenamento intermedirio e transporte de solos escavados ao local de disposio final; armazenamento intermedirio de acordo com normas tcnicas da ABNT; tratamento e disposio final dos solos escavados em local adequado, previamente aprovado pelo rgo ambiental. Segundo CETESB (2001) ainda cita os procedimentos de segurana, operao e controle a serem previstos. So eles:
7
zoneamento de segurana em trs zonas: sem risco, onde as atividades no incluem solos contaminados e os equipamentos esto descontaminados; semi-crtica e intermediria, com acesso restrito e onde ocorrer a descontaminao de equipamentos e crtica, onde se dar a remoo, acondicionamento e estocagem de apoio dos solos escavados; treinamento de pessoal; utilizao de equipamentos de proteo individual; isolamento da zona crtica, sendo que nos casos mais complexos dever ser prevista a construo de galpo, hermeticamente fechado e trabalhando em depresso, para evitar a sada de vapores e material particulado por via atmosfrica e o contato de guas de chuva com a rea contaminada e com os solos removidos; instalao de lavador de caminhes e equipamentos, com sistema de tratamento das guas de lavagem; monitoramento da qualidade do ar e medidas de controle; procedimentos de emergncia. As operaes sero realizadas respeitando-se as normas de segurana, no que se refere tolerncia exposio ao calor, tempo de permanncia na rea crtica e superviso por tcnico de segurana, mediante utilizao dos Equipamentos de Proteo Individual requeridos (CETESB, 2001). A tcnica de remediao por remoo do solo contaminado tem a vantagem de retirar uma massa de contaminantes de uma maneira simples e rpida. Porm, tem a desvantagem que quando a quantidade de material a ser removido muito grande esse processo se torna caro, pois, alm de custos relacionados com a remoo existem custos com transporte, tratamento e disposio final do solo removido. Outra desvantagem que a remoo deve ser realizada com muita cautela para que no ocorra propagao de contaminantes para outros meios como ar e guas. 2.2.2. Atenuao Natural Monitorada A definio da agncia ambiental norte-americana United States Environmental Protection Agency para atenuao natural monitorada (Monitored Natural Attenuation MNA) o uso dos processos de atenuao que ocorrem naturalmente no solo, dentro do8
contexto de remediao e monitoramento adequadamente controlado, com o objetivo de reduo das concentraes dos contaminantes, toxicidade, massa e/ou volume at nveis adequados proteo da sade humana e ao meio ambiente, dentro de um perodo de tempo razovel. A atenuao natural monitorada uma tecnologia que tem sido usada como mtodo de remediao em reas com vazamentos de tanques de armazenamento subterrneo (CETESB, 2001). Os grupos alvos de contaminantes da atenuao natural so os compostos orgnicos volteis no halogenados VOCs (Volatile Organic Chemicals), os semi-volteis SVOCs (Semivolatile Organic Compounds) 2008). Podem ocorrer degradaes intermedirias onde pode ser possvel a formao de produtos mais txicos do que os contaminantes originais e de maior mobilidade. Logo, deve-se fazer uma anlise prvia do contaminante e avaliar os riscos adicionais com produtos da biodegradao (FAVERA, 2008). A vantagem de se utilizar a atenuao o custo que, no geral, baixo pois no tem se tem custos com equipamentos e produtos para a remediao. A atenuao acompanhada atravs de dados, fornecidos por poos de monitoramento, onde se demonstra a diminuio, ou no, de contaminantes em uma determinada rea. O uso da atenuao tem suas limitaes como a quantidade de informaes necessrias e seguras ao longo do tempo, dificuldade em provar que o mtodo vivel para determinada rea contaminada, o tempo muito longo para que a remediao seja efetiva, nem sempre consegue-se realizar a degradao do contaminante, dentre outros 2.2.3. Solidificao e Estabilizao A solidificao e estabilizao consistem de mtodos de remediao que impedem ou retardam a migrao dos contaminantes do solo. Mtodos de solidificao geralmente no destroem os compostos, apenas os deixam fortemente indisponveis a reaes fsicoqumicas. Essas tcnicas podem ser aplicadas em processos in situ ou ex situ (EPA, 2001b). As duas tcnicas normalmente so empregadas juntas. e combustveis derivados de petrleo (MILANI,
9
A Solidificao tem como princpio o encapsulamento dos compostos contaminados. Nesta tcnica na rea contaminada adicionado agente solidificante,
fundido e solidificado. Com isso, os contaminantes ficam retidos numa massa solidificada com resistncia mecnica e resistncia a compressibilidade onde no haver interao dos mesmos com os outros ambientes alm de evitar a lixiviao desses contaminantes (MOURA, 2006; NETO et. al., 2000). A Estabilizao tem como princpio a reduo da toxicidade, mobilidade e solubilidade do contaminante. Nesta tcnica so adicionados aditivos aos compostos
contaminados tornando-os parcialmente seguros. Por exemplo, solos poludos com metais podem ser misturados com cal. A cal reage com os metais formando hidrxidos de metais. Os hidrxidos de metais no se movem com facilidade atravs do solo (EPA, 2001b). A figura 2 ilustra um processo de solidificao e estabilizao onde inserido produtos qumicos em corrente com gua. Aps a insero os mesmos so misturados com o solo contaminados atravs de maquinrio especializado. Aps a mistura ocorre a solidificao e estabilizao da rea degradada.
Figura 2 Esquema de um processo solidificao/ Estabilizao (Adaptado de EPA, 2001b) Nos processos de solidificao e estabilizao algumas vezes necessrio que o solo seja removido. s vezes melhor escavar o solo e coloc-lo em grandes misturadores10
na superfcie, para ter certeza que todo o solo poludo ser misturado com o material de tratamento, tais como cimento e cal. A mistura deve ento retornar ao local escavado ou ser disposto em aterro adequado (EPA, 2001b). Os principais mecanismos fsicos e qumicos que controlam a eficincia dos reagentes de estabilizao/ solidificao so (NETO et. al., 2000): macroencapsulamento - o mecanismo pelo qual constituintes de resduos perigosos so fisicamente presos em uma grande matriz estrutural, onde os constituintes so presos em poros descontnuos com o material estabilizador. microencapsulamento - o mecanismo pelo qual constituintes de resduos perigosos so fisicamente presos na estrutura cristalina de uma matriz solidificada em nveis microscpicos. absoro - os contaminantes contidos em meio lquido so absorvidos por materiais slidos, tais como, solos, minerais dolomticos, poeiras, etc. adsoro - os contaminantes so eletroquimicamente ligados aos agentes estabilizadores em uma matriz slida. precipitao - os contaminantes precipitam-se dos rejeitos como resultado da transformao dos compostos que contm os agentes contaminantes em uma fase (forma) mais estvel, tornando-a insolvel ao meio lquido original. desintoxicao - transformao qumica de um constituinte txico em uma forma menos txica ou atxica na matriz slida, pela ao dos agentes estabilizadores.
Segue alguns tipos de agentes ligantes que podem ser utilizados nos processos de estabilizao/solidificao de acordo com as caractersticas dos contaminantes presentes no solo (MOURA, 2006): cimento: utilizado para todos os metais pesados. Na presena de compostos orgnicos sua resistncia mecnica pode ser alterada no processo de hidratao do cimento; pozolana: efetivo em Cdmio, Cromo e Chumbo; material termoplstico (asfalto, betume, polietileno, polipropileno, etc): empregado para Arsnio, Cromo e Cobre. A presena de compostos orgnicos requer drenagem e tratamento dos vapores produzidos durante o processo;11
polmeros orgnicos: utilizados para Arsnio.
A solidificao e a estabilizao fornecem um caminho relativamente rpido e de baixo custo para a proteo contra os contaminantes, especialmente metais (MILANI, 2008). 2.2.4. Vitrificao A Vitrificao consiste no aquecimento a elevadas temperaturas de uma rea contaminada onde ocorrer a formao de uma massa vitrificada que reduzir a mobilidade de contaminantes (MILANI, 2008). Ela obtida mediante a passagem de uma corrente eltrica, atravs de uma malha de eletrodos instalados em determinada profundidade e arranjo, no solo contaminado. A corrente eltrica aplicada aquece o solo a temperaturas de 1600C a 2000C, o que suficiente para fundir a grande maioria dos minerais presentes, e obtm-se como produto final um bloco slido quimicamente inerte (FREEMAN e HARRIS, 1995; MULLIGAN et. al., 2001). O processo de vitrificao do solo contaminado pode ser realizado ex situ ou in situ. As etapas do processo de vitrificao ex situ incluem a escavao, pr-tratamento, homogeneizao, aquecimento para a fuso/vitrificao e coleta dos gases extrados do solo para tratamento. O processo in situ envolve a aplicao de corrente eltrica no solo com a utilizao de rede de eletrodos posicionados verticalmente na rea contaminada para a produo do aquecimento do solo e vitrificao do material contaminado aps o resfriamento (OLIVEIRA, 2006). A figura 3 ilustra um processo de vitrificao in situ onde so inseridos dois eletrodos que permitem a passagem de corrente eltrica onde gera o aquecimento do solo. Simultaneamente h a mistura do solo contaminado com grafite e fritas de vidro para o incio do processo de vitrificao. Com o aquecimento ocorre a fuso do solo contaminado com o material vtreo. Aps a fuso ocorre o resfriamento onde formado o monlito vitrificado.
12
Figura 3 Diagrama bsico de um processo de vitrificao in situ para remediao de solos contaminados. (MULLIGAN et. al., 2001) Esse mtodo tem um custo elevado. Sua aplicao ocorre em reas contaminadas com mltiplos poluentes onde no h muitas alternativas de tratamento disponveis (NETO et. al., 2000). 2.2.5. Extrao de Vapores do Solo Tambm conhecida como SVE (Soil Vapor Extration), essa tcnica tem como objetivo a extrao de vapores com compostos orgnicos volteis (VOCs) e compostos orgnicos semivolteis (SVOCs) da zona no saturada do solo (NETO et. al., 2000). Esse mtodo se baseia na volatilidade dos contaminantes presentes na rea contaminada. Ocorre a aplicao do vcuo na rea que, com a presso reduzida, gera um fluxo dos contaminantes mais volteis para a superfcie onde so drenados e posteriormente tratados (principalmente por adsoro em carvo ativado, oxidao trmica e oxidao cataltica) (USEPA, 1993). A figura 4 demonstra o esquema de funcionamento de um SVE. Ele constitudo por um poo de extrao de vapores, uma bomba a vcuo e uma unidade de tratamento de vapores. Os vapores de hidrocarbonetos de petrleo so removidos no poo de extrao, atravs da presso reduzida inserida pela bomba e so conduzidos para um sistema de tratamento de vapores. Quando os vapores so retirados, ocorre um fluxo de ar atravs dos poros do solo o que auxilia na degradao de contaminantes ainda presentes.
13
Figura 4 Sistema SVE (adaptado de USEPA, 1993) No SVE, um vcuo aplicado nos poos de extrao, os quais criam um gradiente de presso negativa que causa um movimento dos vapores em direo a esses poos. Com isso, os compostos contaminados volteis em fase vapor so removidos. E depois de sua remoo, esses vapores so tratados em unidades especficas para suas caractersticas de contaminao (SANCHES, 2009). Adicionalmente volatilizao, o sistema de SVE tambm remove alguns hidrocarbonetos por biodegradao. A volatilizao ocorre quando o fluxo de ar entra em contato com hidrocarbonetos residuais, ou com pelculas de gua contendo
hidrocarbonetos dissolvidos. A biodegradao ocorre porque o fluxo de ar induzido fornece oxignio para a biodegradao aerbica (CETESB, 2001). Hidrocarbonetos com alta frao voltil sero removidos mais rapidamente usando o SVE, enquanto que os compostos com menor frao voltil sero removidos de forma menos eficiente. As faixas de volatilizao variam de mais de 90% para a gasolina a menos de 10% para o leo cru. O SVE uma tecnologia de remediao interessante para gasolina e combustvel de aviao, dadas suas altas taxas de volatilizao. Tambm pode ser usada para remediar compostos com faixas de hidrocarbonetos menos volteis, auxiliando a biodegradao (CETESB, 2001).
14
O SVE geralmente limitado pela permeabilidade dos solos e pelo nvel de saturao por gua, pois afeta a taxa de movimento do ar e vapor pelo solo. Ou seja, em solos com maior permeabilidade, mais rpido ser o fluxo de ar/vapor e assim uma maior quantidade de vapor ser extrada do solo contaminado (FAVERA, 2008). O SVE tem suas vantagens e desvantagens que seguem na Tabela 1 (MILANI, 2008; NETO et. al., 2000): Tabela 1 Vantagens e Desvantagens do SVESISTEMA DE EXTRAO DE VAPORES VANTAGENS Utiliza equipamentos disponveis no mercado e de fcil instalao Pouca interrupo nas operaes da rea O tempo de descontaminao (cleanup) geralmente curto Custo inferior das outras tecnologias de remediao Pode ser aplicado em reas com produto livre Pode ser combinado com outras tecnologias O impacto ambiental baixo Grandes volumes de solos podem ser tratados Os materiais txicos so removidos do solo, destrudos e podem ser tambm seqestrados ou recolocados Se o contaminante biodegradvel pode acelerar a atividade bacteriana DESVANTAGENS Redues de concentrao maiores que aproximadamente 90% so difceis de ser atingidos Eficcia reduzida quando aplicado em reas com solos de baixa permeabilidade ou estratificados; Pode requerer um tratamento custoso para o tratamento dos vapores Trata somente a zona no saturada; outros mtodos podem tambm ser necessrios para tratar zonas saturadas do solo e a gua subterrnea.
2.2.6. Tratamento Trmico A tcnica de remediao de tratamento trmico consiste no aquecimento do solo com o objetivo de volatizar ou destruir os contaminantes orgnicos presentes no mesmo. Ela pode ser realizada in situ ou ex situ (FAVERA, 2008). Os processos trmicos possibilitam a eliminao rpida de muitos tipos de compostos qumicos do solo, podendo representar uma boa economia nos custos de remediao, para muitos casos. Dependendo da extenso da rea a ser tratada, das
15
condies do subsolo e do tipo e concentraes de compostos qumicos presentes, os custos podem, entretanto, se elevar consideravelmente (CETESB, 2001). 2.2.6.1. Tratamento Trmico in situ
Os compostos volteis e semi volteis se transformam em gases, que se movem mais facilmente atravs do solo. Os poos de coleta capturam os compostos qumicos perigosos e gases e estes so bombeados para a superfcie, onde so tratados. Os mtodos trmicos podem ser usados para compostos em fase lquida no aquosa (NAPL Noun Aquous Phase Liquid), que no se dissolvem ou no se movem facilmente em gua subterrnea (CETESB, 2001). a) Injeo de Vapor So instalados poos de injeo onde o vapor ser injetado com o intuito de aquecer a rea e assim mobilizar-la, evaporando ou destruindo os contaminantes presentes que posteriormente sero coletados em poos de extrao. No lugar de vapor tambm pode ser injetado ar quente ou gua quente. A gua quente mobiliza tambm compostos em fase lquida no aquosa como os NAPLs, que so retirados pelos poos de extrao (CETESB, 2001). Na figura 5 inserido vapor que aquece a zona contaminada com NAPL e volatiliza os contaminantes. Os vapores formados so removidos juntamente com gua e o vapor inserido.
gua, Vapor, NAPL Vapor
Vapor
Zona contaminada com NAPL
Figura 5 Sistema de injeo de vapor (adaptado EPA, 1997)16
b) Aquecimento por Resistncia Eltrica Neste mtodo o solo aquecido pela passagem de corrente eltrica, a partir de eletrodos que so introduzidos na rea de tratamento. O calor da corrente eltrica converte a gua contida no solo em vapor, o qual elimina os compostos qumicos presentes, que so coletados por vcuo nos poos de extrao. O solo deve permanecer mido para garantir a passagem da corrente eltrica (CETESB, 2001). Os eletrodos so instalados em subsuperfcie na rea de remediao atravs de tcnicas usuais de perfurao. O espaamento ideal dos eletrodos no influenciado pelo tipo de solo, saturao de gua, ou a condutividade eltrica da subsuperfcie. Eletrodos mais prximos levam a um maior gasto na instalao, porm, permitem um maior aquecimento e assim um menor tempo de operao (MILANI, 2008). c) Aquecimento por Radiofrequncia Esse mtodo utiliza a radiofrequncia que emitida por equipamentos especializados (antenas). Essa frequncia gera energia de radiofrequncia que aquece o solo que evapora os compostos qumicos volteis e aumenta o rendimento da tecnologia de SVE (CETESB, 2001). Contaminantes que podem ser potencialmente removidos utilizando sistemas de radiofrequncia incluem uma grande variedade de compostos orgnicos tais como solventes halogenados e no halogenados, hidrocarbonetos policclicos aromticos (PAH Polycyclic Aromatic Hidrocarbon) encontrados na gasolina, em combustveis de aviao e diesel (EPA, 1995). d) Aquecimento por Conduo Trmica Neste mtodo o calor fornecido por meio de poos de ao (poos trmicos) ou por uma manta trmica que cobre a superfcie do solo. A manta usada onde a contaminao no solo rasa, enquanto os poos de ao so usados para as contaminaes mais profundas (CETESB, 2001).
17
2.2.6.2.
Tratamento Trmico ex situ
Dessoro Trmica Neste tratamento o solo retirado e posteriormente tratado. um processo que utiliza de energia calorfica para aquecer o solo e/ou resduo contaminado at obter volatilizao dos compostos orgnicos, gua e metais de baixo ponto de sublimao. Neste processo no ocorre a destruio de compostos orgnicos. So formados gases que sero separados por equipamentos especiais e dispostos de forma adequada. Posteriormente, esses gases iro sofrer tratamento especifico antes de serem lanados na atmosfera. (CETESB, 2001; FAVERA, 2008; MILANI, 2008). Esse processo demonstrado na figura 5.
Dessoro
Amostragem para confirmao da remoo
Figura 6 Diagrama simplificado da dessoro trmica (Adaptado de EPA, 2001c) Segundo CETESB (2001) a dessoro trmica ex situ realizada em instalaes especficas, fixas ou mveis, constitudas pelos seguintes elementos: instalaes para armazenamento; instalaes para preparo de solos (secagem e homogeneizao de granulometria); alimentao de solos no forno rotativo; forno rotativo para aquecimento do solo e volatilizao de contaminantes; sistema de refrigerao e reumidificao de solos tratados; sistema para redisposio de solos tratados;18
ps-queimadores de gases; sistemas de resfriamento e tratamento dos gases para controle de poluio atmosfrica. A dessoro trmica trabalha bem em solos secos e em certos tipos de contaminantes tais como leo combustvel, alcatro carvo, produtos que preservam madeira, e solventes. Muitas vezes a desorso trmica funciona onde alguns outros mtodos de remediao no funcionam, tais como em locais que possuem uma grande quantidade de poluio no solo (EPA, 2001c). 2.2.7. Bioventilao Esta tcnica tambm conhecida como bioaerao. um processo in situ que tem como princpio a insero de um fluxo de ar (oxignio) na zona no saturada visando estimular o crescimento microbiano da regio contaminada. Sendo esses microorganismos responsveis pela degradao dos compostos contaminados. A insero de ar se faz
atravs de poos de injeo ou extrao com baixa vazes e caso necessrio, adiciona-se macronutrientes ao meio. A Bioventilao eficiente no tratamento de qualquer contaminante degradvel em meio aerbico, particularmente muito efetiva na remediao de solos contaminados por hidrocarbonetos de petrleo, sendo mais recomendada para locais onde ocorreu a liberao de compostos com peso molecular mdio (diesel) (CETESB, 2001). A principal diferena em relao a tcnica de extrao de vapores, quando poos de extrao so utilizados, deve-se ao fato de minimizar a volatilizao, diminuindo-se a necessidade de tratamento de gases (CETESB, 2001). A Bioventilao tem como vantagem a minimizao da extrao de vapores alm de poder ser aplicada em reas de difcil acesso. Mas, tem como grande desvantagem a no aplicabilidade em solos com baixa permeabilidade, pois o mesmo impede o fluxo de ar (CETESB, 2001).
19
2.2.8. Biorremediao A biorremediao consiste na degradao de contaminantes atravs de microorganismos presentes no meio natural. Esses microorganismos podem ser bactrias (considerado o principal elemento em uma remediao), fungos e protozorios (SCHIANETZ, 1999). Os contaminantes que podem ser biotransformados so os hidrocarbonetos de petrleo, solventes clorados, aromticos clorados, nitroaromticos, hidrocarbonetos poliaromticos, metais, inorgnicos oxidados e combustveis oxigenados (CETESB, 2001). Os contaminantes fornecem nutrientes para esses microorganismos (como carbono), que so fontes de energia, na biodegradao dos mesmos e converte os contaminantes em CO2, H2O e outros produtos finais. Alguns fatores so determinantes na biodegradao de um solo contaminado. Dentre eles podemos citar: comportamento de dessoro, adsoro difuso e de dissoluo dos contaminantes no solo, valor de coeficiente Kf (homogeneidade do solo), teor e disponibilidade de oxignio no solo, teor de gua do solo, suprimento de nutrientes dos microorganismos tais como fsforo e nitrognio, e alguns especficos para determinados contaminantes, um agente oxidante e temperatura (SCHIANETZ, 1999). Os microorganismos, que podem degradar substncias nocivas, encontram-se em muitos grupos de bactrias e fungos. Aparentemente esta caracterstica ocorre com especial freqncia em representantes das espcies Pseudomonas, Arthrobacter, Bacillus, Alcaligenes, Aspergillus e Fusrios. (SHIANETZ, 1999) Na biorremediao, quanto maior a quantidade de microorganismos maior ser a eficincia da tcnica, ou seja, maior a degradao dos contaminantes. A biorremediao compreende duas tcnicas: bioestimulao e bioaumentao. (CETESB, 2001) A bioestimulao a tcnica de biorremediao onde os microorganismos naturais, autctones ou indgenos (microorganismos pertencentes s espcies nativas de regies biogeogrficas), so estimulados para a degradao atravs de insero de oxignio, nutrientes e alguns agentes oxidantes, a correo de pH do solo, controle de temperatura e20
umidade. Para utilizar a tcnica de bioestimulao, na rea contaminada deve haver uma populao natural de microorganismos capaz de biodegradar os contaminantes e que a contaminao do solo favorvel (CETESB, 2001; MARIANO, 2006). Se aps uma anlise da quantidade de microorganismos indgenos (ou autctones) presentes na rea, atravs da contagem das bactrias heterotrficas totais e fungos, for detectado uma insuficincia para a biodegradao do contaminante em questo, mesmo aps a tentativa de bioestimulao, a utilizao de microorganismos no indgenos (alctones) poder ser considerada. Esta tcnica a de bioaumentao. Nela a biodegradao estimulada por produtos biotecnolgicos que so aplicados na rea contaminada. Porm, alguns aspectos tem que ser considerados como o local contaminado, o produto biotecnolgico deve ser avaliado (toxidade, ecotoxidade, eficincia/ eficcia), microorganismos a serem aplicados em diferentes tipos de contaminantes e os mesmos devem atuar em sinergismos com as espcies indgenas do local (SPILBORGHS, 1997). Segundo a CETESB, o fator crtico para definir se a biorremediao a tecnologia mais apropriada para o local contaminado a biodegradabilidade do contaminante. A Tabela 2 mostra um resumo dos principais contaminantes e respectiva susceptibilidade para biorremediao. Tabela 2 - Suscetibilidade de Contaminantes para Biorremediao (CETESB, 2001)Classe do Contaminante Gasolina e leo combustvel Poliaromticos (naftaleno, antraceno) Creosoto lcool, acetona e ster ter Altamente clorados (PCE percloroetileno, TCE tricloroetileno) Frequncia de Evidncia de Sucesso Ocorrncia Hidrocarbonetos e Derivados Muito frequente Fcil biorremediao aerbia e anaerbia Comum Biorremediao aerbia sob condies especficas Pouco frequente Comum Fcil biorremediao aerbia Fcil biorremediao aerbia e anaerbia Limitaes
Formao de fase livre leve (LNAPL) Forte adsoro em subsuperfcie Forte adsoro e formao de fase livre
Comum Halogenados Alifticos Muito frequente Cometabolizado em condies anaerbias e aerbias em casos especficos
Forma Fase Livre Densa (DNAPL)
21
Fracamente clorados (cloreto de vinila VC)
Muito frequente
Biorremediao aerbia em condies especficas e cometabolizado em condies anaerbias
Forma Fase Livre Densa (DNAPL)
Altamente clorados (hexaclorobenzeno, pentaclorofenol)
Halogenados Aromticos Comum Biorremediao aerbia sob condies muito especficas. Cometabolizado em condies anaerbias. Comum Fcil biorremediao aerbia
Adsorve fortemente em subsuperfcie. Forma fase liquida (NAPL ) e fase slida (NASP) Forma fase lquida NAPL.
Fracamente clorados (clorobenzeno e diclorobenzeno)
Altamente clorados Fracamente clorados
Nitroaromticos
Bifenilas Policloradas Pouco freqente Cometabolizado em condies anaerbias Pouco frequente Biorremediao aerbia sob condies muito especficas Comum Biorremediao aerbia e anaerbia (produo de cido orgnico) Metais Comum Processos microbianos afetam sua solubilidade e reatividade
Adsorve fortemente em subsuperfcie. Adsorve fortemente em subsuperfcie.x
Cr, Cu, Ni, Pb, Hg, Cd, Zn, etc
Disponibilidade altamente varivel, controlada pelas condies qumicas
Segundo CETESB (2001) cita como vantagens e desvantagens da biorremediao: Vantagens: capacidade dos microorganismos de biodegradar substncias perigosas ao invs de somente transferir o contaminante de um meio para outro; a tcnica utiliza equipamentos que so facilmente encontrados e de fcil aplicao; eficiente tanto em meios homogneos como de textura arenosa; pode ser utilizada em combinao com outros mtodos de remediao (exemplo SVE); baixo custo comparativamente a outras tcnicas de remediao, se os compostos forem facilmente degradveis;22
a tecnologia pode ser considerada como destrutiva dos contaminantes; permite atingir concentraes alvo ambientalmente aceitveis para o solo. Desvantagens: dificuldade de extrapolao da escala de estudos piloto para a escala real em campo; limitada para os compostos que so biodegradveis. No so todos os compostos que so suscetveis a uma rpida e completa degradao; existem alguns compostos cujo produto da degradao mais persistente ou txicos que o composto inicial; possibilidade de colmatao do meio poroso devido ao crescimento de biomassa; geralmente leva mais tempo que outras opes, como escavao e remoo de solos ou incinerao; maior dificuldade de aclimatao dos microorganismos para os compartimentos gua e ar; biodisponibilidade na zona saturada; limitaes em funo de heterogeneidades em subsuperfcie; inibio por compostos competidores (a exemplo do metil-terc-butil-eter na presena de BTEX benzeno tolueno etilbenzeno xileno). Segundo CETESB (2001) a maior limitao da tecnologia de biorremediao a necessidade de maior entendimento dos processos e seus controles. Os fatores crticos para a aplicao com sucesso da biorremediao so: suscetibilidade do contaminante considerado degradao; presena de populaes microbiolgicas apropriadas e em quantidades suficientes para promover uma taxa de degradao adequada; condies geoqumicas intrnsecas (pH, temperatura, potencial de oxi-reduo) para o crescimento dos microorganismos de interesse; biodisponibilidade do contaminante (em fase aquosa, por exemplo); gerao de subprodutos que sejam menos txicos que os produtos primrios (por exemplo o tricloroeteno gera o cloreto de vinila que mais nocivo);23
capacidade do meio de sustentar atividade biolgica. Antes da utilizao da Biorremediao deve ser avaliado as populaes microbianas presentes no subsolo, principalmente suas necessidades de energia para uma maximizao da fonte de nutrientes; reconhecer quais os sub-produtos de degradao e estimar a taxa de biodegradao para a elaborao do projeto para a remediao da rea contaminada. Outro ponto a ser avaliado a degradao de alguns metais como o mercrio (Hg) que a assimilao do mesmo pode agravar o caso da contaminao (MARIANO, 2006; MILANI, 2008). 2.2.8.1. Biorremediao in Situ
A Biorremediao in situ ocorre na rea contaminada. Com isso, evita-se contaminao de outros compartimentos ambientais alm de no ter custo com escavao e transporte. A tcnica in situ no gera danos aos seres vivos, pois os produtos formados em uma degradao so basicamente gua e gs carbnico, quando incorporados ao ambiente. Essa tcnica a que nica que tem a capacidade de remover os contaminantes no solo e em aqferos j que microorganismos crescem aderidos s superfcies, sendo assim, fcil a sua remoo. A biorremediao in situ pode ser realizada atravs de trs processos: biorremediao intrnseca (nas condies naturais do meio), bioestimulao e bioaumentao (MARIANO, 2006). Segundo CETESB (2001) cita alguns exemplos de aplicao de tcnicas de biorremediao: injeo de oxignio para biodegradao aerbica de compostos presentes na gasolina (BTEX - benzeno, tolueno, etilbenzeno e xileno); dehalogenao redutiva de etenos (PCE e TCE) em condies naturais anaerbicas; injeo de doadores de eltrons (melao e lactato, por exemplo), para aumentar a dehalogenao redutiva de etenos ou para imobilizar cromo hexavalente; reduo de tetracloroeteno para cloreto com a injeo de doadores de eltrons;24
aplicao de reagente biolgico fluido para biodegradar aerobicamente metil tercbutil ter ou reduzir tetracloroeteno. Como exemplos de projetos de biorremediao in situ podem ser citados air sparging in situ com injeo de nutrientes; barreiras reativas permeveis com bioaumentao (CETESB, 2001). A Figura 7 ilustra um projeto de Biorremediao in situ em uma rea contaminada por um tanque de combustvel. Ocorre a insero de nutrientes e ar atravs de um poo de injeo. Com isso, ocorre a biodegradao aerbica. A gua subterrnea coletada. Esse sistema possui dois poos de monitoramente. Um de localiza na rea contaminada para verificar se a remediao est sendo eficiente e o outro poo de monitoramento para verificar se esta ocorrendo a lixiviao dos contaminantes para outras reas.
Figura 7 Sistema de Biorremediao in situ. (EGLE, 2010). Para o projeto e implantao do plano de biorremediao in situ, o local deve ser caracterizado do ponto de vista fsico, qumico e biolgico. Muitas dessas caractersticas so genricas para todos os processos de biorremediao (USEPA, 1992 apud MARIANO, 2006). Na Tabela 3 so apresentadas as caractersticas fsicas, qumicas e biolgicas para um sistema de Biorremediao in situ.
25
Tabela 3 Caractersticas para um Sistema de Biorremediao in situ (MARIANO, 2006) CARACTERSTICAS PARA UM SISTEMA DE BIORREMEDIAO IN SITU Fsicas Qumicas Biolgicas Distribuio espacial da Composio da Presena de contaminao, especialmente contaminao, incluindo microorganismos viveis, a distribuio da fase no contaminantes que no especialmente aquosa (NAPL), a origem do sejam hidrocarbonetos, degradadores de resduo e a geometria da mas que podem interferir hidrocarbonetos, em pluma; no processo; zonas contaminadas e no contaminadas; Hidrogeologia, direo e Qualidade da gua Potencial de velocidade do fluxo da gua subterrnea, biodegradao e taxas de subterrnea, heterogeneidades especialmente o potencial degradao. e zonas impermeveis do redox, receptores de sedimento; eltrons, pH e produtos de degradao; Temperatura. Propriedades de adsoro do sedimento.
2.2.8.2.
Biorremediao ex situ
Na Biorremediao ex situ o solo contaminado escavado e retirado do local. O seu tratamento pode ser na prpria rea ou transportado para outra unidade de tratamento. Como em todos os processos de biorremediao pode sofrer interferncias no tratamento da rea contaminada devido a caractersticas do contaminante e as condies do meio contaminado (por exemplo, temperatura). No processo ex situ, os mtodos para tratamento so: Landfarming e Biorreatores. a) Landfarming Nessa tcnica o solo contaminado escavado e misturado com um solo no contaminado e nutrientes ou solues de inoculao. A mistura realizada atravs de trabalho mecnico no solo e tambm nesse processo de mistura incorporado oxignio do ar o que maximiza a biodegradao. Esse processo realizado periodicamente at os poluentes serem degradados com microorganismos nativos (SILVA, 2009). Este processo muito simples, muito barato e principalmente adequado para hidrocarbonetos (SHIANETZ, 1999). O Landfarming tambm um processo de disposio j que os produtos da degradao se incorporam ao solo. Em geral, esta pratica26
limitada ao tratamento do solo superficial com profundidade de cerca de 10 a 35 centmetros (MILANI, 2008). A Figura 8 representa um sistema Landfarming utilizando uma rea com uma borda de segurana e poos de monitoramento da gua subterrnea para acompanhamento da contaminao da mesma, pois pode haver percolao de contaminantes.
Figura 8 Sistema de Landfarming (adaptado de MPHEKGO e CLOETE, 2004)
b) Biorreatores So equipamentos capazes de realizar a biodegradao de solos contaminados. So aplicados em diferentes tipos de solos e condies, incluindo tratamentos em condies aerbicas e anaerbicas. Esses equipamentos podem assumir diferentes configuraes o que viabiliza o controle dos fatores abiticos podendo assim otimizar o processo de biodegradao. Com a utilizao da tcnica de Biorreatores no ocorre riscos como lixiviao de metais, compostos orgnicos e mesmo de nutrientes. O que confere mais segurana e eficincia para o processo (CETESB, 2001). 2.2.9. Fitorremediao Essa tcnica de remediao se baseia na aplicao de espcies vegetais para remoo, conteno ou transformao, para formas inofensivas, de contaminantes ambientais. utilizada para a remoo de contaminantes em solos e guas subterrneas (MOURA, 2008).
27
Segundo CUNNINGHAM et. al. (1996) a fitorremediao pode ser usada em solos contaminados com substncias orgnicas ou inorgnicas, como metais pesados, elementos contaminantes, hidrocarbonetos de petrleo, agrotxicos, explosivos, solventes clorados e subprodutos txicos da indstria. Pode ocorrer a extrao e assimilao ou extrao e decomposio qumica dos contaminantes. Compostos inorgnicos so absorvidos, pois so nutrientes vitais para as plantas. Os metais pesados podem ser absorvidos, assimilados e bioacumulados nos tecidos das plantas. J compostos orgnicos podem ser absorvidos e metabolizados pelas plantas, inclusive rvores (MILANI, 2008; NETO et. al., 2000). Diversos fatores devem ser analisados para a aplicao da fitoremediao, so eles: caractersticas fsico-qumicas do solo e do contaminante, biodisponibilidade do contaminante, clima da regio. Tais fatores definem a escolha da espcie vegetal, de acordo com seu mecanismo, que ser capaz de promover a remedio da rea contaminada. A fitorremediao pode ser usada em combinao com outras tcnicas de remediao. Porm a fitoremediacao uma tcnica utilizada em longo prazo e por isso limitada. Ela s eficiente em reas com baixas concentraes de contaminantes, principalmente metais pesados. Outra limitao da tcnica a profundidade em que as razes conseguem atingir a rea contaminada, ou seja, s consegue aplic-la em reas contaminadas de pouca profundidade. As principais tcnicas de fitorremediao
encontram-se nos prximos itens (CETESB, 2001). 2.2.9.1. Fitoextrao e Fitovolatilizao
Envolve a absoro dos contaminantes pelas razes, os quais so nelas armazenados ou so transportados e acumulados nas partes areas. aplicada principalmente para metais (Cd, Ni, Cu, Zn, Pb) podendo ser usada tambm para outros compostos inorgnicos (Se) e compostos orgnicos, conforme mostra o esquema da fitoextrao na Figura 9 (McGRATH, 1998). Esta tcnica utiliza plantas chamadas hiperacumuladoras (figura 9), que tem a capacidade de absorver grandes quantidades de metais especficos. Estas plantas so selecionadas de acordo com o contaminante a ser retirado do solo contaminado. Aps seu28
crescimento no local contaminado elas so colhidas e adequadamente dispostas. E esse ciclo se repete at que se alcance nvel de descontaminao desejado. Na Tabela 4 (BROOKS, 1998) encontram-se exemplos de plantas hiperacumuladoras e suas aplicaes.
Figura 9 Esquema de Fitoextrao (NASCIMENTO e XING, 2006). Tabela 4 Exemplos de plantas hiperacumuladoras de metaisMetal Zn Cu Espcies de plantas Thlaspi calaminare Viola species Aeolanthus biformifolius Phyllanthus serpentins Alyssum bertoloni e 50 outras espcies de Alissum Sebertia acuminata Stackhosia tryonii Brassuca juncea Haumaniastrum robertii % de metal em peso seco de folhas 3 25 (em ltex) 4,1