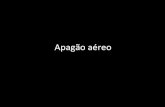Os movimentos do circuito da cultura e a construção da imagem dos presídios: uma análise da...
-
Upload
gabriela-silva -
Category
News & Politics
-
view
76 -
download
2
Transcript of Os movimentos do circuito da cultura e a construção da imagem dos presídios: uma análise da...
GABRIELA DE MELLO SILVA OS MOVIMENTOS DO CIRCUITO DA CULTURA E A CONSTRUÇÃO DA IMAGEM DOS PRESÍDIOS: UMA ANÁLISE DA SÉRIE “APAGÃO CARCERÁRIO” DO JORNAL DA GLOBO
Trabalho de conclusão de curso apresentado ao curso de Comunicação Social da Universidade Católica de Pelotas, como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo.
Orientador: Prof. Dr. Fábio Souza da Cruz
Pelotas, 2009
Agradecimentos
À Tânia e ao Conceição, meus pais, e à Maíra, ao Alberto e à Eliza,
meus irmãos, por me ensinarem, a cada dia, o sentido do amor, da
tolerância, da persistência e da vida.
Ao Marcelo, meu companheiro, amigo e namorado, pelo amor,
carinho e compreensão dispensados durante toda esta trajetória.
Aos meus amigos do coração, pelo apoio nas horas de fraqueza e
desânimo.
Aos colegas da ATCirco 2009/1, pelo companheirismo e pela alegria
destes quatro anos de histórias.
Ao professor Dr. Fábio Souza da Cruz, meu orientador, pelo incentivo
incansável a esta proposta e por guiar, com seu profundo conhecimento, os
meus primeiros passos na vida acadêmica.
À professora Inezita Silveira da Costa, pelas magníficas aulas de
Direito Penal ministradas na Universidade Federal de Pelotas, as quais me
fizeram encantar pelas ciências criminais.
Ao professor Dr. Daniel Brod Rodrigues de Souza, pela presteza em
revisar o capítulo acerca do sistema carcerário deste trabalho.
À amiga Nathalie Grequi Cardoso, pela dedicação na correção textual
deste estudo.
Aos entrevistados na pesquisa que integra este trabalho, pela
paciência e atenção.
“Se as coisas são inatingíveis... ora! Não é motivo para não querê-las... Que tristes os caminhos se não fora A mágica presença das estrelas!” Das Utopias – Mário Quintana
Resumo
Este trabalho analisa a construção da imagem dos presídios em duas reportagens da série “Apagão Carcerário”, exibidas pelo Jornal da Globo, uma delas sobre “corrupção” e outra sobre “presídios que dão certo”. A referência teórico-metodólogica básica está nos estudos de Johnson (2006), que propõe o circuito da cultura. O primeiro capítulo trata do telejornalismo no Brasil, com fundamento nos escritos de Paternostro (1999), Mattelart (1998), Piccinin (2004), Gomes (2006), Squirra (1995), Sodré e Ferrari (2009, online), Wolton (1996), Guimarães (2008), Becker (2005), Temer (2002) e Miguel (2009, online). O próximo capítulo aborda a temática do sistema carcerário, com base nas análises de Bitencourt (2001) e Batista (2009, online). O terceiro capítulo diz respeito ao referencial teórico que dá sustentação às análises posteriormente realizadas, através dos ensinamentos de Johnson (2006), Hall (1997), Escosteguy (2008), Colvara (2006), Traquina (2005), Medina (1988), Hall (2006) e Martín-Barbero (2001). Enfim, o último capítulo traz as análises das reportagens dentro das premissas de cada etapa do circuito da cultura. Palavras-Chave: circuito da cultura; sistema carcerário; telejornalismo; apagão carcerário; Jornal da Globo.
Lista de Figuras
Figura 1 - Tabela Comparativa do Crescimento da População Carcerária
– Total Geral ............................................................................................... 30
Figura 2 - Diagrama do circuito da produção, circulação e consumo dos
produtos culturais ..................................................................................... 38
Lista de Tabelas
Tabela 1 - Descrição das reportagens da série “Apagão
Carcerário” ................................................................................................. 55
Sumário
Introdução .................................................................................................. 10
1. O Telejornalismo na Televisão Brasileira – Histórico e Perfil ........... 12
1.1. A Reportagem no Telejornalismo Brasileiro .............................. 17
1.2. O Telejornalismo da Rede Globo ............................................... 22
1.2.1. O Jornal da Globo ........................................................ 24
2. O Sistema Penitenciário Brasileiro ...................................................... 27
3. Do Circuito da Cultura ao Circuito das Notícias - Pressupostos
Teórico-metodológicos da Pesquisa ....................................................... 33
3.1. A Vertente dos Estudos Culturais .............................................. 35
3.2. O Circuito da Cultura – uma Proposta para Análise de
Notícias.............................................................................................. 37
3.2.1. A Produção ................................................................... 40
3.2.2. O Texto ......................................................................... 44
3.2.3. As Leituras .................................................................... 48
3.2.4. As Culturas Vividas ...................................................... 52
3.3. Metodologia ............................................................................... 54
4. Apagão Carcerário – A Construção da Imagem dos Presídios pela
Mídia ............................................................................................................ 55
4.1. As Reportagens ......................................................................... 58
4.1.1. A Produção .................................................................. 59
4.1.2.1. O Texto – A Reportagem sobre
Corrupção ............................................................................... 61
4.1.2.2. O Texto – A Reportagem sobre Presídios que Dão
Certo ....................................................................................... 64
4.1.3. As Leituras .................................................................... 68
4.1.4. As Culturas Vividas ...................................................... 74
Considerações Finais ................................................................................ 76
Referências Bibliográficas ........................................................................ 78 Apêndice ..................................................................................................... 81 Anexo .......................................................................................................... 85
10
Introdução
O presente estudo buscará identificar como se dão os movimentos de
circulação cultural de duas reportagens exibidas pelo Jornal da Globo, na
série “Apagão Carcerário”.
As premissas teórico-metodológicas centrais a serem utilizadas neste
trabalho foram encontradas nos escritos de Richard Johnson (2006), que
propõe o circuito da cultura como forma de se analisar as etapas por que
passam os produtos culturais, ao serem lançados na sociedade.
Dada a situação em que se encontra o sistema carcerário,
atualmente, cabe aos pesquisadores, das mais diversas áreas, buscar novos
paradigmas para sua reestruturação. Sendo assim, analisar e criticar o modo
como a mídia coloca tal questão em discussão, na sociedade, é tarefa
importante nesse processo.
Pretende-se aqui, de forma geral, confrontar as premissas teóricas de
Johnson (2006) e as reportagens da série “Apagão Carcerário”, a fim de
revelar como elas constroem a imagem dos presídios.
Especificamente, quer-se trabalhar a etapa da produção em torno de
duas temáticas: suas condições e seus meios e as reportagens enquanto
produtos tipicamente capitalistas.
Em relação aos textos, vai-se elaborar suas descrições, bem como a
definição das formas culturais que eles efetivam e tornam disponíveis.
Quanto às leituras, analisar-se-á a posição dos leitores em relação ao
texto e em relação à sociedade, a leitura enquanto produção e à categoria,
enquanto receptor, a que pertence cada entrevistado.
As culturas vividas constituem a última etapa a ser abordada, que
trará uma análise do contexto cultural em que estão inseridos tanto os
produtores quanto os leitores envolvidos no processo cultural.
O primeiro capítulo do presente trabalho vai ocupar-se de expor o
histórico e o perfil do telejornalismo brasileiro, com base nos escritos de
Paternostro (1999), Mattelart (1998) e Piccinin (2004). A relação entre o
telejornalismo e os Estudos Culturais será explicada por meio dos estudos
11
de Gomes (2006). Após, analisar-se-á a reportagem no telejornalismo
brasileiro, com base nos escritos de Squirra (1995) e Sodré e Ferrari (2009,
online). O telejornalismo da Rede Globo e o Jornal da Globo também serão
assuntos deste capítulo, contando com conhecimentos de Mattelart (1998),
Wolton (1996), Guimarães (2008), Becker (2005), Temer (2002) e Miguel
(2009, online).
O segundo capítulo apresentará um panorama geral acerca do
sistema penitenciário brasileiro. O conjunto de abordagens contará com as
idéias de Bitencourt (2001) e Batista (2009, online).
No terceiro capítulo, encontrar-se-á o referencial teórico deste
trabalho, ligado principalmente à obra de Johnson (2006). Além disso, a fim
de esclarecer alguns aspectos relativos à cultura, contar-se-á com a
contribuição de Hall (1997). A trajetória e a linhagem teórica dos Estudos
Culturais serão embasadas nos ensinamentos de Escosteguy (2008) e
Colvara (2006). Para estabelecer a relação entre a definição elaborada por
Johnson (2006) acerca dos produtos culturais e o conceito de notícia, serão
estudados os postulados de Traquina (2005) e Medina (1988). O
entendimento das posições dos receptores, na fase da leitura, será
embasado nas categorias propostas por Hall (2006). E, finalmente, em
relação à etapa das culturas vividas, serão trazidos os estudos de Martín-
Barbero (2001) em torno das mediações culturais.
Por fim, o quarto capítulo cuidará das análises das reportagens sobre
“corrupção” e sobre “presídios que dão certo”, exibidas pelo Jornal da Globo,
na série “Apagão Carcerário”. As hipóteses serão levantadas de acordo com
os pressupostos de Johnson (2006) e serão descritos todos os movimentos
do circuito da cultura, em relação às reportagens.
12
1. O Telejornalismo na Televisão Brasileira – Histórico e Perfil
A explanação acerca da história do telejornalismo brasileiro requer um
apanhado sobre a história da televisão no país, a fim de uma
contextualização para o entendimento do tema. Para descrever a história da
televisão brasileira, utiliza-se, neste estudo, os escritos de Paternostro
(1999) e Mattelart (1998)1.
Urge principiar essa análise com a figura de Assis Chateaubriand é
emblemática na comunicação brasileira, em especial na área televisiva. Em
1950, ele formara, no Brasil, o primeiro grande conglomerado na área de
comunicação: a empresa Diários e Emissoras Associadas. Naquele ano, o
empresário trouxe, ao país, técnicos norte-americanos que instalaram a
tecnologia necessária para a operação do canal de TV PRF-3, mais tarde
batizado como TV Tupi – SP.
A programação inicial da televisão brasileira consistia em filmes,
espetáculos de auditório e noticiários, distribuídos em poucas horas de
transmissão.
Inicialmente o aparelho de televisão era artigo de luxo nos lares
brasileiros, o que fazia a programação televisiva ser direcionada à elite do
país. Aos poucos, foram-se popularizando os aparelhos de televisão, até se
chegar, na década de 1960, à televisão como um dos meios publicitários
mais cobiçados do país, devido ao seu amplo alcance.
Em 1962, tem-se a publicação do primeiro Código de
Telecomunicações no país. Ele ratificou o papel estatal na instalação e
exploração das redes de telecomunicações, bem como o exercício por
empresas privadas da rádioteledifusão.
Já se anunciava uma veemente proximidade entre a comunicação e o
regime militar que seria instaurado no país, em 1964. Isso porque a
1 Cabe ressaltar, de antemão, que a bibliografia aqui utilizada para tratar da história do telejornalismo é relativamente antiga, o que não prejudica o trabalho, uma vez que os dados retirados dessas obras são anteriores a elas. Quanto ao contexto recente do telejornalismo, no Brasil, a fonte é empírica, através da observação da pesquisadora.
13
publicação do código de telecomunicações se deu frente a grandes pressões
da Marinha e do Exército.
Obedecendo à previsão do Código, em 1965, foi criada a Embratel –
Empresa Brasileira de Telecomunicações – com o intuito de desenvolver as
telecomunicações no país. Mattelart (1998, p. 37) aponta a tripla missão
conferida pelo governo à Embratel: “unir os diversos Estados da Federação
através de um sistema de microondas, construir uma estação terrestre de
comunicação por satélite e lançar as bases de uma rede nacional de
televisão”.
Na década de 1970, sob a égide do regime militar, a televisão
brasileira não escapou à censura prévia feita em todos os programas,
independentemente do canal a que pertencessem. Artistas como Dercy
Gonçalves e Chacrinha foram tirados do ar, ao ter seus programas atacados
pela censura.
Mas, os investimentos na área continuavam e, realizadas as
instalações necessárias, em 1972, acontece a primeira transmissão em
cores na televisão brasileira. E, cada vez mais, as redes de
telecomunicações expandiam-se no Brasil, até que em 1978 é inaugurada a
última estação na Amazônia.
Daí em diante, a televisão torna-se parte do cotidiano brasileiro,
sendo o veículo de comunicação de massa mais abrangente e influente na
cultura nacional.
A partir da análise desse contexto, pode-se adentrar especificamente
na história do telejornalismo brasileiro. Paternostro (1999) propõe um
resgate dos grandes telejornais de destaque na televisão brasileira.
O primeiro deles foi o telejornal “Imagens do Dia”, veiculado pela TV
Tupi, em 1950. Ainda com forte influência do texto radiofônico, o telejornal
era produzido a partir de locuções feitas sobre imagens – o que se chama,
na linguagem telejornalística, de off – por Rui Resende que era, também,
produtor e redator do programa. Mais tarde, “Imagens do Dia” foi substituído
pelo novo “Telenotícias Panair”.
14
O sucesso do telejornal na televisão brasileira veio, no entanto, com o
“Repórter Esso”, transmitido pela TV Tupi de São Paulo e do Rio de Janeiro,
entre 1953 e 1970. Na época, eram vendidos espaços na televisão e os
programas produzidos ali acompanhavam o nome das empresas
patrocinadoras. Consagraram-se na apresentação do “Repórter Esso” os
jornalistas Kalil Filho, de São Paulo, e Gontijo Teodoro, do Rio de Janeiro.
Logo após, surge o primeiro telejornal brasileiro veiculado em horário
vespertino, o “Edição Extra”, na TV Tupi – SP. É também nesse telejornal
que aparece a figura do repórter de vídeo pela primeira vez na televisão
brasileira.
Em 1962, a TV Excelsior do Rio de Janeiro lançou o “Jornal de
Vanguarda” que passou, depois, por várias outras emissoras e trouxe um
estilo próprio ao jornalismo de televisão, abandonando os modelos oriundos
do rádio. O Jornal de Vanguarda conquistou lugar de destaque na história do
telejornalismo brasileiro, ao receber, em 1963, o prêmio de melhor telejornal
do mundo. Nessa mesma linha, em 1963, entrou no ar o “Show de Notícias”,
veiculado pela TV Excelsior de São Paulo.
O ano de 1969, contudo, é um marco no telejornalismo brasileiro. Isso
porque a TV Globo começou a transmitir o telejornal que permanece por
mais tempo na televisão brasileira e que está no ar até hoje: o Jornal
Nacional. Ele foi, também, o primeiro telejornal de alcance nacional,
veiculado para todos os estados do Brasil. A liderança de audiência
conquistada pelo Jornal Nacional – que perdura até hoje – pode ser
explicada pelas grandes novidades trazidas por ele: o programa foi o
primeiro a transmitir reportagens em cores e acontecimentos internacionais
em tempo real, via satélite.
A partir dos modelos básicos de telejornal, surgiram propostas
diferentes. O “Bom Dia São Paulo”, da TV Globo, foi ao ar a primeira vez em
1977 e trouxe uma proposta de prestação de serviços ao telespectador. No
programa, os repórteres entravam ao vivo de vários lugares da cidade,
dando informações úteis para o dia-a-dia dos cidadãos.
15
Outra inovação surge com o programa TV Mulher, lançado em 1980,
pela TV Globo. O programa era dedicado ao público feminino, mas com
conteúdo jornalístico, discutindo assuntos polêmicos que, até então, não
eram pauta na televisão.
O telejornal “Bom Dia Brasil” surgiu, logo após, como uma versão
nacional do já consagrado “Bom Dia São Paulo”. O programa era transmitido
de Brasília e tratava de assuntos políticos e econômicos. O telejornal se
mantém no ar até hoje, mas agora transmitido dos estúdios da TV Globo do
Rio de Janeiro, com blocos ao vivo dos estúdios de São Paulo e de Brasília
e com pautas mais variadas.
Em 1988, o SBT trouxe mais uma novidade. Trata-se do jornal “TJ
Brasil”, que utilizou pela primeira vez, no telejornalismo brasileiro, a figura do
âncora2. O jornal era comandado por Boris Casoy que implementou um
estilo próprio voltado ao jornalismo opinativo. Outro grande destaque na
história do telejornalismo do SBT foi o jornal “Aqui e Agora” que entrou no ar
em 1991, com uma linha editorial voltada ao sensacionalismo; o programa
tinha claro o objetivo de conquistar a audiência das classes mais populares.
Na cena atual, nota-se que o telejornalismo brasileiro avançou a tal
ponto que não se pode falar somente em programas puramente
telejornalísticos. Conservam-se os tradicionais telejornais, mas há uma
grande quantidade de programas de variedades com a participação de
repórteres. Sendo assim, torna-se difícil estabelecer um perfil unificado para
as produções telejornalísticas brasileiras. O que se pode dizer, de maneira
mais genérica, é que o telejornalismo brasileiro sofreu fortes influências do
modelo norte-americano, tanto nas questões estéticas quanto nas de
conteúdo. Piccinin argumenta:
O jornalismo brasileiro, tomado pela cartilha americana, trabalha sempre com a defesa da objetividade e imparcialidade, enquanto o jornalismo europeu sempre explicitou seu posicionamento até porque por muito esteve preso ao controle do Estado sofrendo forte influência e por conta disso nunca se admitiu imparcial e objetivo por conhecer essa impossibilidade. (2004, p. 7)
2 Paternostro (1999, p. 37) define o âncora em telejornalismo como aquele que “dirige, apresenta e comenta as notícias do jornal, importada dos telejornais americanos”.
16
Há, todavia, que se destacar a presença das vertentes européias no
telejornalismo brasileiro, nos moldes em que ele se desenvolve atualmente,
mesmo que não seja o formato dominante. Como já destacado, não se pode
resumir o jornalismo televisivo aos tradicionais telejornais. Há programas
diferentes, com cunho opinativo, mais ligados ao modelo europeu do que ao
norte-americano.
Independente da forma como a informação jornalística é veiculada,
na televisão, incontestável é a sua importância na vida dos brasileiros, que
demandam dos diversos tipos de programa a conservação de um espaço
para a informação. Assim, explana Piccinin:
A grande massa da população brasileira não tem acesso aos jornais impressos. De um lado pela limitação financeira, já que comprar jornal diariamente torna-se um “luxo” à grande maioria pertencente às classes populares – e de outro lado, pontencializando este problema, está o limitador do domínio da língua, exigido por quem deseja consumir notícias sob a forma impressa, haja visto o fato de que as taxas de analfabetismo e semianalfabetismo são altas no Brasil. De alguns pontos para o resto do planeta, a TV faz com que a informação mundializada seja consumida por bilhões de pessoas que assistem aos mesmos eventos, assim como se tornem tão ignorantes exatamente dos mesmos fatos que não aparecem na televisão. Dessa maneira, a Tv é centro de excelência. Ela está na sala, no lugar mais privilegiado da estante. (2004, p. 4)
Pode-se perceber, pois, a centralidade da informação televisiva na
formação da cultura dos brasileiros. É através do telejornalismo que a maior
parte das pessoas fica sabendo o que e como acontecem os fatos ou, então,
não fica sabendo, no caso de pautas rechaçadas.
É justamente no relevante papel do telejornalismo enquanto fator
determinante na formação cultural que reside o interesse dos Estudos
Culturais em tomá-lo como objeto de estudo. Gomes ensina como se deve
analisar o telejornalismo na dinâmica dos Estudos Culturais:
Considerar o telejornalismo, então, na perspectiva dos estudos culturais, deve implicar articular suas dimensões técnica, social e cultural, o que garante unidade ao nosso objeto de estudo e um olhar menos preconceituoso ao analista.
17
O (tele)jornalismo, em nossa perspectiva, é uma construção social, no sentido de que ele se desenvolve numa formação econômica, social, cultural particular e cumpre funções fundamentais nessa formação. (2006, p. 2)
Tomado dessa forma, o telejornalismo enquanto objeto de análise,
nos Estudos Culturais, deve ser criticamente enfrentado. Buscando, assim,
observar todo o seu processo de produção como composto por etapas
interdependentes que, conforme as condições em que forem efetuadas,
trarão determinados resultados. Gomes critica as linhas de análise
corriqueiras em telejornalismo:
Acreditamos que a discussão sobre qualidade no telejornalismo poderia se afastar do tom geral de queixume, amadurecer e tornar-se mais produtiva se, ao invés de olharmos isoladamente cada um daqueles eixos que têm pautado a discussão sobre qualidade no Brasil - as questões sobre o controle das emissoras, a função social do jornalismo, a popularização da audiência e a qualidade de imagem e som da TV -, abordássemos essas questões, que são cruciais, na perspectiva da sua interdependência e a partir do exame de como elas incidem sobre programas jornalísticos concretos. (2006, p. 9)
Pode-se perceber a presença da premissa de que, em Estudos
Culturais, deve-se prezar pelo encadeamento dos fatores presentes em um
processo, a fim de se obter uma análise completa e contextual. A qualidade
e as características dos produtos telejornalísticos devem, pois, ser
analisadas em seus mais variados aspectos e com profundidade.
1.1. A Reportagem no Telejornalismo Brasileiro
O presente estudo não tem a pretensão de ser um apanhado técnico
sobre a prática do telejornalismo. Entretanto, as análises que se seguem são
feitas a partir de reportagens e, por assim ser, entende-se importante a
elucidação de algumas questões pontuais ligadas às atribuições do repórter
de televisão e às características e estrutura da reportagem telejornalística.
18
O estudo da reportagem em televisão torna-se mais fácil quando feita
sua comparação com a reportagem do jornal impresso. A principal diferença
entre as duas concentra-se na característica de instantaneidade própria do
telejornalismo. Squirra constata o imediatismo que permeia a atividade diária
do repórter de televisão e argumenta:
Tal situação não acontece com o profissional da imprensa escrita. É freqüente o repórter redigir seu texto horas depois de o fato ter acontecido, após levantar dados complementares e ter checado informações que, num primeiro momento, eram verdadeiras, mas que não suportavam uma segunda análise. (1995, p. 77)
Tal peculiaridade do jornalismo de TV lhe faz sofrer duras críticas.
Pois, em muitos casos, pela exiguidade de tempo em que são feitas, as
matérias são veiculadas com conteúdo limitado e superficial, tornando sem
subsídios o entendimento do telespectador acerca dos fatos.
As diferenças também são notórias em relação ao próprio jornalista. A
presença do repórter se consagrou, na televisão, muito tempo depois de já
haver lugar garantido para ele no jornalismo impresso.
No início do telejornalismo, os repórteres vinham dos jornais
impressos e tinham muita resistência em aparecer no vídeo. Assim, apenas
produziam a reportagem. Mais tarde, a reportagem em TV começa a se
desapegar das práticas advindas dos meios impressos e adquire técnicas
próprias. O jornalista passa a ser o “apresentador” da reportagem, com
aparições em meio a ela, chamadas de “passagens” ou “boletins”.
Há alguns comportamentos que devem ser seguidos pelo jornalista
que atua na televisão, a fim de que suas reportagens se tornem aptas ao
meio em que serão veiculadas. É o que Squirra (1995) chama de
“atribuições do repórter de televisão”.
Inicialmente, para coletar material que dê base a sua reportagem, o
jornalista deve entrevistar pessoas que tenham declarações relevantes
sobre o assunto que será tratado. As sonoras, como são chamadas as
entrevistas em televisão, poderão tanto servir como base de dados para as
informações que o repórter passará, como poderão integrar parte da
19
reportagem, para fins de ilustração. A respeito das entrevistas, Squirra
salienta:
O repórter deverá desenvolver a capacidade de achar e escolher a pessoa ideal para falar, e que, além disso, saiba expressar seu pensamento de forma clara e concisa. Falando pouco e bem, enfim, que consiga dar seu “recado” curta e objetivamente. O repórter de televisão não pode deixar o entrevistado falar à vontade, usando o tempo que queira para desenvolver uma idéia. Na realização da reportagem ele deverá memorizar o tempo que o entrevistado está levando para responder a cada pergunta. E saber escolher o momento certo de interromper o entrevistado [...]. (1995, p. 77)
Outra das preocupações que o repórter deve ter na construção de
uma matéria é com a produção de contraplanos, os quais irão auxiliar na
posterior edição. Squirra (1995, p.78) explica que os contraplanos são
enquadramentos onde o repórter, obedecendo à regra dos 180º [...], refaz as
perguntas inicialmente apresentadas ao entrevistado.
Além disso, o repórter precisa se atentar para realização de uma
abertura e de um encerramento da reportagem, de forma interessante aos
olhos do telespectador, no palco onde acontece sua reportagem. Squirra
exemplifica como devem ser feitas a abertura e o encerramento da
reportagem:
Tudo muito bem dosado e interligado, com “pontes” que façam evoluir a matéria sem repetir informações. Sobretudo quando houver mudança do palco da ação, pois, geralmente, a reportagem é feita num local, a abertura em outro e o encerramento em um outro terceiro. As mudanças de cenário são importantes e úteis para a matéria. (1995, p.78)
É relevante, também, que o repórter estruture sua matéria com uma
parte em off que, segundo Squirra, pode assim ser definido:
Trata-se da parte constituída somente de informações em áudio, sem imagem do repórter ou do assunto em pauta. Entretanto, o repórter de televisão deve levar em conta que o texto em off servirá para aprofundar o tema tratado em todas as suas dimensões e deverá ser ilustrado, na edição, com imagens sobre o assunto. (1995, p.79)
20
Dessa forma, para produzir uma reportagem de qualidade, deve o
jornalista seguir as atribuições acima mencionadas, que são de cunho
técnico, mas também preocupar-se com o conteúdo daquilo que vai tratar.
Sodré e Ferrari destacam a importância do conteúdo da reportagem:
[...] sem um ‘quem’ e um ‘o quê’, não se pode narrar. Na reportagem, estes dois elementos têm de existir, mas têm, sobretudo, de despertar interesse humano – ou não serão suficientes para sustentar a problemática narrativa. (2009, online, p. 14)
Por assim ser, toda reportagem deve ter um núcleo de interesse que
desperte a atenção do telespectador, para quem ela está sendo direcionada.
Ela se torna um bom material quando reúne elementos de técnica e de
conteúdo que, harmonicamente, conseguem transmitir plenamente a
informação.
Vale ressaltar, ainda, as principais características da reportagem,
conforme apontam Sodré e Ferrari (2009, online), sejam elas: a
predominância da forma narrativa, a humanização do relato, o texto de
natureza impressionista e a objetividade dos fatos narrados. Explicam eles:
A humanização do relato, pois, é tanto maior quanto mais passa pelo caráter impressionista do narrador. Diretamente ligada à emotividade, a humanização se acentuará na medida em que o relato for feito por alguém que não só testemunha a ação, mas também participa dos fatos. O repórter é aquele “que está presente”, servindo de ponte (e, portanto, diminuindo a distância) entre o leitor e o acontecimento. Mesmo não sendo feita em 1ª pessoa, a narrativa deverá carregar em seu discurso um tom impressionista que favoreça essa aproximação. Ao lado disso, os fatos – e as referências a que estão ligados – serão relatados com precisão, garantindo, mais ainda, a verossimilhança. (2009, online, p. 15)
Por fim, em relação à estrutura da reportagem jornalística para a
televisão, pode-se dizer que ela é composta pela combinação de imagens e
texto, com ou sem a aparição do repórter.
Há quatro possibilidades de a figura do repórter estar presente na
matéria: através da abertura, da passagem, do boletim ou do encerramento.
A abertura e o encerramento da reportagem, no entanto, excepcionalmente
21
são feitos com a presença do repórter. Já a passagem e o boletim são
mecanismos utilizados rotineiramente, pois servem para dar credibilidade à
matéria, através da figura do repórter, que aparece complementado as
informações já trazidas por imagens em off e entrevistas.
Cabe ressaltar, contudo, que uma reportagem bem estruturada não é
somente aquela que combina de forma adequada os recursos que podem
ser utilizados – abertura, sonora, off, boletim, passagem, encerramento –,
mas também aquela que se atenta para a definição prévia de como será
feita a reportagem.
O preparo dos equipamentos, como câmera e microfone, bem como a
destreza para lidar com eles, são de suma importância para que uma pauta
seja levada adiante. E, em relação ao conteúdo do assunto que será tratado,
a realização de pesquisas prévias é imprescindível, a fim de que possam ser
definidos os enfoques que a reportagem dará ao tema central.
E, finalmente, deve o jornalista de TV atentar-se para o uso de uma
linguagem adequada que obedeça às seguintes normas básicas para o
telejornalismo: clareza, precisão, concisão e imparcialidade.
A clareza diz respeito à utilização de palavras simples, limpas, de
entendimento fácil e acessível a todas as pessoas. Isso não importa, porém,
no uso de uma linguagem pobre ou coloquial.
A precisão da informação a ser passada tem direta relação com o
acervo de informações que o jornalista preserva sobre o assunto que está
abordando. Para ser preciso, o repórter tem de se informar e trazer fatos e
dados relevantes ao telespectador, que lhe possibilitem um pleno
entendimento do tema.
Em relação à concisão, deve-se levar em conta que a televisão, por
suas características peculiares, exige que as informações sejam passadas
de forma relativamente rápidas, sem que se deixe para trás partes
importantes. Sendo assim, o texto para TV deve ser objetivo, sem demasia
de dados desnecessários.
A imparcialidade, aqui, não deve ser entendida como sinônimo de
neutralidade, inatingível na prática do jornalismo. Imparcialidade é o dever
22
que o jornalista tem de procurar mostrar ao telespectador todos os lados da
informação que está sendo passada, sem favorecer qualquer dos
posicionamentos abordados, independente de sua posição pessoal acerca
da questão.
1.2. O Telejornalismo da Rede Globo
A história da Rede Globo começou quando, em 1957, o fundador da
empresa, Roberto Marinho, conseguiu uma concessão para um canal de
televisão, autorizada pelo presidente Juscelino Kubitschek. Porém, a TV
Globo só entrou no ar 1965.
Nesse mesmo ano, o grupo de Roberto Marinho entrou em
negociações com a empresa estrangeira de multimídia Time-Life. Os
contratos entre a Globo e a Time-Life contrariaram a Constituição Federal
que previa a proibição de aporte de capital estrangeiro em empresas do
ramo da Comunicação Social.
Portanto, para que fosse autorizada a transação, o presidente Castelo
Branco interveio manifestamente. A partir de então, conforme Mattelart
(1998, p. 40), “o grupo americano investia mais de 5 milhões de dólares e
colocava à disposição da jovem emissora seu conhecimento técnico,
administrativo e comercial”.
Já com um fôlego financeiro, em 1969, Roberto Marinho comprou a
parte da Rede Globo que pertencia à Time-Life. É a partir daí que a Rede
Globo passou a ter alcance nacional, pois começou a implantação do
sistema network que se trata da compra ou contratação de emissoras em
todo país para retransmitir sua programação e produzir programação local
na linha da emissora, como emissoras afiliadas.
Para Mattelart, a televisão brasileira começou a se profissionalizar
com o desenvolvimento da TV Globo. Assim, exemplifica:
[...] a Globo empreenderá uma reflexão sobre o mercado. Será a primeira a criar departamentos de pesquisa, marketing e de
23
formação. Também será a primeira a criar um departamento de relações internacionais. (1998, p. 41)
Sendo assim, a TV Globo caracterizou-se por ser o “modelo de
empresa de comunicação” de acordo com os ditames do regime militar. E,
dessa forma, quaisquer outras que não obedecessem às regras estavam
fadadas ao insucesso. Foi o que aconteceu com a TV Tupi, que perdeu a
concessão em 1980, por não se curvar aos mandamentos da ditadura
militar.
Nesse contexto, a Rede Globo deixou de ser somente um canal de
televisão e passou a formar um grupo multimídia, com empresas em todas
as áreas da Comunicação Social.
Para Wolton (1996) há uma hegemonia da TV Globo na sociedade
brasileira, ao passo que ela influencia de forma decisiva na formação cultural
do país. Ressalta ele que “a Globo é um dos símbolos da identidade
brasileira: gosto pela modernização, pelo desafio, influência norte-
americana, vontade de se distinguir” (1996, p. 159).
Wolton (1996) atribui o sucesso da TV Globo, dentre outros fatores, a
uma programação dirigida para todas as camadas da população. Essa
“posição dominante” da TV Globo, no entanto, não é vista por todos os
autores como algo positivo, ao passo que, invariavelmente, pode ser vista
como fonte de alienação cultural da população brasileira.
Especificamente na área do telejornalismo, a TV Globo destaca-se
como a emissora que conseguiu manter por mais tempo um telejornal no ar.
O Jornal Nacional, que até hoje permanece como líder de audiência no seu
horário, é uma das principais fontes de informação da população brasileira.
Isso, pode-se dizer, decorre de uma tradição criada em torno do
Jornal Nacional, que lhe dá credibilidade junto ao telespectador. A
explicação pode ser dada tanto pelo tempo em que ele está no ar, o que faz
o telespectador saber que ali sempre encontrará a informação, quanto pelo
alcance da TV Globo, enquanto canal aberto.
Guimarães fala da função do Jornal Nacional enquanto agente
“integrador” da nação brasileira:
24
Dada a credibilidade que o JN alcançou no país, em razão de uma série de motivos sócio-históricos, é plausível dizer que o telejornal foi um dos principais investidores, na construção do senso de pertença a “família” nacional, em que pese a polêmica tese de parceria da Rede Globo com os ideais de integração nacional do Regime Militar, que teria sido alavancada especialmente via JN. (2008, p.6)
Dessa forma, percebe-se o papel central que o Jornal Nacional exerce
na formação da cultura brasileira, desde sua criação, quando foi eleito pela
TV Globo como principal produto telejornalístico da emissora.
A hegemonia do Jornal Nacional é explicada, no entanto, pela sua
ligação com histórica com os governos, segundo explica Becker:
O Jornal Nacional tem sido historicamente ligado aos governos, incluindo o período da ditadura militar (1964-1985), ganhando, por isso, a reputação de voz oficial do Brasil. Mas, a sociedade brasileira mudou e este telejornal também precisou mudar para reconquistar pontos expressivos de audiência perdidos anteriormente, investindo em novas linhas editorias. (2005 p.59)
A mudança citada pela autora foi necessária pelo fato de que as
outras emissoras deram saltos de qualidade em telejornalismo e acabaram
por desviar a audiência do Jornal Nacional. Mas não só na linha editorial do
Jornal Nacional a TV Globo traçou novos rumos. O investimento em outros
telejornais da emissora também foi estratégia para manter sua hegemonia
no telejornalismo brasileiro.
1.2.1. O Jornal da Globo
Sendo o último telejornal do dia veiculado pela TV Globo, o Jornal da
Globo – JG – é exibido de segunda à sexta-feira, em horário noturno flexível,
pois varia de acordo com a duração da programação que o antecede.
Geralmente, ele é veiculado próximo às 23 horas. A reunião de pauta do
jornal ocorre em torno das 16:30 horas, a fim de definir os fatos que
aconteceram no dia e serão tratados de forma mais analítica no JG.
25
Temer analisou duas semanas de Jornal da Globo e conclui que ele
se estrutura da seguinte forma:
A maior parte do telejornal foi destinada a matérias informativas, tendo o gênero opinativo se limitado a quatro comentários e quatro crônicas. Transmitido de São Paulo, é o telejornal da reflexão. Nas matérias informativas, a reportagem é o formato com maior índice, mas o telejornal se destaca pela pouca variedade nos formatos. O Jornal da Globo apresentou uma maior incidência do tipo de repercussão. O tipo de serviço veio em segundo lugar em ambas as semanas, mas alcançou o menor índice quando somado o percentual do tempo. Em função do horário, é comum esse telejornal ter como matéria principal o resultado de partida(s) de futebol realizada(s) pouco antes. Na somatória do percentual de notícias, ele foi semelhante aos demais telejornais da casa e chegou mesmo a ser superior na segunda semana. Mas houve pouco espaço para denúncias e, numa observação qualitativa, apenas uma matéria pôde ser considerada uma verdadeira denúncia. O tipo misto de serviço/interesse humano esteve na média dos demais telejornais. O Jornal da Globo apresentou a terceira maior soma de matérias jornalísticas nas matérias internacionais. Na somatória dos tempos, ficou evidenciada a maior incidência de notas. Na primeira semana, considerando a origem das matérias nacionais, São Paulo ocupou a primeira posição, seguido de Brasília ou Rio de Janeiro. Na segunda semana, foi aberto espaço para Minas Gerais (assassinato múltiplo), Pará (seqüestro de turistas) e Pernambuco (chuvas no Nordeste). Na origem das matérias internacionais houve uma inversão das posições da Comunidade Européia com os Estados Unidos e Canadá. Também foi alta a média do assunto “esportes”, principalmente em função dos jogos de futebol à noite. A economia foi majoritária em número de matérias na primeira e na segunda semana, mas perdeu espaço na somatória dos tempos na segunda semana. (2002, p. 125)
Passando a uma análise mais crítica, em relação aos conteúdos
tratados pelo Jornal da Globo, Miguel argumenta:
Os trabalhadores comuns, que ligam a TV depois do jantar, devem se contentar com o Jornal Nacional. A minoria que pode ficar acordada até tarde (e que é a mesma, imagina-se, que tem acesso à mídia impressa) merece um noticiário um pouco mais aprofundado. A lição é: só se deve dar informação àqueles que já a têm. (2009, online, p.58)
26
Mas nem só pelo perfil do telespectador é que o Jornal da Globo,
dentro da cadeia de programas de telejornalismo da emissora, é o que mais
aprofunda as pautas trazidas. É, também, por conta do horário em que ele é
veiculado que, para não se tornar repetitivo, precisa diferenciar o trato dos
fatos que já foram noticiados nos outros telejornais.
Apesar de ter de tratar de forma mais elaborada suas pautas, não é
comum que haja no Jornal da Globo matérias prolongadas, com riqueza de
informações. Isso porque esse tipo de reportagem foge, até mesmo, da linha
adota pela TV Globo para o seu telejornalismo que segue o modelo norte-
americano, prezando pela objetividade.
Há, todavia, algumas reportagens especiais, mais produzidas, com
maior coleta de dados, apresentadas geralmente em formato de série. É o
caso das reportagens que serão analisadas neste estudo, que formaram
uma série de matérias produzidas em torno de um assunto que estava em
voga naquela época.
Portanto, optou-se por não trazer, neste item, um estudo
aprofundando acerca da estrutura técnica do Jornal da Globo. Visto que isso
seria útil a um trabalho que esmiuçasse o noticiário como um todo,
diferentemente do que se pretende fazer neste estudo.
27
2. O Sistema Penitenciário Brasileiro
A pessoa que comete crime, no Brasil, pode ser condenada a tipos
variados de pena, bem como a cumpri-la em locais diversos. O sistema
prisional brasileiro é composto pelas seguintes espécies de
estabelecimentos, conforme informações do Ministério da Justiça3:
a) Estabelecimentos Penais: todos aqueles utilizados pela Justiça com a finalidade de alojar pessoas presas, quer provisórios quer condenados, ou ainda aqueles que estejam submetidos à medida de segurança; b) Estabelecimentos para Idosos: estabelecimentos penais próprios, ou seções ou módulos autônomos, incorporados ou anexos a estabelecimentos para adultos, destinados a abrigar pessoas presas que tenham no mínimo 60 anos de idade ao ingressarem ou os que completem essa idade durante o tempo de privação de liberdade; c) Cadeias Públicas: estabelecimentos penais destinados ao recolhimento de pessoas presas em caráter provisório, sempre de segurança máxima; d) Penitenciárias: estabelecimentos penais destinados ao recolhimento de pessoas com condenação [definitiva] à pena privativa de liberdade em regime fechado;
d.1) Penitenciárias de Segurança Máxima Especial:
estabelecimentos penais destinados a abrigar pessoas presas com condenação em regime fechado, dotados exclusivamente de celas individuais;
d.2) Penitenciárias de Segurança Média ou Máxima:
estabelecimentos penais destinados a abrigar pessoas presas com condenação em regime fechado, dotados de celas individuais e coletivas; e) Colônias Agrícolas, Industriais ou Similares: estabelecimentos penais destinados a abrigar pessoas presas que cumprem pena em regime semi-aberto; f) Casas do Albergado: estabelecimentos penais destinados a abrigar pessoas presas que cumprem pena privativa de liberdade em regime aberto ou pena [restritiva de direitos] de limitação de fins de semana;
3 Dados obtidos junto ao site do Ministério da Justiça. Disponível em: <http://www.mj.gov.br/data/Pages/MJD574E9CEITEMIDC37B2AE94C6840068B1624D28407509CPTBRIE.htm>. Acesso em: 17 de jun. 2009.
28
g) Centros de Observação Criminológica: estabelecimentos penais de regime fechado e de segurança máxima onde devem ser realizados os exames gerais e criminológico, cujos resultados serão encaminhados às Comissões Técnicas de Classificação, as quais indicarão o tipo de estabelecimento e o tratamento adequado para cada pessoa presa; h) Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico: estabelecimentos penais destinados a abrigar pessoas submetidas a medida de segurança.
Tal sistema, todavia, não funciona como foi planejado. Em muitas
localidades, há somente a penitenciária que, além de abrigar as pessoas
condenadas à pena privativa de liberdade em regime fechado, confina
sujeitos com situações peculiares, os quais deveriam estar em locais
diferenciados. Essa, contudo, é apenas uma das faces da crise que vive o
sistema penal brasileiro4.
É consenso na doutrina a situação caótica das penitenciárias
brasileiras. Para Bitencourt (2001, p. 154), a questão da ineficácia da pena
de prisão deve ser discutida não mais com base em teorias e normas, mas
sim conforme o que se mostra na realidade, “[...] em função da pena tal
como hoje se cumpre e se executa, com os estabelecimentos penitenciários
que temos, com a infra-estrutura e dotação orçamentária de que dispomos
[...]”.
Bitencourt salienta o entusiasmo gerado pela pena de prisão, quando
de seu surgimento como resposta à delinquência:
Quando a prisão converteu-se em resposta penológica, especialmente a partir do século XIX, acreditou-se que poderia ser um meio adequado para conseguir a reforma do delinqüente. Durante muitos anos imperou um ambiente otimista, predominando a firme convicção de que a prisão poderia ser meio idôneo para realizar todas as finalidades da pena e que, dentro de certas condições, seria possível reabilitar o delinqüente. Esse otimismo inicial desapareceu e atualmente predomina certa atitude pessimista, que já não tem muitas esperanças sobre os resultados que se possam conseguir com a prisão tradicional. (2001, p. 154)
4 As penitenciárias são o objeto de estudo deste trabalho, uma vez que elas compõem o tema das reportagens que posteriormente serão analisadas. Vale ressaltar, todavia, que o presente capítulo dará ênfase às penitenciárias, mas também trará uma abordagem geral sobre o sistema penal, uma vez que se torna indispensável para o seu entendimento a análise global do funcionamento dos estabelecimentos que o compõe.
29
É notório, pois, pelo aumento assustador da criminalidade no país,
que a pena de prisão se tornou uma resposta insatisfatória à criminalidade e,
ao contrário, tem servido na maior parte dos casos como incentivo à
reincidência.
Assim, a pena de prisão tem-se mostrado totalmente ineficaz em
relação à função ressocializadora que deveria exercer. E, ao contrário do
que muitas vezes se prega, a crise da pena privativa de liberdade tomou
proporções globais e é problema não só dos países subdesenvolvidos, mas
também das nações desenvolvidas, pertencentes ao chamado “primeiro
mundo”. Bitencourt aponta minuciosamente os principais problemas
enfrentados nas prisões:
[...] maus-tratos verbais (insultos, grosserias etc) ou de fato (castigos sádicos, crueldades injustificadas e vários métodos sutis de fazer o recluso sofrer sem incorrer em evidente violação do ordenamento etc); superpopulação carcerária, o que também leva a uma drástica redução do aproveitamento de outras atividades que o centro penal deve proporcionar (a população excessiva reduz a privacidade do recluso, facilita grande quantidade de abusos sexuais e de condutas inconvenientes); falta de higiene (grande quantidade de insetos e parasitas, sujeiras e imundícies nas celas, corredores, cozinhas etc); condições deficientes de trabalho, que podem significar uma inaceitável exploração dos reclusos ou o ócio completo; deficiência nos serviços médicos, que pode chegar, inclusive, a sua absoluta inexistência; assistência psiquiátrica deficiente ou abusiva (em casos de delinqüentes políticos ou dissidentes pode-se chegar a utilizar a psiquiatria como bom pretexto “científico” para impor determinada ordem ou convertê-lo em um “castigo civilizado”); regime alimentar deficiente; elevado índice de consumo de drogas, muitas vezes originado pela venalidade e corrupção de alguns funcionários penitenciários, que permitem e até realizam o tráfico ilegal de drogas; reiterados abusos sexuais, nos quais normalmente levam a pior os jovens reclusos recém-ingressos, sem ignorar, evidentemente, os graves problemas de homossexualismo e onanismo; ambiente propício à violência, em que impera a utilização de meios brutais, onde sempre se impõe o mais forte.
Diante dessa realidade, os presídios são locais passíveis de tornarem
as condições psicológicas e físicas do indivíduo muito piores em relação à
sua situação quando do ingresso no estabelecimento. Os gráficos abaixo
demonstram o crescimento do número de pessoas presas nos últimos anos:
30
Figura 1 – Tabela Comparativa do Crescimento da População Carcerária – Total Geral. Fonte: Comissão de Monitoramente e Avaliação – GAB/DEPEN, Dados Consolidados, Ministério da Justiça, 2008, p. 44
Depreende-se disso que, se os presídios cumprissem sua função
enquanto local de reabilitação de criminosos, os índices de pessoas presas
deveriam diminuir, bem como a criminalidade em geral. A realidade tem ido
na direção inversa e os presídios se tornaram verdadeiras “escolas do
crime”.
No entanto, a discussão a ser travada não deve estar ligada a
movimentos “abolicionistas” de um lado e “lei e ordem” do outro. O certo é
que o sistema prisional, tal qual está concebido hoje, não dá certo e precisa
de novos rumos. A busca de paradigmas alternativos para o Direito Penal
deve ser, pois, o centro das discussões acerca do sistema prisional.
Batista analisa a relação entre os sistemas de capitalismo tardio e as
prisões em massa:
[...] O empreendimento neoliberal, capaz de destruir parques industriais nacionais inteiros, com conseqüentes taxas alarmantes de desemprego; capaz de “flexibilizar” direitos trabalhistas, com a inevitável criação de subempregos; capaz de, tomando a insegurança econômica como princípio doutrinário, restringir aposentadoria e auxílios previdenciários; capaz de, em nome da competitividade, aniquilar procedimentos subsidiados sem considerar o custo social de seus escombros, o empreendimento neoliberal precisa de um poder punitivo onipresente e capilarizado, para o controle penal dos contingentes humanos que ele mesmo marginaliza. (2009, online, p.3)
31
Extrai-se de todo o exposto a estreita relação que se estabelece entre
o capitalismo e os sistemas prisionais, pois é através destes que se
consegue dar destino às pessoas que ficam à margem das condições
“normais” de vida oferecidas pelo sistema.
Como sustentáculo dessa parceria entre o capitalismo e o sistema
penal, Batista defende que a mídia tem papel central e assim expõe:
O novo credo criminológico da mídia tem seu núcleo irradiador na própria idéia de pena: antes de mais nada, crêem na pena como rito sagrado de solução de conflitos. Pouco importa o fundamento legitimante: se na universidade um retribucionista e um preventista sistêmico podem desentender-se, na mídia complementam-se harmoniosamente. Não há debate, não há atrito: todo e qualquer discurso legitimante da pena é bem aceito e imediatamente incorporado à massa argumentativa dos editoriais e das crônicas. Pouco importa o fracasso histórico real de todos os preventivismos capazes de serem submetidos à constatação empírica, como pouco importa o fato de um retribucionismo puro, se é que existiu, não passar de um ato de fé [...]. (2009, online, p. 3 e 4)5
E, sendo assim, nota-se que à mídia, enquanto instituição influente na
formação cultural da sociedade, é reservado um papel central na incitação
da discussão acerca da realidade penitenciária brasileira.
Mas, ao contrário do que se espera, a questão carcerária
seguidamente é tratada pelos veículos de comunicação de forma a ratificar
as sentenças do senso comum que, via de regra, são ligadas à ideia de que
se deve prender cada vez mais, sem se preocupar com as condições em
que se faz isso e se tais atitudes estão surtindo os efeitos adequados.
Os programas de televisão, que deveriam buscar a imparcialidade no
trato da informação, não buscam trazer ao telespectador subsídios para uma
discussão profunda sobre as causas da violência e do aumento da
criminalidade. Ao contrário, desviam o foco do problema, unificando a causa
5 O retribucionismo e o preventismo de que trata o autor dizem respeito às correntes de pensamento sobre a função da pena. Para os retribucionaistas, a pena serve como resposta da sociedade, representada pelo Estado, ao indivíduo que descumpriu as normas por ela estabelecidas. Já para os preventistas, a pena serve como mecanismo de coação, ao passo que as punições aos que cometem crimes serviriam como exemplo para os demais não o fazerem.
32
da delinquência como sendo ela decorrente somente de caráter do sujeito
que cometeu determinado crime. Nesse sentido, explana Batista:
Cumpre reconhecer que quando o jornalismo deixa de ser uma narrativa com pretensão de fidedignidade sobre a investigação de um crime ou sobre um processo em curso, e assume diretamente a função investigatória ou promove uma reconstrução dramatizada do caso – de alcance e repercussão fantasticamente superiores à reconstrução processual –, passou a atuar politicamente. (2009, online, p. 5 e 6)
Ocorre, porém, que no Brasil é que acompanhamos um processo de
inversão de funções em que programas de televisão realizam a investigação
de crimes, para torná-los assunto próprio à conquista de maior audiência. E,
assim, muitas vezes, a mídia fantasia as histórias reais e leva à sociedade
uma verdade simbólica que serve de base a conclusões e julgamentos
prévios, sem qualquer base correspondente com os dados obtidos na
investigação oficial.
33
3. Do Circuito da Cultura ao Circuito das Notícias - Pressupostos
Teórico-metodológicos da Pesquisa
Estudar a cultura, em seus mais variados aspectos, nunca foi tão
importante como no momento em que vive a sociedade atualmente. A
revolução cultural, ocorrida no século XX, tornou a cultura um elemento-
chave na organização da sociedade, tanto em relação aos atos mais simples
da vida cotidiana, quanto em relação aos centros de poder político e
econômico. Isso se deve, invariavelmente, aos novos paradigmas trazidos
pelo processo de globalização, em que a cultura tomou proporções globais.
Hall analisa as características da nova sociedade global:
Os meios de produção, circulação e troca cultural, em particular, têm se expandido, através das tecnologias e da revolução da informação. Uma proporção ainda maior de recursos humanos, materiais e tecnológicos no mundo inteiro são direcionados diretamente para estes setores. Ao mesmo tempo, indiretamente, as indústrias culturais têm se tornado elementos mediadores em muitos outros processos. A velha distinção que o marxismo clássico fazia entre a “base” econômica e a “superestrutura” ideológica é de difícil sustentação nas atuais circunstâncias em que a mídia é, ao mesmo tempo, uma parte crítica na infra-estrutura material das sociedades modernas, e, também, um dos principais meios de circulação das idéias e imagens vigentes nestas sociedades. (1997, p. 17)
Daqui depreende-se que a cultura, antes tida apenas como um
aspecto da sociedade que ao ser combinado a outros fatores formaria um
objeto de estudo relevante para as ciências humanas e sociais, hoje exerce
um papel central na sociedade globalizada. A partir daí, surge o conceito de
“centralidade da cultura”, trabalhado por Hall (1997), em que se analisa a
importância da cultura enquanto constitutiva de todos os aspectos da vida
social.
Hall trabalha a cultura delimitando-a em duas acepções coexistentes,
através do seu caráter substantivo e do seu caráter epistemológico:
Por “substantivo”, entendemos o lugar da cultura na estrutura empírica real e na organização das atividades, instituições, e relações culturais na sociedade, em qualquer momento histórico
34
particular. Por “epistemológico” nos referimos à posição da cultura em relação às questões de conhecimento e conceitualização, em como a “cultura” é usada para transformar nossa compreensão, explicação e modelos teóricos do mundo. (1997, p. 16)
Em se tratando da dimensão substantiva da cultura, há de se
observar quatro aspectos.
Primeiramente, cabe destacar a questão da “ascensão dos novos
domínios, instituições e tecnologias associadas às indústrias culturais que
transformaram as esferas tradicionais da economia, indústria, sociedade e
da cultura em si” (Hall, 1997, p. 27). Aqui, enfatiza-se a mídia enquanto
responsável pela circulação global de informações e, consequentemente,
pela formação de uma cultura global massificada.
Há, também, o aspecto da cultura como uma “força de mudança
histórica e global” (Hall, 1997, p. 27) que, combinada à compressão espaço-
tempo, torna fácil a assimilação das mais diversas formas culturais,
resultando em uma tendente homogeneização cultural. Assim, as mudanças
culturais podem ser vistas como fatores determinantes das mudanças
sociais.
Outro aspecto a ser analisado diz respeito à “transformação cultural
do quotidiano” (Hall, 1997, p. 27). As mudanças culturais, além de
analisadas na esfera global, devem ser consideradas enquanto influentes no
dia-a-dia local das comunidades e das pessoas, em geral.
Por último, necessário é que se considere a “centralidade da cultura
na formação das identidades pessoais e sociais” (Hall, 1997, p. 27). De
forma que a identidade de um indivíduo nada mais é do que os modos de
vida já sedimentados ou em formação na cultura da sociedade que ele
escolhe para seguir, para adotar como sua identidade.
Já na dimensão epistemológica da cultura, considera-se a revolução
havida em relação ao modo de a humanidade pensar a cultura, o que Hall
chama de “virada cultural”. Para ele:
Refere-se a uma abordagem da análise social contemporânea, que passou a ver a cultura como uma condição constitutiva da vida social, ao invés de uma variável dependente, provocando, assim, nos
35
últimos anos, uma mudança de paradigma nas ciências sociais e nas humanidades, que passou a ser conhecida como a “virada cultural”. (1997, p. 27)
Por assim ser, o processo de criação e transformação da cultura na
sociedade é complexo, tanto em suas etapas quanto em suas
consequências. O que chama a atenção de várias áreas de estudos
acadêmicos, como a dos Estudos Culturais.
3.1. A Vertente dos Estudos Culturais
Os Estudos Culturais6 surgem como uma perspectiva teórico-
metodológica que pretende abordar da forma mais ampla possível a
complexidade da produção cultural humana, em suas diversas
manifestações.
Escosteguy (2008, p. 152) explica que os Estudos Culturais formaram
seus princípios básicos, enquanto teoria, através dos escritos de Richard
Hoggart, Raymond Williams e E. P. Thompson. Apesar dos diferentes
enfoques dados pelos precursores em seus estudos, eles convergem em
dois pontos.
Primeiramente, é unânime a idéia de que se deve analisar a produção
cultural humana, através de suas formas textuais e documentadas, para
reconstruir o comportamento da sociedade e as ideologias nela existentes.
Parte-se, portanto, de uma perspectiva da atividade humana, da produção
ativa e não da análise do consumo passivo.
Outro ponto de concordância entre os teóricos encontra-se na
afirmação de que as práticas culturais apresentam-se simultaneamente
como formas simbólicas e materiais, situadas, portanto, no espaço social e
6 Os Estudos Culturais tiveram início na efervescência dos movimentos sociais, no final dos anos 1950, na Inglaterra. A criação do Centre for Contemporary Cultural Studies (CCCS) – curso de pós-graduação ligado ao English Department da Universidade de Birmingham, em 1964, introduz os Estudos Culturais como alternativa teórico-metodológica para o estudo destas novas características da sociedade, tendo em vista o contexto de mudanças culturais trazido pelo pós-guerra, na Inglaterra.
36
econômico. Surge, a partir dessas idéias, a influência do marxismo nos
Estudos Culturais. Escosteguy salienta, no entanto, a preocupação em não
se estabelecer uma relação de determinismo da economia em relação à
cultura:
[...] os Estudos Culturais atribuem à cultura um papel que não é totalmente explicado pelas determinações da esfera econômica. A relação entre marxismo e os Estudos Culturais inicia-se e desenvolve-se através da crítica de um certo reducionismo e economicismo daquela perspectiva, resultando na contestação do modelo base-superestrutura. A perspectiva marxista contribuiu para os Estudos Culturais no sentido de compreender a cultura na sua “autonomia relativa”, isto é, ela não é dependente das relações econômicas, nem seu reflexo, mas tem influência e sofre consequências das relações político-econômicas. (2008, p. 156)
Outro aspecto a ser destacado acerca dos Estudos Culturais diz
respeito à multiplicidade de disciplinas abordadas, de forma conjunta, nos
seus objetos de estudo. Uma vez que a teoria dos Estudos Culturais
pretende extrapolar os limites teóricos e metodológicos de uma ou outra
disciplina e propor uma análise mais integrada, quanto possível.
Colvara caracteriza os Estudos Culturais:
Trata-se de estudos analíticos e críticos, da cultura popular e de massa em seus produtos criados que refletem os discursos sociais hegemônicos, como também os movimentos de resistência culturais originados nas culturas populares. Os Estudos Culturais vêem nas manifestações culturais diversas articulações de posições ideológicas específicas com grande grau de complexidade, pois em determinado momento servem aos interesses da hegemonia dominante, em outro, como resistência às formas dominantes de cultura e sociedade. (2006, p. 1)
Tendo por base essas características, os Estudos Culturais espraiam-
se pelo mundo, com raiz na vertente britânica, mas desenvolvendo-se por
todos os outros continentes. Nesse sentido, Escosteguy (2008, p. 168)
argumenta que eles “não se confinam mais à Inglaterra e Europa nem aos
Estados Unidos, tendo se alastrado para a Austrália, Canadá, Nova
Zelândia, América Latina e também para a Ásia e África”.
37
Mesmo considerada a transdisciplinariedade dos Estudos Culturais,
necessário é que se estabeleça sua ligação com o campo da Comunicação.
Escosteguy (2008) e Colvara (2006) realizam um apanhado histórico acerca
da evolução do objeto de estudo dos Estudos Culturais, na área da
Comunicação, prescindível neste estudo.
Cabe salientar, porém, a última etapa desta evolução onde estão
inseridos os estudos mais recentes sobre Comunicação com vertente nos
Estudos Culturais. Centram-se, pois, tais pesquisas na análise da recepção,
eis que se procura compreender o fenômeno da construção de identidades
pelos meios de comunicação de massa.
Apesar de os pesquisadores que trabalham nesta perspectiva
defenderem a idéia de que se optar por uma “etapa do processo midiático”
não constitui um desrespeito às premissas dos Estudos Culturais7, tem-se
neste trabalho a tarefa de demonstrar a importância da análise global das
produções em comunicação.
3.2. O Circuito da Cultura – uma Proposta para Análise de Notícias
Nessa esteira, Richard Johnson (2006) cria a proposta do circuito da
cultura, como um método de estudo dos processos culturais que propõe a
análise conjunta de todas as etapas que compõem o circuito.
Johnson afirma que os Estudos Culturais se caracterizam pela
fragmentariedade de teorias e disciplinas e que isso prejudica a unicidade
deste enquanto campo teórico-metodológico. Tais divisões se explicam por
divergências políticas, “especialmente as divisões intelectuais e acadêmicas
de trabalho e a reprodução social de formas especializadas de capital
cultural” (2006, p. 32).
7 Nesse sentido, Escosteguy defende: “Tal fato, de forma alguma, implica restringir o objeto de estudo do campo em torno dessa temática. Ao contrário, cada vez mais o objeto de investigação se diversifica e se fragmenta. Contudo, no ponto de encontro destas duas frentes, meios de comunicação e Estudos Culturais, identifica-se uma forte inclinação em refletir sobre o papel dos meios de comunicação na constituição de identidades, sendo esta última a principal questão desse campo de estudos na atualidade” (2008, p. 167).
38
Sendo assim, Johnson apresenta de forma diagramática o circuito da
cultura:
Figura 2 – Diagrama do circuito da produção, circulação e consumo dos produtos culturais. Fonte: Johnson, 2006, p. 35
O diagrama demonstra a integração dos momentos da produção
cultural que deve ser levada em consideração, quando da sua análise.
Segundo Johnson:
O digrama tem o objetivo de representar o circuito da produção, circulação e consumo dos produtos culturais. Cada quadro representa um momento nesse circuito. Cada momento depende dos outros e é indispensável para o todo. Cada um deles, entretanto, é distinto e envolve mudanças características de forma. Segue-se que se estamos colocados em um ponto do circuito, não vemos, necessariamente, o que está acontecendo nos outros. (2006, p. 33)
Deve-se considerar, pois, que o resultado da utilização do diagrama
varia de acordo com os valores subjetivos de quem o analisa, uma vez que
são eles que determinarão à qual etapa do circuito se dará mais importância.
Cabe ressaltar que, no presente estudo, pretende-se tratar da notícia
enquanto produto cultural, transformando o circuito da cultura em circuito da
notícia. Para isso, utilizam-se, aqui, os conceitos de notícia trabalhados por
Traquina (2005) e Medina (1988) a fim de relacioná-los com a idéia de
Johnson (2006) sobre produto cultural.
39
A notícia, em certo viés, pode ser entendida enquanto a produção
jornalística orientada por uma série de valores que variam de acordo com a
época em questão. Essa é a idéia trazida por Traquina que expõe:
As definições do que é notícia estão inseridas historicamente e a definição da noticiabilidade de um acontecimento ou de um assunto implica um esboço de compreensão contemporânea do significado dos acontecimentos como regras do comportamento humano e institucional. (2005 p. 95)
Nota-se, pois, que a notícia enquanto resultado da atividade
jornalística é algo que tem relação direta com a cultura, formando-se a partir
dela e passando a integrá-la, ao fim de seu processo de produção.
Outro aspecto trazido por Traquina de suma relevância à definição de
notícia são os chamados “valores-notícia”. Para ele:
Os valores-notícia são um elemento básico da cultura jornalística que os membros desta comunidade interpretativa partilham. Servem de “óculos” para ver o mundo e para o construir. [...] Mas os valores notícia não são imutáveis, com mudanças de uma época histórica para outra, com destaques diversos de uma empresa jornalística para outra, tendo em conta as políticas editoriais. (2005 p. 94 e 95)
Eis que os valores-notícia são derivados invariavelmente da cultura e
do contexto sócio-político-econômico da época em que são elaborados. E,
por assim ser, devem eles ser analisados de acordo suas constantes
metamorfoses, ocorridas em consonância com a evolução da sociedade.
Vista por um enfoque semelhante, mas mais arraigado na crítica à
indústria cultura, Medina assim define notícia:
Vista no complexo da comunicação de massa, é realmente um dos produtos de consumo da indústria cultural. Mas não um produto só revestido de conotações negativas associadas à crítica do sistema pós-industrialização. Um produto dinâmico pelo ângulo da oferta e da demanda. Um produto típico das sociedades urbanas e industrializadas, reproduzido em grande escala, fabricado para atingir a massa. Nesse sentido, a informação jornalística, como a informação publicitária, a informação editorial ou a informação em relações públicas, é conseqüência natural de uma órbita que ultrapassa fronteiras nacionais como a própria industrialização. (1988, p. 40)
40
Vislumbra-se, assim, a ligação entre essa definição de notícia e o que
Johnson (2006) chama de produto cultural, enquanto aquele elaborado em
consonância com as dinâmicas e tendências do sistema capitalista de
produção Johnson considera:
Em nossas sociedades, muitas formas de produção cultural assumem também a forma de mercadorias capitalistas. Neste caso, temos que prever condições especificamente capitalistas de produção [...] e condições especificamente capitalistas de consumo [...]. (2006, p. 35)
Desse modo, a notícia é um típico produto cultural, dando condições
para que a forma de análise proposta por Johnson, através do circuito da
cultura, seja um método eficiente para o estudo dos produtos noticiosos.
3.2.1. A Produção
As produções midiáticas e os meios de comunicação de massa
assumem, na sociedade pós-moderna, um papel determinante, uma vez que
são eixos centrais no estudo da cultura desse tempo. A partir dessa
perspectiva, surge uma tendência moderna de estudos com base nas
produções culturais. Johnson fala sobre a origem dos estudos com foco na
produção:
Uma abordagem mais sistemática da produção cultural tem sido uma preocupação relativamente recente da sociologia, da literatura, da arte ou das formas culturais populares. Essa preocupação caminha em paralelo com as discussões sobre os meios de comunicação de massa, tendo sido, originalmente, muitíssimo influenciada pelas primeiras experiências da propaganda estatal sob as condições da mídia moderna, especialmente na Alemanha Nazista. (2006, p. 52 e 53)
Interessados nessa linha de análise, vários estudiosos elaboram
valorosas teorias na área da Comunicação, como os escritos da Escola de
41
Frankfurt8 que inicialmente abordam as questões da economia política e da
patologia cultural das comunicações de massa.
Evidentemente, tanto nos escritos frankfurtianos quanto nos demais
dedicados à produção cultural e à organização social das formas culturais,
nota-se a influência da teoria marxista. Tal explica-se porque é na teoria de
Karl Marx que se encontra o argumento de que as condições de produção
caracterizam-se como fator determinante na formação cultural da sociedade.
Com efeito, os estudos ligados ao marxismo passaram por uma
evolução em sua perspectiva, de modo que primeiramente consideravam as
forças e as relações de produção e, posteriormente, passaram a se basear
na análise das formas históricas da produção e a organização da cultura,
chamadas de “superestruturas”.
Destacam-se, pois, os estudos em cultura, com base na produção,
realizados por Gramsci. Eles podem ser considerados uma quebra de
paradigmas dentre as teorias marxistas, uma vez que foram os primeiros a
colocar a cultura das classes populares como objeto de análise. Johnson
explica:
[...] ele fala dos organizadores/produtores culturais não apenas como pequenos grupos de ‘intelectuais’, de acordo com o velho modelo revolucionário ou bolchevique, mas como estratos sociais inteiros, concentrados em torno de instituições particulares – escolas, faculdades, a lei, a imprensa burocracias estatais e os partidos políticos. (2006, p. 55)
Ainda que com este diferente enfoque, os estudos de Gramsci
apresentam limitações, pois tratam, predominantemente, da organização das
formas culturais, em detrimento do exame da subjetividade destas formas,
indispensável ao se trabalhar com o estudo da cultura.
8 Franciso Rüdiger diz que “os frankfurtianos trataram de um leque de assuntos que compreendia desde os processos civilizadores modernos e o destino do ser humano na era técnica até a política, a arte, a música, a literatura e a vida cotidiana. Dentro desses temas e de forma original é que vieram a descobrir a crescente importância dos fenômenos de mídia e da cultura de mercado na formação do modo de vida contemporâneo. [...] Segundo seu modo de ver, as comunicações só adquirem sentido em relação ao todo social, do qual são antes de mais nada uma mediação e, por isso, precisam ser estudadas à luz do processo histórico global da sociedade” (2008, p. 132).
42
Apesar de importantes, entretanto, os estudos focados na produção
apresentam sérios déficits, tratados por Johnson como limitações. Para ele,
o “economicismo” e o “produtivismo” acabam por revelar a fragilidade das
análises focadas somente em um ponto do circuito da cultura, uma vez que
sempre se estará deixando à parte informações de extrema relevância para
um resultado de pesquisa satisfatório.
Em relação ao “economicismo” pode-se dizer que o problema centra-
se nas características peculiares dos produtos culturais que acabam
rechaçadas quando considerada somente a visão econômica do processo.
Segundo os argumentos de Johnson:
Existe, nesse modelo, uma tendência a negligenciar aquilo que é específico da produção cultural. A produção cultural é, muito comumente, assimilada ao modelo da produção capitalista em geral, sem que se dê uma atenção suficiente à natureza dual do circuito das mercadorias culturais. As condições de produção incluem não apenas os meios materiais de produção e a organização capitalista do trabalho, mas um estoque de elementos culturais já existentes, extraídos do reservatório da cultura vivida ou dos campos já publicados de discurso. (2006, p. 56)
Percebe-se, assim, a preocupação de Johnson acerca das
dificuldades de se conceber a análise de produtos culturais baseada em um
só ponto do complexo caminho por que ele passa quando lançado no
contexto social.
Dessa forma, deve-se atentar para a diferenciação necessária entre
os produtos tipicamente capitalistas – aqueles produzidos em condições
capitalistas, para o consumo em geral, sem denotações sociológicas – e os
produtos culturais – também produzidos sobre a égide do sistema capitalista,
mas com particularidades, uma vez que formadores e formados pela cultura
da sociedade e entrelaçados com fatores como as relações sociais, as
ideologias e os discursos, por exemplo –.
Já quanto ao “produtivismo”, a crítica dá-se em dois aspectos.
Primeiro há a própria idéia de que a análise de um produto cultural, apenas
centrada no seu momento de produção, poderia ser suficiente para explicar
todo o processo. Nesse sentido, Johnson ressalta que “o problema, aqui, é a
43
tendência a inferir o caráter de um produto cultural e seu uso social das
condições de sua produção, como se, em questões culturais, a produção
determinasse tudo” (2006, p. 57 e 58).
A outra crítica pode ser vista em relação à tomada de posição de o
que seria o momento da produção e a consequente análise dele.
Considerando que o circuito por que passam os produtos culturais são
tramas complexas, há que se observar o fato de que a produção não ocorre
somente no momento em que o “criador” do produto o faz, mas sim em
todas as outras etapas do circuito. Isso porque o texto cultural não será lido,
em nenhuma hipótese, da mesma forma como foi produzido e, a partir de
cada nova releitura, resultarão novos produtos, com características
especiais, diferentes das inicialmente trazidas. Johnson faz a crítica:
Não vejo como qualquer forma cultural possa ser chamada de ‘ideológica’ (no sentido crítico marxista usual) até que tenhamos examinado não apenas sua origem no processo de produção primário, mas também cuidadosamente analisado suas formas pessoais bem como os modos de sua recepção. (2006, p. 58)
Por assim ser, Johnson analisa que não há como estudar os produtos
culturais somente pela ótica da produção, considerada como única etapa em
que o ato de produzir ocorre, destacando, novamente, a inevitabilidade do
estudo completo do circuito da cultura.
Todavia, Johnson pondera que isoladamente a análise da produção
traz resultados inócuos, mas, quando considerada em entrelace com as
demais fases do processo, trata-se de importante área para ser pesquisada.
Defende ele:
Devemos examinar, naturalmente, as formas culturais do ponto de vista de sua produção. Isto deve incluir as condições e os meios de produção, especialmente em seus aspectos subjetivos e culturais. Em minha opinião, deve incluir descrições e análises também do momento real da própria produção – o trabalho de produção e seus aspectos subjetivos e objetivos. Não podemos estar perpetuamente discutindo as ‘condições’, sem nunca discutir os atos! Devemos, ao mesmo tempo, evitar a tentação, assinalada nas discussões marxistas sobre determinações, de subsumir todos os outros
44
aspectos da cultura às categorias dos estudos de produção. (2006, p. 63)
Com base nisso, conclui Johnson que a análise da produção deve-se
proceder em dois estágios. Um deles assinala a concepção da produção
enquanto momento distinto e peculiar em relação aos demais, mas de toda
forma relacionado a eles. Isso segundo Johnson “é uma sustentação
necessária, negativa, do argumento contra o reducionismo de todas as
espécies” (2006, p. 63).
O outro analisa a premissa de que a produção é uma fase que
permeia todo o circuito, em cada uma de suas outras etapas, uma vez que
cada ato de leitura produz um novo texto.
Dessa forma, cumpre observar o aspecto em que a crítica ao
isolamento da produção ou de qualquer outra etapa do circuito, quando da
análise de um produto cultural, não é meramente uma questão
metodológica. A preocupação com uma análise global da produção cultural
vai além, pois permite a contribuição para a criação de novos paradigmas
teóricos e para o incentivo de novas práticas culturais, que são objetivos
precípuos dos Estudos Culturais em geral.
3.2.2. O Texto
Os estudos baseados no texto, ou seja, no produto cultural, são
comumente concebidos a fim de dar-lhes leituras definitivas, construídas
segundo a ótica daquele que os analisa. Johnson destaca duas
características atinentes aos estudos baseados nos textos: “(1) a separação
entre críticos especializados e leitores comuns e (2) a divisão entre
praticantes culturais e aqueles que, primariamente, comentam as obras de
outros” (2006, p. 65). Ele relaciona essas peculiaridades ao desenvolvimento
das instituições educacionais acadêmicas.
Observa-se, desse modo, o desenrolar de disciplinas, juntamente com
o desenvolvimento das instituições acadêmicas, que favorecem a criação de
45
meios de descrição formal interessantes para a análise de produtos
culturais. Johnson exemplifica falando sobre as “disciplinas acadêmicas
convencionalmente agrupadas como ‘Humanidades’ ou ‘Artes’” (2006, p. 65).
Porém, apesar de extremamente valiosos na análise dos produtos
culturais, os instrumentos desenvolvidos nos estudos das disciplinas ligadas
às Humanidades são pouco aplicados. Eis a crítica que se faz a eles, o
distanciamento entre teoria e prática. Assim, exemplifica Johnson:
Existe uma tendência que faz com que os instrumentos continuem obstinadamente técnicos ou formais. O exemplo que considero mais impressionante no momento é o da Lingüística, que parece uma verdadeira caixa de tesouro para a análise cultural, mas que está soterrada sob uma mística técnica e um profissionalismo acadêmico exagerados dos quais, felizmente, está começando a emergir. (2006, p. 66)
Deve-se, então, buscar dar praticidade a elementos teóricos que
podem ser úteis no campo da análise cultural, uma vez que estando presos
ao academicismo podem perder seu valor.
Com efeito, Johnson propõe que sejam identificados quais os
métodos baseados na análise de textos são os mais úteis e quais os
problemas que eles apresentam.
Primeiramente, fala-se dos estudos da Lingüística e da Psicanálise.
Sobre a ligação entre os Estudos Culturais e essas correntes teóricas,
explana Johnson:
Os Estudos Culturais têm, muitas vezes, se aproximado dessas vertentes de uma forma um tanto acalorada, tendo lutas acirradas, em particular, com aqueles tipos de análises de texto inspiradas pela Psicanálise, mas as renovadas infusões modernistas continuam a ser uma fonte de desenvolvimentos. (2006, p. 68 e 69)
Para Johnson, o valor desses métodos de análise se encontra, pois,
na possibilidade de uma “descrição realmente cuidadosa e sistemática das
formas subjetivas e de suas tendências e pressões” (2006, p. 69).
Após, por outro lado, têm-se os chamados “estruturalismos radicais”
entendidos enquanto o método de estudo que toma como premissa básica a
46
característica de a cultura estar em constante processo de produção.
Johnson analisa:
Este construcionismo radical – nada na cultura é tomado como dado, tudo é produzido – é um importante insight que não podemos abandonar. Naturalmente, esses dois estímulos estão estreitamente relacionados: o segundo como uma premissa do primeiro. É porque sabemos que não estamos no controle de nossas próprias subjetividades que precisamos tão desesperadamente identificar suas formas e descrever suas histórias e possibilidades futuras. (2006, p. 72)
Nota-se a influência dessas premissas no circuito da cultura
elaborado por Johnson, uma vez que, destaca ele em toda sua tese, é
natural do circuito que a produção permeie todas as etapas e se renove em
cada uma delas. Por isso, diz-se que o produto cultural é infinitamente
produzido.
Esclarecidas as principais teorias que embasam os estudos acerca
dos textos, necessário é que se elucide a definição de o que é o texto e
como se deve analisá-lo para a obtenção de um resultado satisfatório.
Para Johnson, há um modo largamente utilizado para os trabalhos
com texto, designado por ele como “solução literária tradicional”. Assim,
escolhe-se um autor, para imputar a produção do texto, e um produto para
ser objeto da análise. Porém, Johnson critica dizendo que “não temos,
certamente, que limitar nossa pesquisa a critérios literários; outras escolhas
estão disponíveis. É possível, por exemplo, adotar “problemas” ou “períodos”
como critério principal” (2006, p. 73).
Mas, afinal, de suma importância é que se defina o papel do texto nos
Estudos Culturais, nesse sentido Johnson explica:
O “texto” não é mais estudado por ele próprio, nem pelos efeitos sociais que se pensa que ele produz, mas, em vez disso, pelas formas subjetivas ou culturais que ele efetiva e torna disponíveis. O texto é apenas um meio no Estudo Cultural; estritamente, talvez, trata-se de um material bruto a partir do qual certas formas (por exemplo, da narrativa, da problemática ideológica, do modo de endereçamento, da posição de sujeito etc.) podem ser abstraídas. Ele também pode fazer parte de um campo discursivo mais amplo ou ser uma combinação de formas que ocorrem em outros espaços
47
sociais com alguma regularidade. Mas o objeto último dos Estudos Culturais não é, em minha opinião, o texto, mas a vida subjetiva das formas sociais em cada momento de sua circulação, incluindo suas corporificações textuais. (2006, p. 75)
É nesse ponto que se encontra o que Johnson defende, ao longo de
toda sua obra, ser essencial aos Estudos Culturais: a importância da análise
das formas subjetivas, entendidas como premissa da gênese cultural. Seria,
assim, o texto um produto à disposição para interpretações diversas, que
forma um “acervo cultural” em constante processo de transformação.
Finalizando suas considerações sobre os estudos baseados no texto,
Johnson aborda o que ele chama de “miopias estruturalistas”. Trata-se, pois,
da gama de estudos que se limita à análise do texto, estabelecendo uma
subordinação das outras etapas do processo em relação à etapa textual.
Johnson considera:
Elas [análises] são limitadas, de uma forma muito fundamental, por permanecerem no interior dos termos da análise textual. Mesmo quando vão além dela, elas subordinam outros momentos à análise textual. Em particular, elas tendem a negligenciar questões sobre a produção de formas culturais ou de sua organização social mais ampla, ou a reduzir questões de produção à “produtividade” (eu diria, “capacidade de produzir”) dos sistemas de significação já existentes, isto é, das linguagens formais ou dos códigos. Elas também tendem a negligenciar questões relativas a leituras feitas pelo público ou subordiná-las às competências de uma forma textual de análise. Elas tendem, na verdade, a deduzir a leitura do público das leituras textuais do próprio crítico. (2006, p. 78)
Extrai-se, novamente, a ideia de que qualquer que seja a abordagem
que relegue a um plano inferior alguma das etapas do circuito da cultura
torna-se inadequada e imperfeita. Ocorre, pois, tanto nos estudos baseados
no texto, como nos outros já analisados baseados em outras etapas do
processo, o que Johnson chama de “falha teórica central”.
Porém, há que se destacar a tentativa dos estudos estruturalistas de,
combinando a análise textual com as premissas da Psicanálise, incluir as
formas subjetivas em suas teorizações. Mas, rebate Johnson:
48
[É] uma descrição da subjetividade que continua muito abstrata, “fraca” e não-histórica e também, em minha opinião, excessivamente “objetiva”. Para sumariar as limitações, não existe, aqui, nenhuma análise da gênese das formas subjetivas e das diferentes formas pelas quais os seres humanos as inibem. (2006, p. 79)
Assim, a alternativa seria a criação de uma teoria pós-estruturalista,
em que o sujeito e as formas subjetivas produzidas por ele tivessem papel
central como objeto de estudo – uma “teoria do sujeito”.
3.2.3. As Leituras
Os estudos baseados nas leituras, comumente denominados estudos
de recepção, procuram enfocar a análise do produto cultural no momento em
que ele chega ao seu destinatário, em que será interpretado. Johnson
começa sua explanação sobre os estudos baseados na leitura analisando a
linha que ele chama de “semiologia avançada”:
O insight crucial, para mim, é que as narrativas ou as imagens sempre implicam ou constroem uma posição ou posições a partir das quais elas devem ser lidas ou vistas. Embora o conceito de “posição” continue problemático (trata-se de um conjunto de competências culturais ou, como o termo implica, alguma “sujeição” necessária ao texto?), temos aí um insight fascinante, especialmente quando aplicado às imagens visuais e ao filme. (2006, p. 85)
Por isso, torna-se imprescindível em um estudo de leituras que se
tome como objeto as posições em que estão os leitores. Pois, só assim,
consegue-se delinear as formas subjetivas nas quais está envolvido o leitor,
tão importantes para se inferir as variáveis determinantes em dada leitura.
Ademais, Johnson preocupa-se além, ensinando que não se deve
analisar o leitor somente em relação ao texto, mas em relação à sociedade.
Assim, explica ele:
As fascinações da teoria tornam um tal movimento muito tentador. Mas passar do “leitor no texto” para o “leitor na sociedade” é passar do momento mais abstrato (a análise das formas) para o objeto mais
49
concreto (os leitores reais, tais como eles são constituídos socialmente, historicamente, culturalmente). Isto significa, convenientemente, ignorar – mas não explicitamente como uma abstração racional – uma série enorme de novas determinações ou pressões das quais nós devemos agora dar conta. Em termos disciplinares, nós vamos de um terreno usualmente coberto por abordagens literárias para o terreno mais conhecido das competências históricas ou sociológicas, mas o novo e comum elemento, aqui, é a capacidade para lidar com uma massa de determinações coexistentes, as quais agem em níveis muito diferentes. (2006, p. 87)
Por conseguinte, pode-se notar uma valorização em relação às
posições em que o leitor é colocado frente a determinado texto, as quais são
basicamente constituídas pelo contexto cultural, social, econômico, político e
ideológico em que ele está inserido. Desvia-se, então, o foco do texto, e se
coloca em primeiro plano as influências recebidas pelo leitor em seu ato de
compreensão.
Há que se destacar, sobretudo, o aspecto do momento da leitura
como um ato de produção. Daí o porquê de Johnson evitar chamar este
momento de recepção e denominá-lo leitura, uma vez que para ele não se
trata de uma mera assimilação do conteúdo trazido pelo texto, mas sim um
momento de reflexão e produção acerca dele.
A intertextualidade ou interdiscursividade é outro viés importante no
que diz respeito ao momento da leitura. Isso porque não há como se
considerar a leitura de um texto feita de forma isolada. Esclarece Johnson:
De forma mais cotidiana, os textos são promiscuamente encontrados; eles caem sobre nós de todas as direções, através de meios diversificados e coexistentes e em fluxos que têm diferentes ritmos. Na vida cotidiana, os materiais textuais são complexos, múltiplos, sobrepostos, coexistentes, justapostos; em uma palavra, “intertextuais”. (2006, p. 88)
Os textos, postos como interligados e tendo seus significados
construídos a partir das combinações feitas na subjetividade de cada leitor,
vão formando o chamado “contexto”. Para Johnson ele tem papel decisivo
nos Estudos Culturais:
50
Tudo isso aponta para a centralidade daquilo que é comumente chamado de “contexto”. O contexto determina o significado, as transformações ou a saliência de uma forma subjetiva particular, tanto quanto a própria forma. O contexto inclui os elementos culturais descritos acima, mas também os contextos das situações imediatas (por exemplo, o contexto doméstico do lar) e o contexto ou a conjuntura histórica mais ampla. (2006, p. 89)
Dessa forma, deve-se entender a importância do contexto como fator
determinante no momento da leitura, como o que dá a linha que ela seguirá
e, consequentemente, o seu resultado. Mas, como salienta Johnson, não se
deve dar demasiada importância ao contexto em detrimento do estudo da
leitura, pois “qualquer análise ficaria incompleta sem alguma atenção ao
próprio ato de leitura e sem uma tentativa de teorizar seus produtos” (2006,
p. 90).
Em complemento aos estudos de Johnson acerca do momento da
leitura, interessante é a categorização do sujeito receptor trabalhada por Hall
(2006).9 Ele analisa que existem três posições em que pode se encontrar o
receptor no momento da leitura, especificamente, de um produto televisivo,
sendo elas a posição hegemônica-dominante, a posição negociada e a
posição de oposição.
Sobre a posição hegemônica-dominante Hall aponta:
Quando o telespectador se apropria do sentido conotado de, digamos, um telejornal ou um programa de atualidades, de forma direta e integral, e decodifica a mensagem nos termos do código referencial no qual ela foi codificada, podemos dizer que o telespectador está operando dentro do código dominante. Esse é o caso ideal-típico de “comunicação perfeitamente transparente” ou o caso mais próximo, para todos os efeitos. (2006, p. 377)
Pode-se dizer que a posição hegemônica é traduzida enquanto o
processo de comunicação livre de ruídos em que a mensagem é recebida
9 Apesar de o presente trabalho ter como premissa a utilização do circuito da cultura, proposto por Johnson (2006), como método de análise precípuo, torna-se necessária uma explicação mais detalhada de cada etapa do circuito. Essa necessidade surge porque Johnson (2006) preocupou-se em defender a metodologia que estava lançando e se ateve a questões teóricas demasiadamente profundas, faltando, por vezes, explicações mais básicas, didáticas e minuciosas sobre as etapas do circuito. Com o cuidado de dar
51
nos termos em que foi enviada, anulando-se qualquer influência durante o
processo.
Já em se tratando da posição negociada, explica Hall:
Decodificar, dentro da versão negociada, contém uma mistura de elementos de adaptação e de oposição: reconhece a legitimidade das definições hegemônicas para produzir as grandes significações (abstratas), ao passo que, em um nível mais restrito, situacional (localizado), faz suas próprias regras – funciona com as exceções à regra. Confere posição privilegiada às definições dominantes dos acontecimentos, enquanto se reserva o direito de fazer uma aplicação mais negociada às “condições locais” e às suas próprias posições mais corporativas. (2006, p. 379)
Encontra-se aqui a postura de um receptor que decodifica a
mensagem nos parâmetros que ela foi enviada, mas, a partir disso, forma
novas convicções, de acordo com seus próprios entendimentos acerca do
assunto. Portanto, têm-se um hibridismo entre a posição hegemônica e a
posição de oposição.
Por último, há a posição de oposição, a qual Hall assim define:
Esse é o caso do telespectador que ouve um debate sobre a necessidade de limitar os salários, mas “lê” cada menção ao “interesse nacional” como “interesse de classe”. Ele ou ela está operando com o que chamamos de código de oposição. Um dos momentos políticos mais significativos (eles também coincidem com os momentos de crise dentro das próprias empresas de televisão, por razões óbvias) é aquele em que os acontecimentos que são normalmente significados e decodificados de maneira negociada começam a ter uma leitura contestatária. Aqui se trava a “política da significação” – a luta no discurso. (2006, p. 380)
O momento de oposição seria o que se pode chamar de tensionado,
em que ocorre uma decodificação questionadora, que busca justamente
desconstituir a mensagem tal qual foi enviada e criticá-la dentro de uma
perspectiva inversa de valores.
fidedignidade ao estudo, buscam-se complementações teóricas em estudiosos da mesma linha de Johnson, pertencentes à escola dos Estudos Culturais.
52
3.2.4. As Culturas Vividas
O conjunto de abordagens ligado às culturas vividas dá conta de
explicar a influência que tem o contexto em que estão inseridos o leitor e o
produtor, no processo cultural.
Martín-Barbero (2001) trabalha profundamente a questão das culturas
vividas, com a denominação de “mediações”. Assim, explica ele:
[...] a comunicação se tornou para nós questão de mediações mais que de meios, questão de cultura e, portanto, não só de conhecimentos mas de re-conhecimento. Um reconhecimento que foi, de início, operação de deslocamento metodológico para re-ver o processo inteiro da comunicação a partir do seu outro lado, o da recepção, o das resistências que aí têm seu lugar, o da apropriação a partir dos seus usos. (2001, p. 28)
Pode-se depreender, pois, que as mediações nada mais são do que
os fatores culturais que se entrelaçam e estão presentes de forma ativa no
circuito da cultura, enquanto culturas vividas pelos sujeitos envolvidos no
processo.
Johnson assim expõe acerca das culturas vividas:
[...] o problema consiste em saber como apreender os momentos mais concretos e mais privados da circulação cultural. Isso coloca dois tipos de pressão. O primeiro vai na direção de métodos que possam detalhar, recompor e representar conjuntos complexos de elementos discursivos e não-discursivos tais como eles aparecem na vida de grupos sociais particulares. O segundo vai na direção de uma “análise social” ou de uma busca ativa de elementos culturais que não aparecem na esfera pública ou que aparecem apenas de forma abstrata e transformada. (2006, p. 95)
Em relação ao método, percebe-se a preocupação em buscar
mecanismos eficientes para apurar a complexidade daquilo que compõe as
culturas vividas, ou seja, toda a densa “massa subjetiva” presente no circuito
da cultura.
Já no tocante ao que Johnson chama de “análise social”, quer-se
desvendar o que de mais subjetivo e privado possa influenciar no processo
cultural, uma vez que trazidos à tona pelos sujeitos envolvidos.
53
Segundo Johnson alerta, há um problema pelo qual passam os
pesquisadores dos Estudos Culturais: eles analisam sujeitos e culturas, via
de regra, semelhantes a si e à sua cultura e isso pode levar a presunções
grosseiras que venham a prejudicar o resultado da pesquisa. A solução, no
entanto, seria uma relativização prévia de todas as premissas que serão
estudadas, a fim de que sejam comprovadas ao longo da análise cultural.
Nessa linha, afirma Johnson:
[...] a primeira lição, aqui, é a do reconhecimento de diferenças culturais importantes, especialmente as que atravessam aquelas relações sociais nas quais o poder, a dependência e a desigualdade estejam mais em jogo. Existem perigos, pois, no uso do autoconhecimento individual ou (limitado) coletivo, no qual os limites e sua representatividade não estejam mapeados, e no qual seus outros lados – comumente os lados de falta de poder – sejam simplesmente desconhecidos. (2006, p. 96)
Assim sendo, deve-se alertar para a importância da caracterização
peculiar do objeto de estudo e do contexto em que ele está inserido. Mesmo
que, a princípio, ele possa parecer plenamente conhecido e explorado aos
olhos do pesquisador.
Tratar de estudar e representar a cultura alheia é o que Johnson
define como “etnografia”. Para ele, “temos que manter um olhar inquieto
sobre as linhagens históricas e as atuais ortodoxias” dos estudos
etnográficos.
A crítica à etnografia encontrada nos estudos de Johnson centra-se
no fato de que essa prática “amplia a distância social e constrói relações de
‘conhecimento-como-poder’” (2006, p. 96).
Distanciando-se, então, dos caminhos errôneos que os estudos
etnográficos podem levar, Johnson analisa como devem ser feitos os
estudos das culturas vividas:
A pressão vai no sentido de representar as culturas vividas como formas autênticas de vida e de defendê-las contra o ridículo ou a condescendência. As pesquisas desse tipo têm sido freqüentemente usadas para criticar as representações dominantes, especialmente aquelas que têm influência sobre as políticas públicas. (2006, p. 98)
54
E, por assim ser, percebe-se o compromisso que tem o pesquisador
na área dos Estudos Culturais de fazer com que sua análise seja integrada à
cultura do seu objeto de estudo. Assim, ela deve ter um duplo efeito: servir
como base para o entendimento da cultura em questão e de incentivo para
novas práticas culturais.
3.3. Metodologia
Em relação à questão metodológica, enfrenta-se, neste trabalho,
situação peculiar. Isso porque Johnson (2006), ao propor o circuito da
cultura, não estabeleceu uma delimitação entre o que, em seus escritos, é
teoria e o que é metodologia.
Na verdade, pode-se apurar, analisando o conjunto da obra de
Johnson (2006), que sua intenção é justamente desprender-se de categorias
científicas que possam bitolar a análise global dos produtos culturais. Por
isso, o circuito da cultura é, ao mesmo tempo, uma teoria e um método de
análise eficiente para produtos culturais, que aqui são as notícias.
No entanto, de forma geral, pode-se afirmar que a presente pesquisa
será desenvolvida através do método qualitativo, entendido enquanto aquele
que busca abstrair do corpus do trabalho suas características mais
específicas, a serem estudadas de forma interligada.
Especificamente na análise da recepção, chamada de “leitura” no
circuito de Johnson (2006), será utilizada uma pesquisa qualitativa, onde
foram entrevistadas pessoas ligadas à área jurídica. Os questionamentos
são complexos e foram elaborados para corroborar com o esclarecimento de
como se dá a leitura das reportagens por pessoas que já possuem um
conhecimento prévio sobre o assunto. Isso porque a escolha de pessoas
ligadas ao tema possibilita um confronto maior entre os dois assuntos
abordados neste estudo, sejam eles a mídia e o sistema carcerário, ao
passo que provavelmente possuem mais subsídios críticos para tal.
55
4. Apagão Carcerário – A Construção da Imagem dos Presídios pela
Mídia
O corpus deste estudo é constituído por uma amostra de duas
reportagens, das cinco exibidas pelo Jornal da Globo, na série “Apagão
Carcerário”. As matérias foram veiculadas entre os dias 26 e 30 de maio de
2008.
A escolha de duas reportagens, apenas, se deu em virtude do tipo de
análise que se quer realizar. Ao utilizar-se da metodologia proposta por
Johnson (2006), é pressuposto básico a análise de todos os movimentos do
circuito, pelos quais passa o produto jornalístico, desde sua produção até
sua leitura.
Por assim ser, trata-se de tarefa complexa e dispendiosa que, para
um trabalho deste porte, não se deve alongar a tanto, por isso a limitação
em apenas duas, das cinco reportagens que compõem a série.
A escolha das matérias a serem analisadas obedeceu ao critério da
pertinência e da adequação à proposta teórico-metodológica. Assim, as duas
reportagens escolhidas trazem temas peculiares, com condições de tornar
relevantes os resultados desta pesquisa. Pois, entende-se que o importante,
aqui, é a qualidade das matérias analisadas e não sua quantidade.
Abaixo, na tabela 1, estão descritas a data em que foram exibidas, a
duração e o assunto de todas as reportagens da série, destacando as
matérias que aqui serão analisadas:
Tabela 1 – Descrição das reportagens da série “Apagão Carcerário”
DATA DURAÇÃO ASSUNTO
26/05/2008 9 minutos e 36 segundos Situação do sistema carcerário
27/05/2008 8 minutos e 54 segundos Falta de investimentos nos presídios
28/05/2008 8 minutos e 21 segundos Corrupção no sistema carcerário
29/05/2008 8 minutos e 14 segundos Penitenciárias femininas
30/05/2008 9 minutos e 6 segundos Presídios que dão certo
56
Será utilizada, para subsidiar a análise da etapa da leitura, no circuito,
uma pesquisa realizada com profissionais da área jurídica, acerca de sua
percepção sobre as reportagens.
Vale salientar, antes de se realizar a análise específica de cada uma
das reportagens, alguns aspectos comuns atinentes à própria série “Apagão
Carcerário”.
Pelo que se pode perceber acompanhando o noticiário, não é
costumeira a produção de série de reportagens, no Jornal da Globo, sendo
reservado tal recurso para assuntos de extrema importância. Apesar de a
característica principal desse telejornal ser a divulgação de matérias mais
trabalhadas, por razões já explicitadas, a repetição de assuntos, que é o
caso de uma série, é excepcional.
Sendo assim, deve-se buscar entender porque fora dada tanta
importância ao assunto “sistema carcerário brasileiro”, naquele momento. E,
para isso, necessária é uma análise contextual do tema, ao tempo em que a
reportagem foi produzida.
A Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI – do Sistema Carcerário
foi instaurada, na Câmara dos Deputados, em agosto de 2007 e somente foi
concluída em junho de 2008, indiciando trinta e duas pessoas.
Com a CPI, o tema virou pauta dos noticiários diários. Os repórteres
acompanhavam as visitas dos deputados aos presídios e mostravam a
caótica situação, quase sempre, como grande novidade aos olhos dos
brasileiros.
Nesse contexto, o Jornal da Globo editou uma série de reportagens
sobre os presídios, aparentemente sem nenhuma novidade quanto aos
enfoques. Isso porque é visível a ligação de todos os temas tratados com a
problemática que enfrenta o sistema prisional.
Porém, seria comum a exibição das reportagens, diante dessa
realidade, não fosse a proximidade da sua veiculação com a conclusão da
CPI. Como costumeiramente se faz na mídia brasileira, o Jornal da Globo
veiculou a série “Apagão Carcerário”, em momento oportuno, com finalidade
definida. Seja ela, pois, a de colocar em discussão, na sociedade,
57
repentinamente, um problema que tem origens complexas e persiste há
várias décadas, como se fosse novidade, para influenciar no relatório final da
CPI que seria editado aproximadamente um mês depois.
Não se trata aqui de conjecturar intenções que podem ou não ter
existido, mas sim de confrontar os fatos com o contexto quem foram
produzidas as reportagens e, assim, se chegar a conclusões.
Historicamente, o telejornalismo brasileiro, em especial o da Rede
Globo, como já mencionado, caracteriza-se por definir qual assunto será
tratado e como ele será discutido, na sociedade, tamanha sua influência na
formação cultural brasileira.
Há, porém, outro aspecto, ainda não tratado, que diz respeito às
decisões políticas, no país. Pois, não raro, os meios de comunicação
“agendam”10 os conteúdos políticos ao tempo e da forma que os convêm,
influenciando em posteriores decisões que serão tomadas pelo poder
público, através da sociedade. Isso porque tratando do assunto de tal
maneira muito provável é que a sociedade forme sua opinião naquela
mesma linha e passe a cobrar decisões com base nisso.
Hohlfeldt (2003, p. 199) demonstra resultados de pesquisas e
corrobora com esse entendimento apontando que, “quando à questão
política em si, no que toca ao agendamento, verificou-se que o político é
extremamente sensível a tal processo [...]”.
Decorre daí, pois, leis mal feitas, decisões apressadas e conclusões
de CPIs inócuas, eivadas na pressão social que fora alavancada pela mídia.
Porém, de forma alguma, deve-se ser rechaçar o tratamento de
assuntos como esse pela mídia. Ao contrário, eles merecem grande espaço,
mas com a importância e com a qualidade merecida e não somente em
momentos convenientes para os meios de comunicação. Assim, seria
10 Apesar de a base teórica do presente trabalho não ser a teoria do agendamento, entende-se necessária a elucidação do seu conceito, a fim de reforçar os argumentos aqui trazidos. Para Pavarino (2003, p. 11), “a hipótese da Agenda-Setting propõe que aquilo que é comentado, discutido, pensado na esfera social deve-se, em grande parte, aos mass media”. E Hohlfeldt (2008, p.193) complementa: “[...] dependendo da mídia, sofremos sua influência, não a curto, mas a médio e longo prazos, não nos impondo determinados conceitos, mas incluindo em nossas preocupações certos temas que, de outro modo, não chegariam a nosso conhecimento e, muito menos, tornar-se-iam temas de nossa agenda”.
58
possível subsidiar uma discussão social acerca do assunto, que seja
duradoura e traga resultados adequados.
4.1. As Reportagens
Colocada como a terceira da série, a reportagem do dia 28/05/2008
tratou das formas de corrupção encontradas no sistema carcerário.
Obedecendo ao padrão estabelecido para toda a série, a reportagem
começa com a vinheta produzida especialmente em torno do tema. Ela é
marcada pela utilização de muitos recursos de edição, bem como de vários
elementos gráficos. Em relação à estrutura, a reportagem é composta
predominantemente por offs e sonoras, com apenas duas passagens.
Já a última reportagem da série, exibida no dia 30/05/2008, fala das
prisões que dão certo, no Brasil. Ela também segue o padrão da série, no
que diz respeito à vinheta inicial e às trilhas sonoras, bem como aos
recursos de edição. Como foi a última reportagem da série, ela traz um dado
importante que é o posicionamento dos repórteres em relação à crise do
sistema, trabalhado a seguir.
A fim de tornar didáticas as análises das reportagens, nas etapas da
produção, das leituras e das culturas vividas, as reportagens serão
analisadas conjuntamente. Em relação ao texto, as ponderações dar-se-ão
separadamente.
4.1.1. A Produção
Ao se utilizar do método proposto por Johnson (2006) para análise da
produção, dois são os fatores a serem trabalhados: as condições e os meios
de produção e as reportagens enquanto produtos capitalistas.
À primeira vista, pode parecer difícil extrair os dados sugeridos por
Johnson, para análise da produção das reportagens, sem o contato com os
59
sujeitos que as conceberam. Realmente, o depoimento dos repórteres traria
grande contribuição ao presente estudo, mas não se fez possível pela
dificuldade de contato. Todavia, através das próprias reportagens e da linha
editorial da Rede Globo já conhecida11, consegue-se um resultado
satisfatório.
Primeiramente, deve-se atentar para o fato de que as reportagens
contam com imagens e entrevistas feitas em diferentes lugares do país,
passando pelo Rio Grande do Sul, por Goiás, por São Paulo, pelo
Maranhão, pelo Mato Grosso do Sul, pela Paraíba e pelo Paraná. Isso
importa em um gasto excessivo com a produção da reportagem,
demonstrando o poderio econômico da Rede Globo, ao patrocinar
importante condição de produção da série.
A posição dos repórteres e dos produtores das reportagens também
torna-se interessante para análise. Pois, ao ser designado para trabalhar
com temas de extrema complexidade, como o sistema carcerário, a
corrupção e as alternativas ao sistema – temas específicos de cada matéria
–, o repórter deve dedicar-se a uma profunda pesquisa.
Ao que parece, no entanto, os repórteres não fugiram ao que
convencionalmente se escolhe tratar, quando o assunto é desse tipo. Eles
não procuram mostrar dados que fujam ao senso comum e possam trazer
novos horizontes de discussão sobre o tema, eles apenas formataram como
notícias as informações que recebem das fontes.
Pode-se notar isso através da análise de que, sempre logo após a
informação dada pelo repórter, foram articuladas sonoras de autoridades ou
de presidiários no mesmo sentido. Ficando claro, pois, que eram dos
entrevistados as informações que o repórter passou anteriormente.
Em relação às reportagens enquanto produtos culturais capitalistas,
quer-se aqui destacar as marcas ideológicas presentes nelas, manifestadas
através dos estereótipos e dos mecanismos sensacionalistas utilizados.
Em relação à primeira reportagem, sobre corrupção no sistema
carcerário, quanto aos estereótipos, está clara a imagem do preso enquanto
11 Conforme foi trabalhado no item “O Telejornalismo da Rede Globo”, no primeiro capítulo.
60
ser inferior e da autoridade como superior. Tal se justifica pelas sonoras
feitas com um e com outro.
As entrevistas com presos colhem declarações intempestivas, de
conteúdo ruim, próprias à manutenção da imagem já criada pela sociedade
em tornos deles. As sonoras das autoridades, porém, são colocadas como
se todo o afirmado fosse realidade e verdade quanto ao sistema e não como
meras percepções do sistema, como deveriam ser avaliadas.
A segunda reportagem, entretanto, apela para o outro extremo,
colocando a figura do preso como um “coitado”, alguém a que a sociedade
excluiu totalmente.
Esse jogo com a emoção do telespectador está totalmente ligado ao
sensacionalismo que se pretende com a reportagem. Pois, é mais fácil
chamar a atenção do receptor por meio de apelos emocionais do que por
meio de dados interessantes que demandariam uma pesquisa e um
raciocínio muito maior, na etapa da produção.
Sobre os mecanismos sensacionalistas, tal qual a maior parte das
reportagens que aborda temas relacionados à violência, são utilizados
diversos recursos, desde as luzes até as falas dos personagens, de modo a
corroborar com a formação dos estereótipos explicados acima.
Uma das práticas sensacionalistas que mais deixa marca nas
reportagens é a superficialidade no tratamento dos assuntos. Isso porque,
em momento algum, busca-se depoimentos de especialistas da área que
possam elucidar a relação entre o sistema carcerário e a corrupção, bem
como acerca das alternativas à crise penitenciária. Ao contrário, são
mostrados somente relatos de pessoas envolvidas com o dia-a-dia do
sistema carcerário que descrevem como se dão, na prática, os processos
tratados na matéria.
Ademais, cabe ressaltar, ainda em relação às formas subjetivas
presentes nas reportagens, que da última reportagem pode-se extrair a
opinião de seus produtores em relação à crise do sistema carcerário. Isso
porque, ao encerrar a matéria, o repórter afirma que os braços da sociedade
estão fechados para as pessoas que cumprem pena, no Brasil.
61
Trata-se, pois, de uma conclusão, na linha de todo o restante da
reportagem, superficial e insatisfatória. Pois, o tema demanda análises e
considerações muito mais profundas, ao que parece, evitadas nas
reportagens.
4.1.2.1. O Texto – A Reportagem sobre Corrupção
Segundo a proposta de Johnson (2006), em relação ao texto, faz-se
necessária sua descrição, mas também o esclarecimento em torno das
formas culturais que ele torna disponíveis e que efetiva.
A reportagem começa com um off amparado por imagens sombrias
de grades, de sujeira nos presídios, de detentos e de agentes penitenciáros,
dentro das prisões. O texto do repórter elenca a corrupção como o mais
grave problema das penitenciárias. Após, mostra-se a fala de um preso
relacionando corrupção e violência.
O repórter, em off, fala que a forma mais corriqueira de corrupção é
relacionada às famílias dos presos, segundo o que chama de “versão
oficial”. Segue com uma sonora com o diretor do Presídio Central de Porto
Alegre que exemplifica como os familiares procedem para adentrar o
presídio portando objetos proibidos.
Logo, o repórter passa a falar da corrupção dos agentes
penitenciários; em off, ele fala da dificuldade de resistir à corrupção e
relaciona isso com a má remuneração dos agentes. As imagens são de um
agente penitenciário, no seu local de trabalho que, depois, é entrevistado.
Após, o repórter afirma que não existe estatística da corrupção no
sistema carcerário brasileiro, mas argumenta que os processos judiciais
sobre o assunto demonstram sua gravidade. Depois, é feita uma sonora com
um juiz criminal de Formosa – Goiás que traz exemplos de prisões pessoas
ligadas a presídios, por corrupção.
Logo, o repórter faz uma introdução à sonora do Diretor do Sindicato
dos Agentes Penitenciários de São Paulo, este afirma que o número de
62
agentes penitenciários corruptos no sistema pode ser representado pela
proporção de um em cada mil.
Passa-se, então, para a sonora de um agente penitenciário não
identificado que confessa ter sido condenado por corrupção. Sua entrevista
é editada de forma que somente sua silhueta é delineada em um tom
escuro, sobre um fundo vermelho. Além disso, o entrevistado fala sobre as
formas de corrupção dentro de um presídio, envolvendo funcionários,
diretores e detentos.
Seguindo, é feita outra sonora com outro agente penitenciário não
identificado que fala sobre o favorecimento a presos que podem pagar,
sobre os fatores que levam os agentes honestos a não denunciarem as
irregularidades dentro das penitenciárias e sobre a corrupção entre os
próprios presos.
Em off, o repórter fala da figura do diretor de presídio, afirmando que
é ele quem tem total ingerência sobre as regras do estabelecimento. Após,
traz-se uma sonora do promotor de justiça gaúcho Gilmar Bortolotto, em que
ele fala sobre a função do diretor de presídio, nos mesmos parâmetros já
explicados pelo repórter.
Após, o repórter descreve, em off, a penitenciária de Charqueadas,
amparado por imagens do local. Ele enumera a série de concessões dadas
aos detentos pela direção da penitenciária.
Logo, em uma passagem, ele fala das irregularidades que ocorrem no
presídio de Charqueadas, mesmo sendo um estabelecimento de segurança
máxima, com diversos mecanismos de controle e sem superlotação. As
imagens demonstram como os presos passam drogas, celulares e armas de
uma cela para outra. O repórter salienta a inércia dos guardas que convivem
com a situação e não tomam qualquer atitude. E diz que com o uso de
cortinas nas celas não é possível ver o que os presos fazem.
O diretor do presídio de Charqueadas Roberto Weber, em sonora,
argumenta a necessidade das concessões aos presidiários para manter a
disciplina dentro do estabelecimento.
63
Amparado por imagens das celas, o repórter afirma, em off, que os
celulares podem ser recarregados. Logo, é feita uma ligação, através de
uma passagem, em que o repórter afirma que o “celular pode transformar a
prisão em um centro de comando do crime” e diz que a corrupção é um
problema implícito no sistema, que só aparece em seus efeitos.
A reportagem é encerrada por uma sonora com um detento do
Maranhão que está em uma cela solitária, castigado porque foi flagrado
utilizando celular no presídio. Ele conta como se deu todo o processo de
entrada do aparelho na penitenciária.
Esclarecida a estrutura e o conteúdo da reportagem, conforme a
descrição acima, passa-se agora para a análise das formas culturais que ela
torna disponíveis e que efetiva. A interrelação das etapas do circuito,
defendida com afinco por Johnson (2006), mostra sua importância prática
aqui. Isso porque as formas culturais que se pode depreender da
reportagem tem estreita ligação com as formas subjetivas analisadas
anteriormente na etapa da produção.
Sendo assim, quer-se aqui analisar quais foram os enfoques dados
aos temas “sistema carcerário” e “corrupção” na reportagem. A fim de
relacionar as formas subjetivas já estudadas na etapa da produção com as
formas culturais que serão aqui elencadas.
A reportagem coloca os presídios como lugares arruinados,
subumanos, depravados, como sem dúvida é a realidade carcerária atual.
Todavia, falta-lhe o contraponto dos problemas tratados, necessário para
subsidiar uma possível tomada de posição por parte do telespectador.
Todavia, não é em relação aos presídios a maior crítica à reportagem,
mas sim em relação ao tratamento da corrupção12. O tema foi trabalhado, ao
longo de toda a matéria, com um foco desviado, colocando todos os
problemas prisionais como ligados à corrupção.
Sendo assim, casos como o da entrada de objetos através das
mulheres dos presidiários, em dias de visita, não se caracterizam como ato
12 Segundo o Dicionário Barsa da Língua Portuguesa (2003), “corrupção” significa “[...] 2. Depravação, devassidão, perversão. 3. Suborno, peita”. Portanto, neste contexto, corrupção pode ser entendida como o ato de se corromper, de subornar, de fraudar.
64
de corrupção. Simplesmente porque no processo não há uma pessoa
tentando corromper outra. Há, todavia, uma pessoa praticando uma conduta
proibida.
Pode-se analisar, pois, que a categorização de todos os atos
transviados ligados ao sistema penitenciário é um artifício utilizado na
reportagem para agravar e “dar corpo” ao problema da corrupção. Talvez
porque seja a corrupção um problema com raízes muito mais profundas e de
difícil apuração por uma equipe de reportagem. Dessa forma, generalizar os
problemas ligando-os à corrupção parece ter sido o meio encontrado pelos
repórteres para não aprofundar questões polêmicas e complexas.
Outro ponto a ser destacado diz respeito à informação dada pelo
repórter, no início da matéria, de que a corrupção é o problema mais grave
do sistema carcerário. Há controvérsias quanto a essa afirmação, uma vez
que vários são os grandes problemas que o sistema carcerário enfrenta.
Sendo assim, ao fazer isso, o repórter deixa de lado qualquer imparcialidade
e conclui pelo telespectador o que ele deveria apenas sugerir na
reportagem. No entanto, claro é que essa afirmação tem intenção de
maximizar o problema da corrupção, a fim de introduzir o assunto de forma
assustadora, chamando a atenção para o resto da reportagem.
Assim, pode-se perceber que a matéria não assume um papel
esclarecedor diante do complexo problema carcerário. Ao contrário, somente
efetiva formas culturais já concebidas pelo senso comum, que nada
contribuem para a criação de novos paradigmas em torno da questão.
4.1.2.2. O Texto – A Reportagem sobre Presídios que Dão Certo
Seguindo os pressupostos de Johnson (2006), trata-se aqui de
descrever a reportagem, bem como elucidar as formas culturais que ela
disponibiliza e torna efetivas.
A reportagem começa com um off amparado por imagens da
Penitenciária Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Nele, o
65
repórter afirma que esse é o modelo ideal de penitenciária e enumera suas
qualidades. Após, ele descreve a rotina e a estrutura do presídio, afirma que
nunca houve rebelião nem foram encontrados celulares e que a equipe do
Jornal da Globo foi a primeira a entrar ali.
Em uma passagem, o repórter mostra como se dá a entrada do preso
e por quais etapas ele passa posteriormente. Após, em sonora, o diretor da
penitenciária Arcelino Vieira complementa as informações sobre o
encaminhamento dos presos.
Após, são mostradas imagens de um detento em banho de sol e, em
off, o repórter explica que se trata de um assaltante perigoso que por mal
comportamento toma banho de sol isolado dos demais.
Seguindo, o repórter enfatiza que há punições mais graves e
exemplifica mostrando as celas de isolamento, como a ocupada por
Fernandinho Beira-Mar. Ele explica que ficam nessas celas detentos que
estão no RDD – regime disciplinar diferenciado. Com imagens de
Fernandinho Beira-Mar, o repórter diz, em off, que só teve acesso à cela
porque o detento estava em audiência.
Logo, com um efeito de edição, é colocado como se estivesse escrito
na parede da penitenciária o valor de R$ 4 mil reais e o repórter narra que é
esse o custo de cada preso na penitenciária em questão. Ele afirma que o
valor é o dobro do que é gasto em outras prisões e que é o preço que a
sociedade paga para conter criminosos perigosos.
É mostrado a seguir o presídio de Presidente Bernardes, em São
Paulo, o único nos moldes dos dois presídios federais existentes no país.
Mas, o repórter o enfatiza que ali a regra é o descumprimento da lei, oriundo
da mistura de presos de alta e baixa periculosidade.
Uma sonora do promotor de justiça gaúcho Gilmar Bortolotto é
utilizada como base para a afirmação anterior. O membro do Ministério
Público defende a separação dos presos, conforme sua periculosidade, para
que se possa recuperar os que têm condições.
66
Um outro enfoque é trazido pelo defensor público de São Paulo
Renato de Vitto que, em sonora, defende a prisão somente para casos
graves, a fim de se evitar a superlotação nos presídios.
O repórter apresenta a cidade de Guarabira, na Paraíba, em off, com
imagens do local, dizendo que lá estão sendo testados novos métodos
alternativos à pena de prisão.
São utilizadas imagens de uma senhora moradora do local, passando
por uma rua em que presidiários estão capinando. Após, o repórter faz uma
passagem, no local onde os presos estão trabalhando dizendo que aquela
situação poderia causar medo em outros lugares do país, mas que ali existia
o projeto para o trabalho.
Uma sonora com o juiz Bruno Azevedo dá seguimento à reportagem,
onde ele destaca que o projeto apenas cumpre o que está previsto no
Código Penal quanto ao trabalho do preso em serviços e obras públicas.
Também é entrevistado um dos presos que trabalha no local. Ele afirma que
o trabalho deixa “a mente mais livre”.
Depois o repórter afirma que em três anos de projeto não houve fuga
e dá seguimento com a sonora da senhora que antes já havia aparecido na
reportagem. Giselda da Silva, aposentada, afirma que os presos não estão
sozinhos e são orientados e por isso o serviço faz bem para eles e para a
comunidade.
O repórter narra imagens, em off, de tornozeleiras eletrônicas
testadas em presos que são ligadas a uma central de alarme, também
mostrada na matéria. Após, o juiz já entrevistado fala sobre a segurança que
traz a utilização das tornozeleiras.
Com imagens do trabalho do preso Reginaldo, o repórter afirma, em
off, que ele “não se importa com o calor de 40º e nem com o controle 24
horas” da tornozeleira. Reginaldo é entrevistado e complementa que o
controle é uma prova de que ele não está se dirigindo pra outros locais que
não o de trabalho.
Em off, o repórter fala sobre Darcy, um outro presidiário, dizendo que
ele “pode ir onde quiser, mas todo dia vai para o trabalho”. Em sonora, Darcy
67
Caldas de Abreu diz que foi uma alegria ter sua carteira assinada e um
emprego para sustentar sua família.
Após, com imagens da Penitenciária Industrial de Guarapuava, no
Paraná, o repórter, em off, diz que o estabelecimento “é uma fábrica de bons
exemplos” que transforma pessoas condenadas em trabalhadores. O
repórter fala, ainda, sobre a rotina da penitenciária e entrevista um preso que
trabalha no local e diz se sentir “mais livre do que fechado”.
O repórter destaca que os detentos trabalhadores do local são
obrigados a estudar e que também é disponibilizado curso de informática,
mas não obrigatório. Ele salienta que a manutenção de presos neste
estabelecimento não custa mais do que a média dos demais presídios do
Brasil.
O repórter pergunta a um dos presos que trabalha no local se ele tem
vontade de fugir dali e ele responde que não, pois apenas quer “pagar o que
deve à Justiça”.
Com recursos de edição tais quais os utilizados para demonstrar os
valores gastos nas penitenciárias federais, no início da reportagem, são
mostrados os números da reincidência, no Brasil. Ao fundo imagens da
penitenciária de Guarapuava.
A seguir, é feita uma sonora com a coordenadora do Pró-egresso,
Nina Leschuk que afirma que está sendo realizada uma conscientização da
sociedade no sentido de auxiliar na recuperação dos presos.
Com imagens de penitenciárias mostradas nas demais reportagens
da série, em off, o repórter afirma que “os braços da sociedade estão
fechados para a maior parte dos 422 mil brasileiros que cumprem pena nas
prisões visitadas por essa série de reportagem e em tantas outras de vários
estados que preferiram trancar as portas na tentativa de esconder o apagão
carcerário”.
Ao final, o repórter narra a história de Pedro dos Santos que ficou
preso durante nove anos e depois disso foi transferido para Guarapuava,
onde recebeu ajuda. As imagens do off são de Pedro ainda na prisão, por
fim é mostrada sua saída, ao tempo que o repórter diz que ele “é de novo
68
um homem livre”. Pedro é entrevistado e diz que vai começar sua vida de
novo, como um homem livre.
A reportagem é encerrada pela fusão de imagens de Pedro saindo da
cadeia e de um nascer do sol.
Descrita a reportagem, tanto em sua forma quanto em seu conteúdo,
passa-se agora a analisar as formas culturais trazidas por ela. A crítica aqui
se dará em torno uma temática central: por que mostrar “presídios que dão
certo” ao invés de “soluções ao sistema”?
A questão é levantada porque em toda a reportagem procura-se
passar a ideia de que existem prisões perfeitas, no Brasil, e de que as
demais só não são assim porque o Estado não quer. E, costumeiramente,
assuntos polêmicos têm suas causas resumidas pela desídia do Estado,
quando tratados por reportagens televisivas.
Entende-se, no entanto, que o sistema carcerário é permeado por
diversos problemas dentre os quais apenas um é a desídia do Estado, não
mais importante que outros, como o descaso da sociedade em relação à
questão.
Mostrar presídios que funcionam bem na última reportagem da série
não pode ser visto como mostrar alternativas. Mas sim, como um modo de
tranqüilizar o telespectador acerca dos horrores mostrados nas outras
reportagens, colocando no Estado a culpa por não administrar todo o
sistema prisional da forma como o são os estabelecimentos ali elencados.
4.1.3. As Leituras
Em relação às leituras, como Johnson (2006) chama a recepção,
serão analisados três pontos principais. Dois deles tem relação com a teoria
de Johnson (2006): as posições dos leitores em relação ao texto e à
sociedade e a leitura enquanto produção. Já com base em Hall (2006), serão
analisadas as posições dos leitores, no momento da recepção.
69
A análise se dará através de uma pesquisa de recepção realizada
com pessoas ligadas à área jurídica. A escolha de leitores com
conhecimentos especializados acerca do tema se deu com o intuito de obter
respostas mais profundas em relação aos questionamentos feitos. Isso
porque, como já destacado quando da exposição acerca dos Estudos
Culturais, tem-se a tarefa de, com o presente trabalho, buscar novos
paradigmas que possam contribuir com a discussão social acerca do
sistema carcerário e de seu tratamento pela mídia.
Salienta-se, de antemão, que a pesquisa de recepção aqui exposta
não tem como objetivo generalizar resultados, mas sim detectar tendências
de opinião, com base nas amostras aqui elencadas.
Sendo assim, passa-se à análise da posição dos leitores em relação
ao texto e à sociedade, considerando que, nesta pesquisa, foram quatro
entrevistados, sendo três deles advogados e um promotor de justiça.
Há dois momentos de leitura destacados por Johnson (2006) que se
relacionam com dois aspectos das posições dos leitores. Dessa forma, ao
momento abstrato, corresponde uma condição de leitura universal, comum a
todos os leitores; ao momento concreto, relaciona-se uma posição mais
particular de leitura, conforme subjetividades atinentes a cada indivíduo.
A partir disso, presume-se que todos os entrevistados desta pesquisa
partem de algumas posições comuns, enquanto leitores das reportagens que
assistiram. Sejam essas posições, por exemplo, a sua sensibilidade a
realidades assustadoras como a do sistema carcerário, a sua formação
jurídica, a proximidade com a temática do sistema carcerário, dentre outras
que aqui não se tornam importantes analisar.
Porém, no seu acervo particular, cada entrevistado carrega diferentes
peculiaridades. Estas são, por exemplo, a profissão, dentro da área jurídica,
que eles exercem, as suas vivências e os seus estudos relacionados com as
temáticas tratadas na reportagem, a sua capacidade de influenciarem-se
pelo que é trazido pela mídia e tantas outras de maior grau de subjetividade
de difícil mensuração.
70
Em se tratando da posição dos leitores em relação à sociedade,
devemos tratar do indivíduo enquanto ator social. Portanto, no caso desta
entrevista, estão em questão a posição dos profissionais na própria
comunidade em que estão inseridos e na sua profissão, bem como as
tendências ideológicas que movem suas atuações sociais.
Por exemplo, é natural que a opinião de um advogado criminalista,
que atue na defesa de presidiários, seja mais ligada a um “abolicionismo
penal”; enquanto, a opinião de um promotor de justiça, que atua sempre na
função acusatória, seja mais ligada a um movimento “lei e ordem”; e a de um
professor da área do Direito seja mais balanceada, devido a sua ponderação
em relação a todas as teorias sobre sistema penitenciário.
Outro aspecto que Johnson (2006) aponta como importante na
análise das leituras é sua face produtiva. Aqui vale dizer que é impossível
que profissionais jurídicos, como os entrevistados neste trabalho, tenham a
mesma interpretação do que pessoas comuns, sem qualquer ligação com a
questão, ou parentes de presidiário, relacionados emocionalmente com a
temática.
Por isso, dependendo da posição de leitura do receptor, ele produzirá,
na sua individualidade, um novo texto, com significados diferentes daqueles
que o repórter que produziu a matéria tentou passar.
Dito isso, vão-se agora analisar os resultados da pesquisa de
recepção realizada, em que os entrevistados assistiram às reportagens e,
logo após, responderam as indagações. O questionário e as respostas, na
íntegra, estão, respectivamente, dispostos no apêndice e no anexo do
presente trabalho
Acerca da primeira reportagem, sobre corrupção nos presídios há
cinco pontos a serem observados, com base nas respostas da pesquisa.
O primeiro diz respeito ao sensacionalismo ligado à emoção do
telespectador. Pelas afirmações dos leitores, parece que essa forma de
sensacionalismo não foi percebida por eles. Apenas um dos entrevistados
fez duras críticas a reportagem, salientando a “demonização” dos
71
personagens envolvidos com o sistema carcerário, pelas imagens trazidas
na matéria.
Outro aspecto está ligado ao sensacionalismo na forma de
superficialidade dos temas trabalhados na reportagem. Ele parece não ser
detectado pelos leitores. Um dos motivos para isso pode ser o acervo
particular que cada um já possui acerca dos assuntos trazidos pela matéria,
que não os faz sentir falta de dados que embasem para um melhor
entendimento. Há também a própria natureza implícita e sutil desse tipo de
sensacionalismo, que torna difícil a sua percepção. Somente um dos
entrevistados afirma sentir falta de um aprofundamento dos temas, mas
pode-se perceber que a crítica é muito mais em relação ao próprio tema
“sistema carcerário” do que à reportagem, ou seja, é uma observação mais
ligada a ideologias.
A corrupção no sistema carcerário não é novidade para os
entrevistados. Sendo assim, pode-se perceber que não se trata de um
enfoque novo à problemática do sistema carcerário. Inclusive, os leitores,
por suas colocações, demonstraram contrariedade à afirmação de que a
corrupção tem papel central no caos que vive o sistema penitenciário.
Outro ponto a ser trabalhado é que, na reportagem, os leitores são
direcionados a concluir que a corrupção dos agentes é derivada
essencialmente das más condições e remuneração do trabalho que
desempenham. Porém, os entrevistados parecem não ter se deixado
influenciar por isso, pois foi unânime a afirmação de que há uma reunião de
fatores que motiva a corrupção, não só os problemas trazidos pela matéria.
Finalmente, pode-se perceber que, da forma como foram colocadas
na reportagem, as permissões dadas aos presos, o leitor fica condicionado a
considerá-las um absurdo. Na leitura, dois entrevistados interpretaram a
reportagem em consonância com a ideologia que ela passa. Outros dois
foram absolutamente contrários, argumentando pela necessidade das
concessões, a fim de que seja mantido o funcionamento pacífico dos
estabelecimentos.
72
Já em relação à reportagem sobre os presídios que dão certo, no
Brasil, há seis aspectos que merecem destaque.
De início, cabe salientar o tratamento da reportagem em relação aos
valores investidos no sistema prisional. Ela associa os altos gastos com as
penitenciárias federais ao seu sucesso, excluindo outros fatores que possam
ser determinantes nesse processo. Além disso, os valores são colocados
como "caros" à sociedade. Todavia, os leitores entrevistados entendem que
os valores são necessários e que o estado deve investir no sistema
carcerário.
Outro ponto a ser abordado diz respeito ao tratamento dado pela
reportagem aos problemas do sistema carcerário em geral. Ela traz apenas
dois enfoques, em entrevistas curtíssimas com duas autoridades ligadas ao
tema. As opiniões são pouco representativas e dizem respeito a problemas
de fácil visualização, ao passo que as questões mais profundas, mais uma
vez, são deixadas de lado. Os leitores também interpretaram dessa forma,
afirmando que a reportagem deixa a desejar quando rechaça a
demonstração de outras opiniões sobre o tema.
Interessante é, também, a análise da afirmação do repórter, ao fim da
matéria, de que os “braços” da sociedade estão fechados para os que
cumprem pena, no Brasil. Dois dos entrevistados concordam com a
afirmação, defendendo que a desídia da sociedade com os problemas por
que passa o sistema prisional é realidade. Mas outros dois leitores não
concordam. Um deles sem justificativa. O outro por afirmar que o "estigma"
que se diz ser criado em torno do egresso do sistema prisional não é de fato
tão presente na sociedade atual. O entrevistado dá o exemplo de ex-
presidiários que possam apresentar-se novamente como “úteis” à sociedade,
como no caso de terem qualificação profissional.
A reportagem não traz um comparativo entre os "bons"
estabelecimentos e aqueles em condições precárias, a fim de identificar
onde estão suas diferenças, eis outro foco a ser estudado. Para o leitor
comum, sem ligação com o tema, com certeza, isso é um grande prejuízo,
73
pois deixa de lhe trazer informações valiosas para uma tomada de posição
frente ao assunto.
Na verdade, pode-se perceber, com esse tipo de falha de uma
reportagem, o modo como a mídia comumente lida com os receptores,
enquanto meros "absorvedores" da informação.
No entanto, apenas dois dos leitores afirmaram, de forma pouco
enfática, que sentem falta dessa comparação. Tal se torna entendível pela
carga de conhecimentos já trazida por esses entrevistados, a qual supre a
falta de subsídios na reportagem.
Por ser a última da série e ao mostrar penitenciárias que funcionam
adequadamente, a reportagem deveria explicar por que o sistema carcerário
vive essa realidade assustadora. Mas, a ausência de um comparativo, como
já explicado no item anterior, mostra que isso não é feito. Entretanto,
somente um leitor entrevistado detectou a falta de dados que levem ao
entendimento da crise do sistema carcerário.
Quanto à proporcionalidade de uma reportagem falando sobre
presídios que funcionam e quatro sobre problemas do sistema carcerário,
todos os leitores afirmaram que corresponde à realidade do sistema
prisional. Depreende-se disso que independentemente das motivações,
todos os entrevistados concordam acerca da crise do sistema penitenciário.
Em relação à mídia em geral, no tratamento de assuntos polêmicos,
somente um dos entrevistados defendeu que ela destina espaços iguais
para os diferentes argumentos acerca das questões. Demonstrando que até
mesmo pessoas leigas na área da Comunicação percebem a imparcialidade
dos conteúdos jornalísticos.
Outro tema tratado foi a estreita relação entre a veiculação da série de
reportagens aqui trabalhada e a conclusão da CPI do Sistema Carcerário.
Questionados, os leitores disseram perceber a intencionalidade na produção
das reportagens. E mais, defenderam, em sua maioria, que a mídia deveria
tratar de assuntos como esse não só impulsionada por acontecimentos
políticos, a fim de incentivar o debate na sociedade.
74
Por fim, os leitores são questionados quanto à verossimilhança da
imagem dos presídios passada nas reportagens em relação ao que são, na
realidade.
Dois dos entrevistados disseram que as reportagens são retratos fiéis
da realidade. Outros dois se opuseram. Um motivou sua opinião no que diz
respeito ao curto espaço de tempo das reportagens, que não daria
condições de se mostrar todos os problemas em que estão envolvidos os
presídios. Tal entendimento tem abrigo nas críticas frequentes ao
telejornalismo, pela superficialidade com que ele trata as pautas, em função
do pouco tempo que se dispõe. O outro entrevistado alegou que a realidade
prisional é muito mais violenta e que as visões trazidas pelas reportagens
são preconceituosas.
Finalmente, analisar-se-á a posição dos leitores, conforme as
categorias de Hall (2006).
Pelo que se pode analisar das respostas dos leitores aqui
entrevistados, a maior parte deles assume o que Hall (2006) chama de
“posição negociada”. Isso porque, na maior parte das percepções, os leitores
assimilam a reportagem, do modo como ela foi enviada, mas relacionam
suas formas subjetivas particulares e elas, transformando-a em um novo
conteúdo.
Há que se ressaltar, porém, que um dos entrevistados parece estar
mais engajado com a posição descrita por Hall (2006) como de “oposição”,
por suas críticas severas às reportagens e por pouco absorver o conteúdo
trazido por elas.
4.1.4. As Culturas Vividas
O conjunto de abordagens das culturas vividas está relacionado com
a identidade do sujeito receptor e do sujeito produtor, com as formas
subjetivas que compõem sua formação cultural.
75
Este ponto, sendo assim, não se estenderá, visto que já fora exposto,
no item anterior, o perfil dos leitores aqui entrevistados.
Todavia, interessante é destacar o papel que o acervo subjetivo de
cada leitor tem na sua percepção acerca do mesmo produto cultural. Pelas
análises de recepção acima expostas, mesmo sem a identificação do ramo
de atuação de cada profissional, na área jurídica, pode-se perceber a que
função ele está ligado, através da ideologia que carregam suas respostas.
Sem mais considerações acerca dos produtores e dos receptores,
pelas análises já feitas nos itens anteriores, outro importante panorama a ser
tratado diz respeito ao contexto em que está envolvido o objeto de estudo. E,
já que as reportagens tratam da crise do sistema carcerário, deve-se atentar
para a sua inserção no contexto sócio-cultural atual.
A complexa trama de problemas que circundam o sistema carcerário
brasileiro, pois, é oriunda, principalmente, de um descaso com o tema, que
muito tempo vingou e ainda tem raízes no pensamento da população. É
inegável reconhecer que isso está mudando, mas de forma ainda lenta e
sem grandes perspectivas práticas.
76
Considerações Finais
A crise do sistema penitenciário chama a atenção de pesquisadores
de várias áreas das ciências humanas e sociais, tornando-a uma temática
interdisciplinar. Isso porque, nos últimos anos, a realidade carcerária
agravou-se e começou a ganhar espaço na discussão acerca das mazelas
sociais. Os presídios começaram a ser pauta dos noticiários jornalísticos,
das CPIs, das discussões sobre segurança pública e violência.
Estudar como a mídia trata uma questão tão delicada e controvertida
torna-se interessante. Quando pensada a proposta de se entrelaçar, no
presente estudo, a mídia e a questão penitenciária, várias indagações
surgiram. As duas principais foram em relação ao objeto de análise e aos
pressupostos teórico-metodológicos a serem escolhidos. A série “Apagão
Carcerário” e o circuito da cultura, pois, formaram escolhas harmônicas, das
quais resultaram análises satisfatórias.
Analisar qualquer material produzido pela Rede Globo é, sempre,
provocador. Isso porque se está lidando com o meio de comunicação
hegemônico, no país, que detém a maior parte da audiência. E, por assim
ser, a busca de novos paradigmas em torno de suas produções deve ser
sempre procurada, a fim de esclarecer as causas dessa dominação.
A série “Apagão Carcerário” é, pois, um produto tipicamente “global”,
produzidos com grandes custos, com uma linha editorial bem definida e um
claro intuito de influenciar o contexto sócio-político do país.
Os escritos teórico-metodológicos de Johnson (2006) são tomados,
aqui, como valioso recurso para desvendar todos os movimentos por que
passam as reportagens no seu percurso enquanto formadoras da cultura
hegemônica brasileira.
Em relação à produção das duas reportagens analisadas, pode-se
concluir que elas não trazem qualquer novidade em relação ao padrão
utilizado pela Rede Globo. E, quanto ao conteúdo, a escolha dos enfoques
dados às pautas, pelos repórteres, não traz qualquer novidade que possa
subsidiar novas discussões acerca do sistema carcerário.
77
Os textos, como são chamadas as reportagens, no circuito da cultura,
carregam seu principal problema na superficialidade com que são tratados
temas densos, como a corrupção e a própria crise do sistema penitenciário.
Tal fato, contudo, encontra origem na velha prática do jornalismo das
grandes redes de televisão que consiste em oferecer ao público informações
vazias, mas com grande apelo emocional.
Quanto aos leitores, a pesquisa de recepção pode demonstrar a
importância da análise das posições que eles ocupam, quando da recepção.
Dessa forma, pode-se perceber o quão mais difícil é a penetração das
ideologias que carregam as reportagens na opinião de telespectadores que
já tenham algum conhecimento prévio acerca do assunto.
Ademais, reconheceu-se, através da pesquisa, de forma mais clara, a
trama de argumentos tensionados que coexistem em relação aos problemas
do sistema carcerário. Logo, fica claro que a questão de fundo sempre está
permeada por um pensamento mais “liberal” ou mais “rígido”.
No que se relaciona com as culturas vividas, pode-se observar, no
presente estudo, a importância do contexto na formação cultural dos
indivíduos. Quanto aos repórteres, são notórias suas escolhas totalmente
ligadas à linha editorial da emissora, bem como ao objetivo que as
reportagens deveriam alcançar em relação à audiência. Já quanto aos
leitores, suas posições sociais influenciaram totalmente nas percepções
diversas sobre as mesmas reportagens.
Diante do exposto, através das análises realizadas, pode-se concluir
que a imagem dos presídios trazida pelas reportagens da série “Apagão
Carcerário” são e não são verdadeiras, de acordo com o seu receptor.
Assim, a imagem que a reportagem constrói acerca do sistema
carcerário é repleta de falhas e abordagens superficiais. Portanto,
dependendo das formas subjetivas próprias de cada leitor, poderá ela ou
não contemplar uma imagem da realidade dos presídios, no Brasil.
78
Referências Bibliográficas BATISTA, Nilo. Mídia e Sistema Penal no Capitalismo Tardio. Disponível em: <http://www.bocc.ubi.pt/pag/batista-nilo-midia-sistema-penal.pdf>. Acesso em: 17 jun. 2009. BECKER, Beatriz. Telejornalismo de qualidade: um conceito em construção. Revista Galáxia, n. 10, p. 51-64, dez. 2005. Disponível em: <http://revistas.pucsp.br/index.php/galaxia/article/viewFile/1428/896>. Acesso em: 17 jun. 2009. BITENCOURT, Cezar Roberto. Falência da pena de prisão: causas e alternativas. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2001. BUCCI, Eugênio (org.). A TV aos 50. 1.ed. São Paulo: Fundação Perseu Abramo. COLVARA, Lauren Ferreira. Por que usar os Estudos Culturais em pesquisa sobre TV?. UNIrevista, v.1,n.3, jul. 2006. Disponível em: <http://www.unirevista.unisinos.br/_pdf/UNIrev_Colvara.PDF>. Acesso em: 17 jun. 2009. CRUZ, Fábio Souza da. A cultura da mídia no Rio Grande do Sul: o caso MST e Jornal do Almoço. Pelotas: Educat, 2006. CRUZ, Fábio Souza da. Mercosul em pauta: o poder e o “Fait Divers” no telejornalismo brasileiro. 2000. Dissertação (Mestrado em Comunicação Social) – Faculdade de Comunicação Social, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. DIAS, José Carlos. O sistema penitenciário brasileiro: panorama geral. Revista CEJ, v.5, n.15, p.8-11, set./dez. 2001. Disponível em: <http://www.cjf.jus.br/revista/numero15/conferencia.pdf>. Acesso em: 17 jun. 2009. FRANCO, José Henrique Kaster. Execução da pena privativa de liberdade e ressocialização. Utopia?. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=12153>. Acesso em: 17 jun. 2009. GIL, Antônio Carlos. Métodos e técnicas em pesquisa social. 5.ed. São Paulo: Atlas, 1999. GOMES, Itania Maria Mota. Telejornalismo de qualidade. Pressupostos teórico-metodológicos para análise. UNIrevista, v.1,n.3, jul. 2006. Disponível em: <http://www.unirevista.unisinos.br/_pdf/UNIrev_Gomes.pdf>. Acesso em: 17 jun. 2009.
79
GOMES, Luiz Flávio. Indústria das Prisões. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=9478>. Acesso em: 17 jun. 2009. GUIMARÃES, Lara Linhalis. A construção do povo brasileiro no discurso do JN. Disponível em: <http://www.intercom.org.br/papers/regionais/sudeste2008/resumos/R9-0222-1.pdf>. Acesso em: 17 jun. 2009. HALL, Stuart. Codificação/Decodificação. In SOVIK, Liv (org.). Da diáspora: Identidades e mediações culturais. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2003. HERZ, Daniel. A história secreta da Rede Globo. 14.ed. São Paulo: Ortiz, 1991. HOHLFELDT, Antonio et al. Teorias da Comunicação: conceitos, escolas e tendências. 8.ed. Petrópolis: Vozes, 2008. JOHNSON, Richard. O que é, afinal, Estudos Culturais?. In SILVA, Tomaz Tadeu da Silva. O que é, afinal, Estudos Culturais?. 3.ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2006. JUSTIÇA, Ministério da. Dados Consolidados. Disponível em: <http://www.mj.gov.br/data/Pages/MJD574E9CEITEMIDC37B2AE94C6840068B1624D28407509CPTBRIE.htm>. Acesso em: 17 jun. 2009. MARTÍN-BARBERO, Jesús. Dos meios às mediações: comunicação, cultura e hegemonia. 2.ed. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2001. MATTELART, Michele; MATTELART Armand. O carnaval das imagens: a ficção na TV. 2.ed. São Paulo: Brasiliense, 1998. MEDINA, Cremilda. Notícia, um produto à venda: jornalismo na sociedade urbana e industrial. 2.ed. São Paulo: Summus, 1988. MIGUEL, Luis Felipe. Meios de comunicação de massa e política no Brasil. Disponível em: <http://www.lacua.au.dk/index.jps/publikationer/dl3/2midia_e_politica_no_br-miguel-unb.pdf>. Acesso em: 17 jun. 2009. PATERNOSTRO, Vera Íris. O texto na TV: manual de telejornalismo. Rio de Janeiro: Elsevier, 1999. PAVARINO, Rosana Nantes. Teoria das Representações Sociais: pertinência para as pesquisas em comunicação de massa. Disponível em: <http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2003/www/pdf/2003_NP01_pavarino.pdf>. Acesso em: 17 jun. 2009.
80
PICCININ, Fabiana. Notícias na TV Global: Diferenças (ou não) entre o telejornalismo americano e europeu. Disponível em: <http://www.bocc.ubi.pt/pag/piccinin-fabiana-telejornalismo-americano-europeu.pdf>. Acesso em: 17 jun. 2009. SILVA, Carlos Eduardo Lins da. Muito além do jardim botânico. São Paulo: Summus, 1985. SODRÉ, Muniz; FERRARI, Maria Helena. Técnica de Reportagem: notas sobre a narrativa jornalística. Disponível em: <http://books.google.com/books?id=mcIWkbm98K4C&printsec=frontcover&hl=pt-BR&source=gbs_summary_s&cad=0#PPP1,M1>. Acesso em: 17 jun. 2009. SQUIRRA, Sebastião Carlos de Morais. Aprender telejornalismo: produção e técnica. 2.ed. São Paulo: Brasiliense, 1995. TEMER, Ana Carolina Rocha Pessoa. Notícias e serviços: um estudo sobre o conteúdo dos telejornais da Rede Globo. Revista Comunicação & Sociedade, PósCom-Umesp, n. 37, p. 125-144, 1º. sem. 2002. Disponível em: <http://200.144.189.42/ojs/index.php/cs_umesp/article/viewFile/135/3385>. Acesso em: 17 jun. 2009. TRAQUINA, Nelson. Teorias do Jornalismo. A tribo jornalística – uma comunidade interpretativa transnacional. Florianópolis: Insular, 2005. VELOSO, Roberto Carvalho. A crise do sistema penitenciário: fator de introdução, no Brasil, do modelo consensual de Justiça Penal. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=4088>. Acesso em: 17 jun. 2009. ZÔROB, Erick et al. Jornal da Globo: Um Picadeiro Simbólico. Disponível em: <http://www.intercom.org.br/papers/regionais/sudeste2008/resumos/R9-0048-1.pdf>. Acesso em: 17 jun. 2009. WOLTON, Dominique. Elogio do grande público: uma teoria crítica da televisão. São Paulo: Ática, 1996.
82
APÊNDICE A – Questionário da Pesquisa de Recepção
A série “Apagão Carcerário” foi exibida pelo Jornal da Globo, entre os dias
26 e 30 de maio de 2008. Ao total foram cinco matérias tratando de vários
assuntos ligados à crise do sistema penitenciário. Neste trabalho, analisa-se
duas dessas reportagens. Para responder os questionamentos abaixo, pede-
se que se assista às reportagens disponíveis pelos links indicados.
Reportagem 1 – Corrupção nos presídios
Link no Youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=B_17xJA696I&feature=related
1) Como avalias as imagens de presos e de penitenciárias utilizadas na
reportagem (realistas, sensacionalistas, necessárias etc)? Por quê?
2) Ao assistir a reportagem, sentes falta de informações que possam auxiliar
no entendimento do funcionamento das prisões, bem como do papel de cada
autoridade na sua administração?
3) O assunto “corrupção” ligado ao sistema carcerário é novidade para ti, em
parte ou no todo trazido pela reportagem?
4) Na matéria, o repórter afirma que a corrupção é o maior problema dos
presídios. Concordas? Por quê?
5) A corrupção que é mostrada nos presídios está presente também no
Poder Judiciário?
83
6) O comportamento dos agentes penitenciários, ao se corromperem, é
derivado da crise ética geral da sociedade, das condições e da má
remuneração do trabalho que exercem ou de algum outro motivo?
7) Qual tua posição frente às permissões dadas aos detentos do presídio de
Charqueadas, mostrado na reportagem?
Reportagem 2 – Presídios que dão certo
Link no Youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=EunaPgEW2aw&feature=related
1) Achas que os presídios da Polícia Federal, maioria na reportagem, são
diferentes dos presídios estaduais por motivos de verbas ou de
administração?
2) Qual a tua opinião sobre os valores gastos pelo Estado em penitenciárias
comuns e em penitenciárias como as mostradas na reportagem?
3) A reportagem traz opiniões sobre a recuperação de presos no sistema
carcerário, em duas entrevistas, uma com um Promotor de Justiça e outra
com um Defensor Público. Foram contempladas as principais opiniões sobre
o assunto com as duas declarações? Qual a tua opinião sobre o tema?
4) Concordas com a afirmação do repórter, ao fim da matéria, de que “os
braços da sociedade estão fechados” para as pessoas que cumprem pena
no Brasil?
5) Sentes falta de a reportagem trazer um comparativo entre as piores e as
melhores prisões, mostrando onde estão os pontos que as fazem ser
diferentes?
84
6) A reportagem traz subsídios suficientes para que tu possas concluir
porque a maior parte do sistema penitenciário não dá certo?
7) A série é composta por cinco reportagens, dessas apenas uma fala sobre
os presídios que dão certo, no Brasil. Achas que essa proporcionalidade é
correspondente ao que acontece na realidade?
- Acreditas que as reportagens aqui analisadas e a mídia em geral destinam
espaços iguais aos diferentes enfoques de questões polêmicas, como a
crise do sistema carcerário?
- A série “Apagão Carcerário” foi veiculada quando a CPI do Sistema
Carcerário estava no auge de suas investigações, prestes a ser concluída.
Na tua opinião, isso é intencional? É certo a mídia falar de assuntos graves
como este somente quando está na agenda política do país?
- Avaliando as duas reportagens conjuntamente, achas que a imagem dos
presídios construída nelas corresponde à realidade?
86
ANEXO A – Respostas da Pesquisa de Recepção
Reportagem 1 – Corrupção nos presídios
1) Como avalias as imagens de presos e de penitenciárias utilizadas na
reportagem (realistas, sensacionalistas, necessárias etc)? Por quê?
1º entrevistado – “Realistas, porque traduzem a realidade prisional
brasileira”;
2º entrevistado – “Realistas e necessárias, para dar à população a
dimensão do que vivem os presidiários, no sistema carcerário”;
3º entrevistado – “Talvez eu não tenha como avaliar o quanto realistas ou
sensacionalistas foram as imagens utilizadas porque, como ali mesmo é
demonstrado, a vida dos presos nos cárceres brasileiros se trata de uma
realidade paralela, à qual só têm acesso aqueles que integram o próprio
sistema. O que observei nas imagens foi a existência de uma realidade
paralela e obscura (como sugere o próprio nome da reportagem), onde
existem as próprias leis, e onde quem enxerga de fora não tem uma
dimensão exata sobre o que acontece”;
4º entrevistado – “Não resta dúvida que a reportagem trata o problema
prisional com doses exageradas de sensacionalismo preconceituoso que
nada contribui para uma reflexão adequada e complexa frente o problema.
Sempre marcando a abordagem por uma perspectiva de demonização do
preso, da sua família, bem como de agentes penitenciários. Reforçando
assim a imagem de que tudo que se relaciona com a prisão é “sujo” e de
aqueles que se aproximam do sistema apresentam caracteres que os
tornam indignos”.
87
2) Ao assistir a reportagem, sentes falta de informações que possam
auxiliar no entendimento do funcionamento das prisões, bem como do
papel de cada autoridade na sua administração?
1º entrevistado – “Não”;
2º entrevistado – “Prévio a uma matéria como essa, deveria ter a
informação de o que cada autoridade faz em termos do sistema”;
3º entrevistado – “Em razão da própria obscuridade do sistema
penitenciário atual, não me permitiria responder que as informações
prestadas foram completamente satisfatórias”;
4º entrevistado – “Sim. Sinto falta de informação na medida em que a
reportagem apenas busca reforçar idéias estereotipadas, nada esclarecendo
acerca das dinâmicas prisionais”.
3) O assunto “corrupção” ligado ao sistema carcerário é novidade para
ti, em parte ou no todo trazido pela reportagem?
1º entrevistado – “Não é novidade”;
2º entrevistado – “Não. Pois conhecia absolutamente todas as informações
trazidas com relação até mesmo ao formato das propinas”;
3º entrevistado – “É novidade apenas em parte, pois infelizmente é sabido
que a corrupção se trata de prática freqüente nas mais diversas áreas,
embora eu sempre sinta alguma surpresa e indignação ao visualizar
imagens como as que foram mostradas na reportagem”;
4º entrevistado – “Não é novidade”.
88
4) Na matéria, o repórter afirma que a corrupção é o maior problema
dos presídios. Concordas? Por quê?
1º entrevistado – “Discordo, pois o maior problema é a superlotação. É a
superlotação que produz o descontrole, facilitando a corrupção”;
2º entrevistado – “Não é o maior, mas somente um dos problemas. Porque
tem um dado que é o próprio descaso do Estado com relação à estrutura
carcerária que colabora pra essa falência. É como se o preso depois
encarcerado não tivesse nenhuma importância pra sociedade”;
3º entrevistado – “Não sei se é o maior problema (já que decorre de outras
falhas), mas é fato que tem grande relevância, porque não existe como
prosperar nenhum sistema onde os próprios responsáveis e garantidores se
deixam corromper”;
4º entrevistado – “Por óbvio que não. O maior problema dos presídios está
na sua própria existência e nas suas promessas que não podem ser
cumpridas. Em verdade a corrupção apenas representa o resultado de um
enredamento de relações indispensáveis para o funcionamento das casas
prisionais. O que aparentemente parece uma disfunção é o que permite que
as casas funcionem”.
5) A corrupção que é mostrada nos presídios está presente também no
Poder Judiciário?
1º entrevistado – “Não há notícia de corrupção no Poder Judiciário e no
Ministério Público, ao menos no Rio Grande do Sul, o que se explica, em
89
parte, pela remuneração adequada e pelo fato de essas instituições não
terem contato próximo com a massa carcerária”;
2º entrevistado – “Em menos intensidade, mas está”;
3º entrevistado – “Acredito que sim, infelizmente os fatos nos têm mostrado
que a corrupção existe nas mais variadas formas, sem distinção de raça,
sexo, nível de cultura ou classe social”;
4º entrevistado – “A corrupção é um fenômeno que no Brasil alcança boa
parte das instituições e marca significativamente instituições brasileiras,
inclusive o Poder Judiciário”.
6) O comportamento dos agentes penitenciários, ao se corromperem, é
derivado da crise ética geral da sociedade, das condições e da má
remuneração do trabalho que exercem ou de algum outro motivo?
1º entrevistado – “Embora se possa falar em crise ética, a verdade é que o
ambiente prisional deve ser encarado de forma diferente, pois a corrupção
está associada à tensão e à violência que envolve os profissionais ligados
ao controle de presos. É fácil para um preso, direta ou indiretamente,
ameaçar a família de um agente prisional ou a este próprio, tornando-o
suscetível à corrupção”;
2º entrevistado – “É muito difícil avaliar o que leva a pessoa a fazer isso,
mas é uma reunião de todos esses fatores. Os salários realmente são
ridículos pela exposição a situações de risco diárias desses profissionais”;
3º entrevistado – “Na reportagem é possível perceber que cada agente e
cada presídio tem o seu contexto mais próximo, e ao mesmo tempo faz parte
de todo um contexto mais amplo que propicia o comportamento corrupto,
90
porém, a má remuneração se apresenta sem dúvida como um forte
motivador”;
4º entrevistado – “Como disse anteriormente são dinâmicas que estão
atreladas a prisão e são para ela fundamentais, mas também se associam
aos fatores acima mencionados: crise ética geral da sociedade, das
condições e da má remuneração do trabalho”.
7) Qual tua posição frente às permissões dadas aos detentos do
presídio de Charqueadas, mostrado na reportagem?
1º entrevistado – “Tais concessões são indissociáveis da superlotação.
Sem elas as rebeliões acabam se tornando rotina. Por isso, o Diretor do
Departamento de Segurança e Execuções Penais refere que as concessões
são necessárias ‘para uma disciplina mais rigorosa’”;
2º entrevistado – “É indignante. O tratamento diferenciado em penitenciária
é o que causa maior possibilidade de revoltas porque o tratamento deve ser
igual pra todos os presos. As formas desumanas de tratamento também não
são ideais, mas se não se tem condições de dar para todos, não se deve dar
para nenhum”;
3º entrevistado – “Permissões infundadas, sem dúvida demonstram a
conivência da administração do presídio com o comportamento delitivo”;
4º entrevistado – “Creio que fazem parte dos pactos que algumas vezes
tornam-se indispensáveis para a manutenção das casas. Assistir televisão,
não parece um privilégio, alguma privacidade pode ser importante e benéfico
para o preso e para todos. Ora ventiladores também são importantes. O fato
de os presos terem cometido alguns crimes, inclusive graves, não pode nos
remeter para a idéia que não têm direitos”.
91
Reportagem 2 – Presídios que dão certo
1) Achas que os presídios da Polícia Federal, maioria na reportagem,
são diferentes dos presídios estaduais por motivos de verbas ou de
administração?
1º entrevistado – “Atualmente, no Brasil, existem quatro penitenciárias
federais de segurança máxima, estando duas em atividade. São prédios
novos e, portanto, construídos com concepções mais modernas, evitando os
erros dos velhos presídios estaduais. Mas o grande diferencial está na
adequada lotação e classificação dos presos. Lotação adequada e
classificação constituem a receita para a organização prisional e solução do
problema”;
2º entrevistado – “Por administração, porque a verba é destinada conforme
o tamanho da carceragem. A administração faz toda diferença”;
3º entrevistado – “Acho que pelos dois motivos, pois com a má
remuneração a administração tende a se deixar corromper com relativa
facilidade”;
4º entrevistado – “Verbas e administração. Dois fatores importantes”.
2) Qual a tua opinião sobre os valores gastos pelo Estado em
penitenciárias comuns e em penitenciárias como as mostradas na
reportagem?
1º entrevistado – “O Governo fala muito em segurança pública,
esquecendo-se que não adianta comprar viaturas e armas para a polícia. Há
92
muitos aspectos da segurança pública, especialmente no campo da
prevenção, mas em sentido repressivo, não se faz segurança pública sem
presídios adequados, pois é na execução da pena que o trabalho da polícia,
do Ministério Público e do Judiciário vão se efetivar. Então, é preciso gastar
com os presídios, pois não adianta investigar e processar pessoas se não há
como prendê-las de forma adequada. Aliás, gastar com presídios significa
gastar com prevenção do crime, o que é fundamental em nossos dias. Acho,
portanto, que os valores mostrados na reportagem traduzem um dos motivos
do sucesso da prisão federal e o fracasso das prisões estaduais”;
2º entrevistado – “O dado do quanto custa um preso de uma penitenciária
diferenciada mostra um valor alto, mas deve-se atentar para que dentro
desse custo sempre está embutido um desvio de dinheiro, pois sempre tem
corrupção nessas estatísticas. Porém, o Estado tem condições de gastar o
suficiente para proporcionar uma carceragem adequada com boa estrutura”;
3º entrevistado – “Demonstram que o alto investimento é necessário para
que se consiga, de fato, um sistema penitenciário eficiente”;
4º entrevistado – “Necessários”.
3) A reportagem traz opiniões sobre a recuperação de presos no
sistema carcerário, em duas entrevistas, uma com um Promotor de
Justiça e outra com um Defensor Público. Foram contempladas as
principais opiniões sobre o assunto com as duas declarações? Qual a
tua opinião sobre o tema?
1º entrevistado – “Seguramente, há opiniões não contempladas. No meu
entendimento, não existe recuperação de presos perigosos. Ou são
sociopatas, cujas concepções científicas atuais rechaçam a idéia de
recuperação, ou são quadrilheiros, que mantém, mesmo quando estão
presos, seus vínculos de vida e morte com outros criminosos. A prisão deve
93
cumprir seu papel de punir e conter criminosos violentos. A idéia de
recuperação deve ser reservada a criminosos dos regimes semi-aberto e
aberto”;
2º entrevistado – “Não foram, pois deixaram muito a desejar no que refere
às possibilidades de ressocialização. Porque eles falaram na questão de
separar os irrecuperáveis dos outros, mas até aqueles merecem transformar
o encarceramento em algo produtivo. Pois isolá-lo é tornar o
encarceramento inútil para eles e para a sociedade. Eu sou totalmente
favorável em transformar o encarceramento em trabalho”;
3º entrevistado – “Concordo que alguns presos são irrecuperáveis, e que é
fundamental uma Equipe Técnica preparada que avalie as condições de
cada preso para que se possa realizar um trabalho diferenciado, propiciando
um caminho àqueles onde se vislumbrar chances de reintegração à
sociedade”;
4º entrevistado – “Não. O problema prisional é um problema social muito
amplo. Não é apenas um problema da Justiça (promotores, juízes e
advogados). È um problema complexo que exige enfrentamento por todos os
setores acadêmicos e sociais”.
4) Concordas com a afirmação do repórter, ao fim da matéria, de que
“os braços da sociedade estão fechados” para as pessoas que
cumprem pena no Brasil?
1º entrevistado – “Não”;
2º entrevistado – “Não. Porque se o indivíduo sair do encarceramento com
algum tipo de habilitação que coloque ele no mercado de trabalho, ele
consegue a reabilitação. Não há tanto preconceito quanto se fala, em
94
relação aos egressos do sistema prisional. O problema é que o preso sai do
encarceramento somente profissionalizado para o crime. A sociedade o
receberia, se ele tivesse uma formação adequada, se pudesse oferecer
alguma coisa”;
3º entrevistado – “Concordo, pois em geral as pessoas preferem não se
envolver. Se já está difícil para qualquer cidadão conseguir emprego, para
um ex-presidiário é praticamente impossível”;
4º entrevistado – “Sim”.
5) Sentes falta de a reportagem trazer um comparativo entre as piores e
as melhores prisões, mostrando onde estão os pontos que as fazem
ser diferentes?
1º entrevistado – “Sim”;
2º entrevistado – “Não, porque mostrando as prisões melhores já há um
paradigma para saber onde as outras estão erradas: superlotação,
condições desumanas, corrupção dos agentes, não oferecimento de
trabalho”;
3º entrevistado – “Embora se consiga perceber algumas dessas diferenças,
seria bom se esse comparativo fosse apresentado de forma mais clara”;
4º entrevistado – “Não”.
6) A reportagem traz subsídios suficientes para que tu possas concluir
porque a maior parte do sistema penitenciário não dá certo?
95
1º entrevistado – “Sim”;
2º entrevistado – “Traz. Nesse aspecto ela é bem elucidativa. A reportagem
mostra as principais mazelas, a corrupção e a falta de recursos, a falta de
interesse do judiciário, do MP e da defensoria. Porque a responsabilidade é
de todos esses órgãos”;
3º entrevistado – “Acredito que sim, mas senti falta de soluções para os
problemas apresentados”;
4º entrevistado – “De maneira alguma. O problema das prisões é muito
mais complexo”.
7) A série é composta por cinco reportagens, dessas apenas uma fala
sobre os presídios que dão certo, no Brasil. Achas que essa
proporcionalidade é correspondente ao que acontece na realidade?
1º entrevistado – “Sim”;
2º entrevistado – “Sim, sem dúvidas, porque o que dá certo é mínimo”;
3º entrevistado – “Sim, pois os que dão certo, infelizmente, é a grande
minoria”;
4º entrevistado – “Sim”.
- Acreditas que as reportagens aqui analisadas e a mídia em geral
destinam espaços iguais aos diferentes enfoques de questões
polêmicas, como a crise do sistema carcerário?
96
1º entrevistado – “Sim”;
2º entrevistado – “Acho que eles conseguiram trazer várias opiniões. Mas o
que ficou muito superficial foi entrar no foco do problema, porque ouviram de
forma muito rápida os personagens envolvidos, sem diagnosticar com as
autoridades o que realmente está errado”;
3º entrevistado – “Acredito que não. Os enfoques variam de acordo com os
acontecimentos mais recentes”;
4º entrevistado – “Não”.
- A sé rie “Apagão Carcerário” foi veiculada quando a CPI do Sistema
Carcerário estava no auge de suas investigações, prestes a ser
concluída. Na tua opinião, isso é intencional? É certo a mídia falar de
assuntos graves como este somente quando está na agenda política do
país?
1º entrevistado – “Acredito que é papel da mídia antecipar-se à agenda
política e, muitas vezes, pautá-la”;
2º entrevistado – “Sim, foi intencional. Não é certo o que a mídia faz, mas
nesse contexto acaba sendo necessário pra mobilizar a opinião pública e os
parlamentares envolvidos. Mas a imprensa tem uma responsabilidade muito
maior do que essa. Ela deve em todos os momentos levantar temas como
esses”;
3º entrevistado – “Na minha opinião, é intencional, e não é certo. Ocorre
que é nessas ocasiões em que a população fica mais atenta aos problemas
e, de certa forma, a mídia aproveita”;
97
4º entrevistado – “Sim, foi intencional. Por óbvio que problemas como esse
devem fazer parte do cotidiano da mídia, entretanto, os interesses
econômicos e políticos sabemos indicam outra forma de agendamento”.
- Avaliando as duas reportagens conjuntamente, achas que a imagem
dos presídios construída nelas corresponde à realidade?
1º entrevistado – “Sim”;
2º entrevistado – “Sim”;
3º entrevistado – “Avalio que a “realidade” seja bem mais ampla do que
aquilo que pode ser mostrado num curto espaço de tempo, mas que,
considerando as limitações existentes, as reportagens conseguiram
transmitir uma boa noção dessa realidade”;
4º entrevistado – “Não. A realidade prisional brasileira é mais violenta e
marcada por perversidades infinitas. A realidade é mais dura, mais cruel. As
reportagens trazem uma visão preconceituosa vinculada a percepções do
crime e criminoso extremamente autoritárias e conservadoras.
Entendimentos fundados numa lógica maniqueísta”.