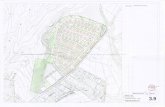número completo (pdf, 1,15 Mb)
Transcript of número completo (pdf, 1,15 Mb)


APRESENTAÇÃO
Mantida a periodicidade anual – considerada a mais apropriada para as atuais cir-
cunstâncias institucionais – a revista IDIOMA, em seu número 23, conserva a tradicio-
nal edição impressa, em tiragem limitada, e uma versão digital, disponível na página
http://www.institutodeletras.uerj.br/idioma/numeros/22/idioma22.pdf.
Como de praxe, este número reúne artigos e recensões de professores e pesquisa-
dores da UERJ e de outras IES, valendo ressaltar a inédita recensão do professor Eva-
nildo Bechara sobre um dos livros mais importantes acerca das pesquisas dialetológicas
em nosso continente, El estudio del español hablado culto. Num ano em que se tem
notícia de que o projeto da Gramática do Português Falado dará como fruto a publicação
de seu volume final, parece-nos relevante retomar os primeiros tempos dessa história, na
obra de 1986 de Juan Lope Blanch – também como nossa singela homenagem a esse
grande pesquisador espanhol radicado no México, falecido em 2002.
Prof. Dr. Claudio Cezar Henriques Coordenador Editorial e Organizador deste número

IDIOMA 23
6
SUMÁRIO
APRESENTAÇÃO ........................................................................................................... 5
ARTIGOS
ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA: UMA VISÃO HISTÓRICA ......................... 7
A QUESTÃO DA DÊIXIS: UMA RETROSPECTIVA ................................................ 25
GRAMATOLOGIA E DIFFÉRANCE: A PROPÓSITO DOS PRIMEIROS ESCRITOS
DE JACQUES DERRIDA ............................................................................................. 36
UMA LEITURA DISCURSIVA DE CRÔNICAS DO PERÍODO JK ......................... 40
RECENSÕES
JUAN M. LOPE BLANCH – El estudio del español hablado culto. História de um
proyecto.. ........................................................................................................................ 49
ERROS E PECADOS EM NOSSA COMUNICAÇÃO ................................................ 52

IDIOMA 23
7
ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA: UMA VISÃO HISTÓRICA
Nícia de Andrade Verdini Clare (UERJ)
Na qualidade de professora de Língua Portuguesa, com quarenta anos em sala de
aula, nos ensinos fundamental, médio e superior, propusemo-nos a refletir sobre a traje-
tória e a qualidade desse ensino, como já o fizemos tantas vezes ao prepararmos nossas
aulas.
O ensino no Brasil foi, inicialmente, tarefa dos jesuítas da Companhia de Jesus,
com a finalidade da catequização indígena. Foram os jesuítas, entre eles Manuel da Nó-
brega e José de Anchieta, credores de uma ação mais educadora, de base catequética, do
que conversora (Houaiss: 1992, 147). A ação jesuítica se definia pela compreensão de
que era a língua geral o caminho a seguir. Tal língua, considerada franca ou de intercur-
so, tinha por base o tupi, mais especificamente a língua dos Tupinambás, entre numero-
sas línguas indígenas espalhadas em território brasileiro, mas apresentava, também, ves-
tígios de um português estropiado.
Durante três séculos, foram os jesuítas os educadores no Brasil, sendo que o maior
destaque coube ao Padre José de Anchieta, que, a respeito do tupi, legou-nos uma gra-
mática: Arte de gramática da língua mais usada na costa do Brasil.
A língua portuguesa transplantada para o Brasil, inicialmente, sofreu forte concor-
rência da língua geral falada informalmente em todo o litoral brasileiro. Mas o portu-
guês era a língua da escola, o falar polido e disciplinado em gramática, enquanto a lín-
gua geral carecia de prestígio, pois era um linguajar sem tradição e aprendido de outiva.
Usava-se o português na administração e todos os instrumentos jurídicos eram escritos
na língua dos colonizadores. Os livros, de ficção ou científicos, também eram escritos
em português, língua oficial. Assim, no século XVIII, pode-se mesmo dizer que houve
um período de bilingüismo no Brasil e o idioma luso, já transplantado, começava a re-
ceber os primeiros adstratos em solo americano.
A instituição da língua portuguesa só se torna definitiva com a vinda de famílias
de imigrantes portugueses, mas, principalmente, com o Diretório dos Índios, implantado
após a expulsão dos jesuítas, em 3 de maio de 1757, pelo governador Francisco Xavier
de Mendonça Furtado, com o aval do Marquês de Pombal e aplicado, a princípio, no
Pará e no Maranhão e, no ano seguinte, em todo o Brasil. O Marquês de Pombal, sen-
tindo a língua portuguesa ainda ameaçada pela língua geral, uma mistura da língua indí-
gena com o português, tornou obrigatório, por instrumento legal, o ensino de português
no Brasil. – um fato já consumado, apenas sancionado então por ele. A finalidade era
abolir essa língua geral e impor a chamada “língua do Príncipe”, ou seja, o português de
Portugal. Segue abaixo uma versão do Édito de Pombal:
Sempre foi máxima inalteravelmente praticada em todas as nações
que praticaram novos domínios introduzir logo nos povos conquista-
dos o seu próprio idioma, por ser indispensável, que este é um meio
dos mais eficazes para desterrar dos povos rústicos a barbaridade dos
seus antigos costumes e ter mostrado a experiência que, ao mesmo
passo se introduz neles o uso da língua do Príncipe, que os conquistou,
se lhes radica também o afeto, a veneração e a obediência ao mesmo
Príncipe. Observando, pois, todas as nações polidas do Mundo este
prudente e sólido sistema, nesta conquista se praticou pelo contrário,

IDIOMA 23
8
que só cuidavam os primeiros conquistadores estabelecer nela o uso
da língua, que chamamos geral, invenção verdadeiramente abominá-
vel e diabólica, para que privados os índios de todos aqueles meios
que os podiam civilizar, permanecessem na rústica e bárbara sujeição,
em que até agora se conservam. Para desterrar este perniciosíssimo
abuso será um dos primeiros cuidados dos Diretores estabelecer nas
suas respectivas povoações o uso da língua portuguesa, não consen-
tindo por modo algum que os meninos e meninas, que pertencerem às
escolas, e todos aqueles índios, que forem capazes de instrução nesta
matéria, usem da língua própria das suas nações ou da chamada geral,
mas unicamente da Portuguesa, na forma que S.M. tem recomendado
em repetidas ordens, que até agora não se observam, com total ruína
espiritual e temporal do Estado. (Cunha: 1985, 80).
Entretanto, não foi apenas um decreto que tornou possível o restabelecimento da
língua portuguesa tida como padrão. Este se deve a fatores de unificação, como a língua
escrita culta e, ainda, a língua falada pelas elites e o ensino preconizado nas escolas.
Além disso, o português era a língua do comércio utilizada nos portos, nas cidades
e vilas e até mesmo no seio da família, “mas ainda aí aparecia o tupi, falado pelos fâmu-
los, quase todos índios ou de descendência índia” (Sampaio: 1928, 51). Os falares ge-
rais, porém, foram, pouco a pouco, empurrados para os sertões. Nas cidades litorâneas,
só se falava a língua dos colonizadores, que representava fator de status. Nas principais
cidades, falava-se um português mais culto, “de onde as conhecidas escolas pernambu-
cana, baiana e mineira das nossas histórias literárias” (Elia: 1979, 189). Enquanto isso,
nos engenhos de açúcar, formava-se uma língua coloquial, resultante do contato entre
brancos trabalhadores e negros escravos traficados da África para o Brasil, diretamente
para Salvador, a partir de 1550.
Nas cidades imperava a língua portuguesa; na zona rural agrícola, da-
va-se o mesmo fato, porquanto os falares crioulos ou semicrioulos não
passavam de formas portuguesas alteradas na boca de aloglotas (Elia:
1979, 193)
Vêm de longe os problemas relativos ao ensino de língua materna no Brasil. Até
meados do século XVIII, esse ensino era restrito à alfabetização. Poucos educandos
tinham acesso à escolarização mais prolongada. Esses, privilegiados, estudavam a gra-
mática da língua latina, a Retórica e a Poética. (Soares: 1998, 54).
A educação escolarizada não jesuítica iniciou-se nos meados do século XVIII e se
dirigia a uma ínfima parcela da população, que foi aumentando aos poucos até que, com
a chegada ao Brasil do príncipe regente D. João, em 1808, fossem criados centros de
transmissão do saber. O Rio de Janeiro, agora capital do Reino, a partir de 1815, foi
sede da Escola Médico-Cirúrgica, do Liceu de Artes, da Biblioteca Real, além de outras
criações.
Paralelamente, a língua literária, que se desenvolvia, ganhou, no século XIX, com
José de Alencar, uma modalidade própria, aproveitando-se da cor local. Chegou-se a
cogitar da formação de uma língua brasileira, quando, na verdade, estávamos diante de
um “estilo brasileiro” (Melo: 1981, 131) – ou variedade brasileira, numa concepção
mais atual –, que iria desenvolver-se, até o século XX, quando se afirma com o movi-
mento modernista.
Verdadeiramente, o desenvolvimento cultural foi maior no segundo reinado,

IDIOMA 23
9
quando se instalaram no Brasil institutos históricos e geográficos que superaram as aca-
demias do século XVIII. Todavia, ainda o saber se concentrava na Metrópole, em espe-
cial em Coimbra, para onde eram enviados os jovens de famílias abastadas do Brasil, a
fim de seguir cursos de Direito, Teologia, Medicina e Engenharia.
Os estudos lingüísticos no Brasil eram, todavia, ainda empíricos; faltava-lhes um
método científico, que só começou a surgir no primeiro quartel do século XIX. A gra-
mática normativa continuava entregue a amadores. Só em fins do século XIX, com o
país já independente, os ensinos de Gramática, Retórica e Poética cedem seu lugar à
disciplina chamada “Língua Portuguesa” (Soares: 1998, 55), que se baseava no estudo
da gramática da língua e leitura de antologias que privilegiavam autores portugueses (e
alguns brasileiros que mais se destacavam pela imitação dos clássicos), passando todos
a formar o paradigma do “bem escrever” que os alunos deviam imitar. Isso porque pre-
dominavam na Lingüística as teorias histórico-evolutivas, segundo as quais o presente
lingüístico se explicava pelo passado e a fase atual do idioma representava uma corrup-
ção da fase passada. Assim, prestigiavam-se escritores lusitanos dos séculos XVI e
XVII.
Foi, ainda, essa preocupação historicista que norteou a reforma do ensino de lín-
guas, especialmente da materna, no programa elaborado por Fausto Barreto, em 1887,
de onde se originaram as primeiras gramáticas escritas por brasileiros: as de João Ribei-
ro (Gramática portuguesa, 21a ed., 1921), Pacheco da Silva Jr. e Lameira de Andrade
(Gramática da língua portuguesa, 1887), Maximino Maciel (Gramática descritiva,
1910), Alfredo Gomes (Gramática portuguesa, 2a ed., 1930) e Ernesto Carneiro Ribeiro
(Serões gramaticais, 106a ed., 1957).
No século XIX, o ensino de língua materna relacionava-se a uma tradição de teo-
ria e análise com raízes na filosofia grega, em que a linguagem era considerada expres-
são do pensamento. Só no início do século XX, com as novas teorias lingüísticas, ouvi-
ram-se os primeiros ecos de uma mudança, mas, ainda assim, o ensino de Língua Portu-
guesa se mantinha voltado à tradição gramatical, buscando-se a homogeneidade padro-
nizada e desprezando-se a heterogeneidade dialetal.
Essa preocupação com a boa escrita pôde ser comprovada, posteriormente, no iní-
cio do século XX, pela análise dos manuais utilizados na época: a Gramática expositiva,
de Eduardo Carlos Pereira (em dois volumes: curso elementar e superior), a Antologia
nacional, de Fausto Barreto e Carlos de Laet (publicada em 1907 e consumida em 43
edições até os anos 60, baseando-se a modalidade culta em autoridades clássicas e apre-
sentando sobre cada escritor sucinta biografia histórica e literária), além de O idioma
nacional, de Antenor Nascentes; a Gramática normativa da língua portuguesa, de
Francisco da Silveira Bueno, e a Gramática metódica da língua portuguesa, de Napole-
ão Mendes de Almeida.
A gramática de Pereira (106a ed., 1957), por exemplo, era expositiva e se dedicava
ao programa oficial dos três primeiros anos ginasiais. Procurava, seguindo a então ori-
entação da Comissão de Programa de Línguas, fugir do excesso de terminologia e evitar
as subdivisões que representariam um prejuízo para a clareza. No exemplário, foram
selecionados autores clássicos e modernos seguidores dos clássicos, entre estes dando-
se preferência a Alexandre Herculano e Antônio Feliciano de Castilho.
Apresentava Pereira uma noção mais larga de língua, cujas regras não se formu-
lam a priori, ao sabor dos gramáticos, mas pelo uso das pessoas cultas. Ainda se tratava
de uma visão elitista, mas já ampliada em relação a conceitos anteriores em que a língua
era delineada em gabinetes. Dessa forma, citava escritores modernos para o abono das

IDIOMA 23
10
regras estabelecidas.
A prática se fazia por meio de textos antológicos, em que estruturas lingüísticas
eram submetidas à análise lógica, “que, levada ao exagero e a um vazio de só se servir a
si mesma, passou a ser, entre muitos professores, o centro de preocupação de suas au-
las” (Bechara: 1986, 37). Assim, textos do século XVI, como Os Lusíadas, de Camões,
se constituíam objetos de “terror” do alunado, que eram obrigados a analisá-los.
Entretanto, João Ribeiro (1921, 240), nas notas finais de sua Gramática, já se mos-
trava infenso às doutrinas gerais da análise lógica: “Nas minhas lições de português
feitas no Pedagogium do Rio de Janeiro, a análise lógica foi completamente eliminada
por inútil e insignificante.”
Nas primeiras décadas do século XX, a concepção de língua que orientava o ensi-
no de língua materna era a de sistema único, o que significava a não aceitação das vari-
edades. Ensinar português representava levar os alunos ao reconhecimento do sistema
lingüístico, com a aprendizagem das regras prescritas pela gramática normativa. Era
função da escola transmitir e fixar a variedade culta da língua, garantindo-lhe a continu-
idade, para, dessa forma, atender aos interesses dos grupos dominantes.
O trabalho de ‘fixação’ de uma variedade da língua acaba por levar a
um compromisso com uma visão estática da língua e a conseqüentes
assunções de crenças que ligam a mudança lingüística a conceitos ne-
gativamente avaliados pela escola. (Santos: 1996, 18)
As primeiras idéias lingüísticas chegaram até nós veiculadas por Said Ali em suas
gramáticas. Autodidata, Said Ali mantinha-se sempre em contato com os estudos euro-
peus, a ponto de, em 1919, incluir em sua obra Dificuldades da língua portuguesa capí-
tulos voltados para as doutrinas saussurianas, quando o Curso de lingüística geral, obra
póstuma de Saussure, fora publicado apenas três anos antes, em 1916.
Partindo do conceito de diacronia de Saussure, Said Ali criou sua Lexiologia do
português histórico (1921), transformada em Gramática histórica, na 2ª edição, para
atender ao programa oficial vigente na época.
A obra de Said Ali inova, pois não parte do latim para chegar ao português, mas,
antes, trabalha do português arcaico ao moderno, apresentando duas sincronias “tão
válidas quanto a anterior” (Bechara: 1986, 52) – referindo-se à sincronia latina. Todavi-
a, a inovação do mestre não foi acolhida na época e seu trabalho só se tornou reconheci-
do após a década de 60, com os novos estudos lingüísticos já valorizados.
Na década de 40, ainda não havia um consenso sobre o que ensinar e como ensi-
nar. Cada professor estabelecia o seu planejamento, selecionando, à sua moda, o que
considerava importante para o estabelecimento de um programa de ensino.
Nessa década, com base na dicotomia langue-parole de Saussure, abriu-se para
nós o campo da Estilística. Pôde, assim, o professor distinguir estilística de gramática.
Mas, desde 1923, Sousa da Silveira, em sua obra Lições de português, embora ainda não
se dedicasse ao estudo da Estilística, já se preocupava em conceituá-las separadamente
e, do todo, já se depreendia uma colocação, acima de tudo, estilística, numa visão larga
em relação à época em que realizou seus estudos.
A linguagem brasileira corrente infringe este preceito [Não se inicia
período por variação pronominal átona] a cada momento e é força re-
conhecer que, em muitos casos, comunicando à expressão encantado-
ra suavidade e beleza (1983, 253)

IDIOMA 23
11
É importante reconhecer o pioneirismo de Sousa da Silveira, que, desde a 1ª edi-
ção de sua obra, opôs-se ao “dogmatismo da corrente purista”, como afirmou em seu
prólogo, e defendeu a necessidade de se recorrer a autores contemporâneos brasileiros,
sem que, por esse motivo, se desprezassem os clássicos portugueses. Assim, por exem-
plo, Machado de Assis é mais citado do que Camões. Também reconheceu a variabili-
dade lingüística, atribuindo certa importância tanto às variedades diastráticas quanto às
diatópicas.
A própria literatura nossa regional exprime-se numa língua que, ape-
sar de tudo, não deixa de ser a portuguesa; e o falar dialetal da nossa
gente inculta é, na essência, língua portuguesa. (1983, 292)
Também de Sousa da Silveira temos os Trechos Seletos, antologia cercada de co-
mentários e precedida de um estudo da língua portuguesa em seus vários aspectos. Dis-
tingue língua falada de língua escrita, brasileirismos de arcaísmos, gramática de estilís-
tica. Dessa forma, Sousa da Silveira apresenta uma didática até os dias atuais respeitada:
o estudo do texto, pelo texto, para o texto. Gramática [aqui, referindo-se à morfossinta-
xe], Semântica e Estilística são estudadas simultaneamente, pela sua proposta.
E os professores que ainda não descobriram que o texto é o grande
instrumento de ensino da língua, que leiam atentamente, repetidamen-
te, exaustivamente, as anotações de Sousa da Silveira aos Trechos se-
letos e terão encontrado o rumo definitivo da sua Didática. (Melo, a-
presentação de Trechos seletos: 1963, 3)
Mas não é apenas nos planos pedagógico e didático que distinguimos as duas me-
tades do século, no que tange ao ensino em geral. Um problema de cunho político-social
distancia frontalmente os anos pós-50 dos anteriores. A realidade é que, desde o início
do século até os anos 50, o ensino destinava-se a uma elite. As camadas populares não
tinham acesso à escola, pois as vagas eram escassas. Ora, esses alunos de uma classe
privilegiada já chegavam à escola com um domínio razoável do dialeto de prestígio, a
norma padrão culta, e seus professores eram teórica e didaticamente preparados com
excelência.
À escola cabia o ensino da gramática normativa. Textos literários compunham an-
tologias, através das quais se desenvolviam nos educandos as habilidades de leitura e
escrita. Além disso, a leitura tinha início, nessa época, em casa, no seio da família. Li-
am-se os contos de Andersen e dos Irmãos Grimm; as fábulas de Esopo e La Fontaine;
as histórias de Monteiro Lobato no Sítio do Picapau Amarelo; os livros da Condessa de
Ségur e da Sra. Leandro Dupré, entre outros.
A gramática histórica já tinha adquirido, nesse período, nova dimensão, graças ao
ensino universitário de língua materna, iniciado em 1939. Tinha como digno represen-
tante o filólogo Ismael de Lima Coutinho, que, desde sua obra mais relevante – Gramá-
tica histórica (1938) – praticava com rigor o método histórico-comparativo.
Por outro lado, a Estilística começava a ocupar um espaço no ensino, com a publi-
cação, em 1952, do livro Contribuição para uma estilística da língua portuguesa, de
Mattoso Câmara, que enveredava por um caminho até então pouco explorado por nós.
No campo da Lingüística, Mattoso Câmara publica, em 1956, o Dicionário de fa-
tos gramaticais, depois Dicionário de filologia e gramática, hoje Dicionário de lingüís-

IDIOMA 23
12
tica e gramática, obra de consulta, compreendendo vários verbetes, através dos quais
termos gramaticais novos e seus respectivos conceitos nos são apresentados.
Nos ensinos primário e secundário (correspondentes, respectivamente, aos atuais
ensinos fundamental e médio), nos anos 50, trabalhava-se, ainda, com a antologia. Mas
a questão do ensino ainda se mantinha problemática. As nomenclaturas eram muito va-
riáveis e cada professor seguia a sua linha, até que, diante do caos reinante, o governo
federal incumbe um grupo de gramáticos da tarefa de compilar termos técnicos, relacio-
nados à Língua Portuguesa, que deveriam ser empregados uniformemente em todo o
país. Esse glossário foi publicado, em 1959, sob forma de portaria, com o título de No-
menclatura Gramatical Brasileira (NGB), a fim de padronizar as referências descritivas
sobre a língua, numa tentativa de redirecionamento de estudos. Até os dias atuais, a
NGB encontra-se em vigor, embora submetida a várias críticas e já necessitando de uma
revisão.
A NGB não resolveu o problema do ensino, já que este não se restringe à nomen-
clatura empregada pelos professores. O objeto do ensino de Língua Portuguesa é variá-
vel o bastante para que se possa considerar que uma única doutrina dê conta dessas va-
riáveis. Além do mais, entende-se que cada professor tem o direito ético de privilegiar
essa ou aquela doutrina, sem que, por isso, seja condenado.
Dessa forma, na década seguinte, estudos e pesquisas denunciam o fracasso esco-
lar, a crise do ensino, que se mantém apesar de todas as tentativas. O alvo da alfabetiza-
ção em massa, perseguido desde a Constituição de 1946, continua inatingível. Nasce,
então, como mais uma tentativa de aperfeiçoamento do ensino, a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional, sob o número 4024/61. Esta lei determina que “a educa-
ção é direito de todos e será dada no lar e na escola” (Art.2º). Entretanto, em parágrafo
único, admite a insuficiência de escolas e a possibilidade de encerramento de matrícula
em caso de falta de vagas.
Ainda com intenção de minimizar os problemas, a Lei 4024/61 cria os Conselhos
Estaduais de Educação. Estes se propõem a tentar melhorar a qualidade do ensino. Le-
var-se-ão em conta, a partir da Lei, a variedade dos cursos, a flexibilidade dos currículos
e a articulação dos diferentes graus. (Art. 12). Assim, a organização do ensino passa a
obedecer às peculiaridades de cada região e de seus grupos sociais.
Nessa fase, destaca-se a conferência realizada por Celso Cunha no MEC, em de-
zembro de 1964, sobre o tema “O ensino da língua nacional”. Publicada nesse mesmo
ano, pela Livraria São José, a conferência prima por uma abordagem corajosa: a defesa
da unidade da língua, contrária a uma uniformização arbitrária, dissociada da realidade
lingüística.
A situação começa a se transformar ainda na década de 60, quando se firma o pro-
cesso de democratização da escola – em verdade, uma conseqüência de um novo mode-
lo econômico: o povo, em geral, conquista o direito à educação sistemática. Mas não se
trata, apenas, de uma mudança educacional. Surgem novas condições sociopolíticas.
Todo o país vive uma metamorfose. Com a ditadura militar, a partir de 1964, passa-se a
buscar, no país, o desenvolvimento do capitalismo, mediante expansão industrial, e o
fim das ideologias socialistas e comunistas. Na busca incessante desse objetivo, fecham-
se escolas e diretórios acadêmicos de universidades; perseguem-se professores e alunos
acusados de comunistas e acaba a liberdade de imprensa.
A proposta educacional, agora, passa a ser condizente com a expectativa de se a-
tribuir à escola o papel de fornecer recursos humanos que permitam ao Governo realizar
a pretendida expansão industrial.

IDIOMA 23
13
Com o povo conquistando o direito à educação sistemática, a clientela da escola
pública começa a modificar-se fundamentalmente. As escolas primárias municipais não
são mais freqüentadas pelos filhos das camadas mais privilegiadas da população. Aos
poucos, o aspecto elitista da escola pública desaparece e sua clientela passa a ser consti-
tuída de camadas populares. Cria-se o critério de carência para o acesso às escolas pú-
blicas. Em conseqüência, o professor passa a ter uma nova preocupação em sala de aula:
a heterogeneidade dialetal de seus alunos.
Acostumados, até então, a uma camada de alunos distintos, a quem ministravam a
norma padrão culta, agora os professores se sentiam despreparados para enfrentar esse
problema.
Mas não foram apenas os alunos que mudaram. Também os professores, nos pri-
meiros sessenta anos do século, pertenciam a uma elite sócio-cultural. No Rio de Janei-
ro, formados pelas Escolas Normais – inicialmente o Instituto de Educação e a Escola
Normal Carmela Dutra – eram a fina flor do Magistério Público. A nova lei acaba com
o privilégio de o Município e o Estado formarem seus professores. O prestígio do Ma-
gistério começa a se desfazer com a nova política salarial. Os professores já não são os
mesmos. As classes média e alta, que, antes, optavam pelo Magistério, por vocação ou
interesse profissional, passam a interessar-se por outras profissões mais rendosas. Co-
meça a evasão no Magistério e a mudança de perfil do professor.
Nos anos 70, começa a mudar a clientela dos Cursos Normais. Antes, uma profis-
são que conferia status às moças de classe média e alta; agora, a ascensão social para os
que pertencem à camada mais pobre da população.
Em conseqüência dessa mudança, a qualidade do ensino se faz menos refinada,
buscando-se uma adequação ao novo momento. E as classes média e alta começam a
abandonar a escola pública e a procurar as instituições particulares, notadamente as de
formação religiosa.
As concepções de lingüística européia e norte-americana, que começaram a che-
gar ao Brasil principalmente na década de 40 foram, desde o início, mal interpretadas
por professores da época, o que, como já se falou, resultou na comissão criadora da
NGB (1957-1959). A partir de 1963, implantou-se a disciplina Lingüística no currículo
mínimo dos Cursos de Letras. Segundo Uchôa (1991, 34), foi uma decisão precipitada
que causou graves distorções, pois professores sem formação lingüística se tornaram
responsáveis por seu ensino
A mesma avaliação é feita por Kato:
Em virtude da falta de formação específica da maioria dos professores
de Lingüística da década de 1963-1973, muitas aberrações podem ter
sido cometidas em nome dela. Assim, a ciência passa a ser questiona-
da por culpa de uma legislação precipitada e dessa formação precária
que levou muitos professores treinados nessa época, e também autores
de livros didáticos, a proporem e utilizarem propostas pedagógicas em
cima de conceitos e princípios mal compreendidos. (Kato: 1988, 52)
Na mesma época, o governo militar, para fazer face à demanda, autoriza a instala-
ção de faculdades particulares, sem planejamento ou fiscalização e, ao mesmo tempo,
sem preocupar-se com a qualificação docente. Paralelamente, expande a rede de ensino
público para receber a massa de analfabetos que iriam prestar serviço ao modelo indus-
trial que estava sendo criado. A isso se considerou “democratização do ensino”. Os con-
teúdos curriculares, de valor imediatista, passam a ter características instrumentais.

IDIOMA 23
14
Nesse clima, é sancionada a Nova Lei de Diretrizes e Bases, a 5692/71, que esta-
belece a língua nacional como instrumento de comunicação e expressão da cultura bra-
sileira. A partir de então, a disciplina Língua Portuguesa torna-se Comunicação e Ex-
pressão no que passou a ser considerado 1º segmento do 1º grau (1ª à 4ª série); Comuni-
cação e Expressão em Língua Portuguesa, no 2º segmento (5ª à 8ª série), só se configu-
rando como Língua Portuguesa e Literatura Brasileira no 2º grau.
No ensino de 1º e 2º graus, dar-se-á especial relevo ao estudo da lín-
gua nacional, como instrumento de comunicação e como expressão da
cultura brasileira. (Lei 5692/71, Art.1º, parágr. único)
Diante da nova realidade lingüística dos alunos, os professores mantêm-se indeci-
sos: nivelar por baixo ou reprovar em massa nas primeiras séries de cada curso. Não
havia outras opções: ou se mantinha a qualidade do ensino e se tinha uma reprovação
maciça nos anos iniciais ou se baixava o nível de ensino, permitindo a aprovação de
alunos sem base. Nenhuma das hipóteses contentava aos professores e estes, no 2º grau,
perguntavam-se como ensinar análise literária a um aluno que nem reconhecia um subs-
tantivo.
O Brasil entra numa fase chamada de “milagre econômico”. O governo se concen-
tra na área tecnológica e já não se importa com o humanismo. Em conseqüência, altera-
se a atribuição da escola. No final do curso de 2º grau, o cidadão deverá estar qualifica-
do para o trabalho. O curso de 2º grau (atual ensino médio) passa, portanto, a ser profis-
sionalizante, e as escolas, em geral, alteram seus currículos, forjando uma “qualificação
profissional”, que, em verdade, jamais saiu do papel.
A preparação para o trabalho, como elemento de formação integral do
aluno, será obrigatória no ensino de 1º e 2º graus e constará dos planos
curriculares dos estabelecimentos de ensino. (Lei 5692/71, Art.4º, pa-
rágr. 1º)
Encarar a língua como instrumento de comunicação é uma concepção mecanicis-
ta, adequada aos fins pragmáticos do ensino. Trata-se de objetivo, no mínimo, abrangen-
te e parcamente delimitado em termos curriculares. Não mais a língua é encarada como
sistema único, o que a adequava a um ensino elitista. Para atender às camadas populares
que, agora, assolam as escolas, urge um ensino utilitário com a língua voltada para a
oralidade. Cada vez mais, o ensino torna-se menos normativo e, portanto, menos rigoro-
so, em relação aos padrões cultos da língua. Ensinar gramática passa a ser coisa ultra-
passada. Em decorrência, esse ensino vem a configurar-se pela Teoria da Comunicação:
o aluno deve ser capaz de “funcionar” como emissor e receptor de mensagens pela utili-
zação de códigos verbais e não-verbais. Em outras palavras: de forma pragmática, a
língua não é mais encarada como sistema único, o que propiciava um ensino elitista;
agora, propunha-se o desenvolvimento das habilidades de expressão e compreensão de
mensagens, um ensino compatível, portanto, com o uso da língua.
Já não se trata mais de levar ao conhecimento do sistema lingüístico –
ao saber a respeito da língua – mas ao desenvolvimento das habilida-
des da expressão e compreensão de mensagens – ao uso da língua.
(Soares: 1998, 57)
No ensino, essa alteração de objetivos se fez sentir no propósito de desvalorização

IDIOMA 23
15
da prática pedagógica de gramática normativa, através de regras. O professor que “ensi-
nasse gramática” era considerado desprestigiado: “foi nesse período que surgiu a até
então impensável polêmica sobre ensinar ou não ensinar gramática na escola fundamen-
tal.” (Soares: 1998, 58).
A língua como sistema era relegada a segundo plano para que se passasse a valo-
rizá-la como instrumento de comunicação. Ensinavam-se os elementos de comunicação
e funções da linguagem. Dava-se, ainda, valor à expressão corporal como uma forma de
linguagem. As gramáticas de Bechara, Celso Cunha e Rocha Lima, até então alvos de
ensino, eram substituídas por outras, que ensinavam através da ilustração. As antologias
desapareciam e, em seu lugar, surgiam livros didáticos mais atraentes em sua forma,
explorando-se cores e recursos gráficos. Seu conteúdo – esse, sim – deixava a desejar. A
interpretação dos textos não era mais elaborada pelo professor junto a seus alunos. As
perguntas – em geral, tipo “cavalo branco”, perguntas de resposta óbvia, sem nenhuma
reflexão – eram as mais comuns. Havia o livro do professor, com as respostas às ques-
tões formuladas para que o professor nem precisasse pensar. Era uma “parafernália di-
dática” (Geraldi: 1997, 93), que ia das respostas nos manuais do professor até vídeos
destinados ao ensino de determinados tópicos. Esses livros vinham adequados aos no-
vos professores que ingressavam no Magistério sem grande preparação prévia.
Dava-se ênfase, então, apenas a textos jornalísticos e publicitários, praticamente
ignorando-se os literários (desses, só o gênero crônica era utilizado, em geral). Havia,
ainda, destaque para textos não-verbais, charges e histórias em quadrinhos, com seus
códigos especiais, que passam a figurar na quase totalidade dos manuais didáticos. Não
são um mal, certamente, mas não devem ser a exclusividade, como também não o de-
vem ser os textos literários.
Pela primeira vez, exercícios de expressão oral tornam-se parte dos manuais didá-
ticos. Os textos literários de estilo mais elaborado somem desses manuais. São substitu-
ídos por crônicas, onde se explora a língua coloquial. Há, portanto, uma inversão. Os
autores da maioria dos livros didáticos se preocuparam exclusivamente com a língua
oral, visando à comunicação, e se esqueceram de que é objetivo do professor de portu-
guês trabalhar também a língua escrita (especialmente, a padrão, desconhecida, em ge-
ral, dos alunos) para ampliar os recursos de expressão de seus alunos. Assim, alguns
professores “da velha guarda” preocupavam-se em procurar livros didáticos que ainda
atendessem às suas expectativas, como os de Magda Soares, Domício Proença, Maria
Helena Silveira, Carlos Maciel e outros.
Desde o final dos anos 70, diante do caos que se estabelecera no ensino, decidiu-
se pela inclusão de redações em provas e exames vestibulares, acreditando-se em que se
teria nessa atitude uma solução para a crise do ensino. Esqueceu-se, todavia, de que,
para a melhoria da expressão de nossos alunos, não basta o domínio da técnica de reda-
ção. Fazer uma boa dissertação não consiste em estar ciente de que se devem utilizar
quatro a cinco parágrafos, sendo um de introdução, dois ou três de desenvolvimento, um
de conclusão, num espaço de vinte e cinco a trinta linhas. Urge, tão-somente, uma mu-
dança de atitude do professor quanto às atividades de produção textual de seus alunos e
como avaliar essa produção.
O que se cobrava nas redações era a obediência ao padrão culto da língua, nessa
época já tão afastado da realidade culta corrente. Assim, corrigia-se o emprego passivo
do verbo assistir, o uso do pronome reto em entre eu e você, o emprego do oblíquo em
para mim ver e se esquecia de que o grande problema da produção textual é a interlocu-
ção. Uma carta a um amigo era, por exemplo, escrita de forma cerimoniosa, para aten-

IDIOMA 23
16
der às normas prescritivas da língua.
O aluno é levado a reproduzir estereótipos ou generalidades sobre os
mais variados assuntos, compondo, então, a redação (e não a produção
de um texto) com base na imagem que ele assimilou do gosto e da vi-
são de língua do professor. (Uchôa: 1991, 65).
Essa atitude perdurou durante a década de 70 e início de 80. Nesse período de
mudança, já na segunda metade dos anos 80, alguns professores, em fase de pós-
graduação, cursando mestrado e doutorado, apresentam alternativas para a melhoria do
ensino de Língua Portuguesa (Souza: 1983) e publicam suas dissertações e teses, ques-
tionando o ensino a partir da gramática normativa. Grandes nomes da Lingüística e da
Gramática também se manifestam, como poderemos ver no primeiro capítulo. Algumas
editoras criam coleções que buscam o questionamento e a reflexão, como é o caso da
coleção Princípios, da Ática.
Tentando minimizar o problema, no final da década de 70, as escolas normais,
como o Instituto de Educação do Rio de Janeiro, criam disciplinas extraordinárias, como
TEOTI (Técnica de Estudos e Organização do Trabalho Intelectual) e EOE (Expressão
Oral e Escrita) para servirem de ponto de apoio ao Curso Normal e, portanto, aos futu-
ros professores do ensino fundamental, que, a essa altura, ainda sentiam dificuldades de
expressão e organização lógica do pensamento.
Do programa de TEOTI, constavam a organização de resumos, quadros sinóticos,
tabelas, técnica de sublinhar um texto, enfim tudo que pudesse facilitar o estudo e orien-
tar a pesquisa dos alunos.
EOE era uma disciplina instrumental. Parte dos “erros” comuns cometidos pelos
alunos era revista e, através de uma bateria de exercícios, dúvidas do tipo mas ou mais,
por que, porquê, por quê ou porque, há, à ou a passavam a ser esclarecidas. Pretendia-
se, pois, oferecer subsídios para uma melhor expressão escrita, mas o ensino ainda se
limitava ao conceito de que escrever bem era escrever corretamente. Tomava-se por
base unicamente o padrão culto da língua. E, ainda nesse momento, os alunos eram o-
brigados a decorar, por exemplo, que a locução adjetiva “de tia” corresponde ao adjeti-
vo “avuncular”. Pergunta-se: para quê? Por quê? Em que momento irão empregar essa
forma?
Vale lembrar que esse tipo de ensino sem propósito, vez por outra, era questiona-
do até na imprensa, como por exemplo numa deliciosa crônica de Rubem Braga, intitu-
lada “Nascer no Cairo, ser fêmea de cupim”.
O livro-base de estudo era a Nossa gramática, de Luiz Antonio Sacconi, inteira-
mente calcado na gramática normativa, tradicional.
No início dos anos 80, ainda preocupadas com a defasagem dos alunos, escolas
tradicionais, como o Instituto de Educação do Rio de Janeiro, aumentam em duas horas
a carga horária de Português no primeiro ano do 2º grau (hoje, de novo, ensino médio),
para maior aproveitamento em redação. Mas também as “aulas de redação” eram, em
geral, artificiais. O professor escolhia um tema e os alunos escreviam sobre ele.
Sentindo a necessidade de rever seu planejamento, também o Colégio Pedro II re-
avalia seus objetivos e propõe, na década de 80, um novo conteúdo programático para
os ensinos fundamental e médio. Com relação a este conteúdo, dá-se ênfase à morfos-
sintaxe. As classes de palavras são estudadas dentro da oração em suas relações sintáti-
cas. Todo o ensino é sugerido a partir da leitura expressiva de um texto. A finalidade
maior do ensino de Português, no primeiro grau, continua sendo a utilização adequada

IDIOMA 23
17
da norma culta do idioma. Todavia, a composição oral, em suas nuanças, será recomen-
dada.
O ensino da gramática terá por fundamento a prática oral e escrita da
língua portuguesa, visando à gradual transposição da língua transmiti-
da para a língua adquirida. (PGE: 1986, 49)
Paralelamente, são criados projetos de integração entre as séries 4ª e 5ª, visando a
que, ao ingressar na 5ª série, os alunos sintam não uma quebra, mas, ao contrário, a con-
tinuidade de um ensino voltado ao aprimoramento da expressão oral e escrita. É de ex-
trema preocupação o incentivo à leitura e à produção textual, que será sempre avaliada,
inclusive como parte integrante das provas únicas, realizadas no meio e no fim de cada
período escolar.
Por seu lado, as editoras, tentando colaborar com os novos planejamentos e, ao
mesmo tempo, orientar os professores, lançam inúmeros manuais de redação e os distri-
buem entre professores, esperando que os adotem. Entre esses, destaca-se a série Criati-
vidade, de Samir Curi Meserani, que realmente explorava e estimulava a capacidade
criadora do aluno, de forma inteiramente espontânea e gradual.
Havia uma quantidade de manuais, mas quase todos se baseavam na conhecida
obra de Othon Moacir Garcia, Comunicação em prosa moderna, cuja leitura deveria ser
recomendada a todo professor porque ensina a escrever aprendendo a pensar (Garcia:
1975, 275). Sua obra divide-se em dez partes e abrange todos os conhecimentos neces-
sários a quem pretende aprimorar-se na arte de escrever e de ensinar a escrever. Seus
três primeiros capítulos são fundamentais, uma vez que estudam a frase, o vocabulário e
o parágrafo, norteando-se sempre pelas relações semânticas e sintáticas.
A partir de 1985, uma nova realidade preocupa o ensino: os exames vestibulares
constatam o despreparo dos vestibulandos, que, apesar de todos os esforços, redigem
mal e não entendem o que lêem. Matérias jornalísticas apresentam os erros ortográficos
dos candidatos a uma vaga nas universidades. Percebe-se que a preocupação maior ain-
da é com a ortografia, esquecendo-se de que a expressão é o ponto nevrálgico da produ-
ção escrita. Ninguém comenta, por exemplo, a falta de coesão e coerência num texto
escrito, mas riem dos erros ortográficos. De qualquer maneira, urge a volta da redação.
Em busca de uma solução, leitura e redação passam a ser exigidas em provas. Paralela-
mente, os alunos lêem livros impostos pelos professores e, na maioria das vezes, inade-
quados à sua faixa etária e grau de cultura. Vêem-se alunos de 6ª e 7ª séries sendo obri-
gados a ler, por exemplo, romances de José de Alencar e de Machado de Assis.
Alguns professores tradicionais condenam os colegas que adotam livros, como os
de Lígia Bojunga Nunes e Ana Maria Machado, por serem escritos em linguagem colo-
quial. Esquecem-se dos belíssimos recursos de expressão que permeiam tais livros, es-
ses, sim, adequados à faixa etária do ensino do então 1º grau. Uma cobrança inadequada
força os alunos a decorarem a história narrada para, logo após, essa “leitura” ser avalia-
da em provas.
Em cursos pré-vestibulares, cria-se a disciplina Técnica de Redação, cujo objetivo
é preparar os alunos para as dissertações dos exames vestibulares, dissertações essas que
devem apresentar coesão e coerência, além de parágrafos definidos com o propósito de
se estabelecer introdução, desenvolvimento e conclusão. À criatividade, sobrepõe-se a
apologia pura e simples da forma.
Observando as dificuldades de expressão até mesmo dos estudantes de Letras,
cursos superiores de Letras passam a oferecer disciplinas de apoio, como é o caso de

IDIOMA 23
18
TECOE (Técnica de Comunicação Oral e Escrita) na UERJ.
Enfim, pensava-se que se ensinava; os alunos pensavam que aprendiam. Mas o re-
sultado era, ainda, apesar de todos os esforços, uma expressão pobre, calcada , apenas,
em modelos pré-concebidos.
É nesse momento de crise que se faz ouvir a voz de Evanildo Bechara. Destaca-
mos como de alta importância no momento histórico de reflexão sobre ensino de língua
materna a obra Ensino da gramática. Opressão? Liberdade? (1986), que sempre provo-
cou muita discussão em torno dos temas focalizados, desencadeando uma série de ou-
tras produções, de diferentes autores.
Nesse trabalho, após um levantamento histórico do comportamento pedagógico,
em relação ao ensino de gramática normativa, nas décadas de 60 e 70, o autor conclui
que a “perseguição” à gramática normativa, tradicional, é tão errada quanto o privilégio
dedicado ao código oral, coloquial, em detrimento do dialeto padrão. Segundo o mesmo,
ambas as atitudes “são de natureza monolíngüe” e desprezam o fato de que “cada falan-
te é um poliglota na sua própria língua” (Bechara, 1986, 12-3).
O filólogo alinha-se com os postulados preconizados por Coseriu (1980). Assim,
observa que “toda língua funcional tem a sua gramática como reflexo de uma técnica
lingüística que o falante domina e que lhe serve de intercomunicação na comunidade a
que pertence” (1986, 13).
O falante dispõe, portanto, de várias línguas funcionais: a que usa com mais fre-
qüência e faz parte do seu cotidiano e as que costuma decodificar, em diferentes situa-
ções de discurso. Nesse caso, o papel do professor se resume em incentivar o aluno a
escolher a língua funcional adequada a seu momento de expressão. Isso pressupõe li-
berdade, possibilitada pela capacidade de entender a língua como um diassistema, que
abrange variedades diatópicas, diastráticas e diafásicas.
Posiciona-se o autor, pois, contrário ao glotocentrismo, à doutrina de uma única
língua – no caso, a língua padrão. Quando a questão é “gramática e ensino”, propõe que
se extraiam da linguagem todos os recursos que “podem significar”, como diz o lingüis-
ta inglês Halliday (1974, 274-87).
Essa mudança proposta no ensino requer, sem dúvida, uma reforma de currículo e
de atividades didáticas. É preciso não esquecer que a língua “não é um rol de nomencla-
turas” (Bechara: 1986, 23) e que seu ensino deveria seguir um método natural, quer di-
zer, diretamente proporcional ao desenvolvimento lingüístico dos alunos. Com esse
pensamento, defende que, nas aulas de gramática, dever-se-á previamente determinar
que língua funcional será objeto de descrição e, simultaneamente, contrastá-la com ou-
tras línguas funcionais, sempre que for possível.
Findas essas considerações, observa-se que o autor discute politicamente o ensino
de gramática. Em outras palavras: direciona seu pensamento para uma determinada ide-
ologia em que a sociedade brasileira deve participar como um todo na luta pela educa-
ção, “pois o destino da educação se confunde com o próprio destino dessa mesma soci-
edade” (1986, 23).
É a partir daí que pergunta se ensinar gramática significaria opressão. Interroga-
se, ainda, em relação aos limites da liberdade. Nesse momento, embora reconheça e
admita a língua coloquial como um dos usos lingüísticos (como uma língua funcional,
portanto), não aceita o privilégio que alguns autores lhe dão e, conseqüentemente, o
“ensino” dessa modalidade de língua.
Que a língua coloquial esteja presente no ensino da língua estrangeira,

IDIOMA 23
19
compreende-se...mas no tocante à língua materna... (Bechara: 1986,
60).
Entretanto, reconhece que “o ensino lingüístico na escola deverá partir da ativida-
de oral” (p. 46), o que significa que a gramática internalizada – aqui entendida como o
repertório lingüístico que todo falante possui – será o ponto de partida do ensino.
Contextualizando no tempo a obra em análise, observamos que ela já representa
uma evolução, pois conclama a que outros autores escrevam sobre o mesmo tema - en-
sino da gramática e, inclusive, comecem a propor uma metodologia de ensino.
“Escrevam, discutam, polemizem! ” – constitui a “chamada”, embora breve, para
a reflexão e conseqüente posicionamento em torno da questão ensino. A coleção Princí-
pios, em que se insere a obra, caracteriza-se, entre outros objetivos, por lançar idéias a
serem desenvolvidas/debatidas no meio acadêmico.
.Resumindo, o autor posiciona-se contra a opressão lingüística, contra o glotocen-
trismo e o ensino metalingüístico e defende a liberdade de expressão.
Fazendo do estudo da gramática um fim em si mesma, pôde-se facil-
mente observar que tal atividade nem ministrava aos alunos, através
do conhecimento das normas gramaticais, o conhecimento da língua,
nem tampouco a habilidade expressiva. (Bechara: 1986, 39).
Mais uma vez, sobressai o nome de Celso Cunha, dessa vez aliado ao de Lindley
Cintra. Ambos conjugam, em sua Nova gramática do português contemporâneo (1985),
o normativismo e o descritivismo, numa tentativa de conciliação. Pela primeira acepção,
apresentam, de maneira didática, as regras relativas à norma culta do português atual,
tomando por base não apenas escritores clássicos, mas também brasileiros, africanos e
portugueses a partir do Romantismo, no século XIX. Já numa posição descritiva, os
autores ainda apresentam aspectos da língua coloquial, além de variedades diatópicas.
Houve, inclusive, a intenção de valorizar os recursos expressivos do idioma, tornando
sua gramática uma “introdução à estilística do português contemporâneo” (1985, 15).
Celso Pedro Luft foi, também, um nome de destaque na década de 80. Com a pu-
blicação, em 1985, de Língua e liberdade: por uma nova concepção da língua materna,
o autor foi tido como revolucionário no tocante ao ensino de Língua Portuguesa, daí a
necessidade de incluí-lo nessa relação.
Nessa obra, aqui referida pela 3a edição, de 1994, Luft afirma que, ao contrário do
que muitos pensam, não é contra a gramática, “pois esta é imanente às línguas” (1994,
11). O que, na verdade, o preocupa é o ensino opressivo de língua materna. Propõe, en-
tão, uma mudança radical nesse ensino, em que se passe a usar, como ponto de partida,
a gramática que o aluno domina, ou seja, a gramática internalizada a que outros autores
irão referir-se posteriormente.
Segundo Luft, o que falta ao educando é liberar o que “já sabe” (ou seja, sua gra-
mática internalizada) e, certamente, ampliar suas capacidades através de uma “prática
sem medo, um ensino sem opressão” (1994, 12). Com essa observação, antecipa-se à
posição posteriormente assumida por Franchi (1987), Travaglia (1995/1998), Possenti
(1996/1998) e Geraldi (1991;1996/1998), defendendo o desenvolvimento das aptidões
dos alunos através da prática.
O que os distingue, todavia, é o fato de o autor em foco não chegar a precisar em
que consiste essa “prática sem medo” (Luft: 1994, 12) a que se refere. Discute o pro-
blema, mas não chega a apresentar alternativas em termos pragmáticos.

IDIOMA 23
20
Para o autor, “quem fala sabe a gramática da língua”, logo a escola não necessita
de informar teoria gramatical aos alunos, pois não é por esse meio que teremos escrito-
res habilidosos e leitores proficientes. O que importa, portanto, é a ampliação de voca-
bulário, o desenvolvimento dos recursos expressionais, enfim a possibilidade de o aluno
tomar consciência da língua e, a partir daí, ser capaz de dominar a escrita. Assim, o au-
tor destaca o papel da liberdade referida no título de sua obra. Seu desejo é formar “ci-
dadãos lúcidos e livres, senhores de sua linguagem” (1994, 12).
Luft relaciona o ensino de língua ao conceito universal de liberdade, pois “a gra-
mática mal ensinada incute servilismo” (1994, 93). Partindo desse princípio, espera que
o ensino conduza à liberdade - ponto comum com o filólogo Bechara (1986), já referido.
Estabelece, também, distinção entre “teoria artificial”, que ele chama de Gramáti-
ca (com G maiúsculo) e “teoria natural”, gramática (com g minúsculo) - respectiva-
mente, o que Coseriu (1980) chama de “gramática 1” e “gramática 2” Em outras pala-
vras, Luft distingue a gramática explícita, metalingüística, da gramática tomada como
objeto, a gramática interiorizada. Defende a idéia de que o estudo da Gramática, unica-
mente como metalinguagem, não é indispensável ao domínio da comunicação. Chegar-
se-á, pois, à comunicação através da prática e não da teoria.
Podemos nos mover sem saber que músculos, nervos, ossos estão em
funcionamento; sem saber as regras da locomoção. Quanto pianista
toca de ouvido, sem conhecer teorias de notas, de acordes ou harmo-
nização, sem saber explicitamente as regras – a gramática – da músi-
ca. (Luft, 1994, 18)
Assim, ao invés de regras gramaticais, as aulas de Português devem abranger lei-
tura com comentário, análise e interpretação de “bons” (grifo nosso) textos e produção
constante de textos “bons” – comentário subjetivo, pois depende de critérios variáveis.
O autor ainda esclarece que muitos professores, rejeitando a gramática tradicional,
de natureza metalingüística, se valem dos conhecimentos teóricos de Lingüística. Esta
passa a ser a “tábua de salvação”. Mas a teorização moderna, de base lingüística, não
deve substituir a teoria gramatical, de caráter tradicional. O que se procura, em termos
de ensino, não é uma teoria “melhor” e, sim, uma prática mais eficiente. Por conseguin-
te, cabe ao professor o embasamento teórico que irá guiá-lo em suas aulas práticas. Essa
posição se afina com a de Franchi (1987) e já a definia Georges Mounin:
É o docente quem deve saber Lingüística e Gramática para bem ensi-
nar esse manejo, e não forçosamente o discípulo, muito menos a cri-
ança. (apud Luft: 1994, 97)
Diante dos protestos da área educacional, o Conselho Federal de Educação decide
estabelecer a medida de retorno da disciplina “Português”, eliminando as denominações
relativas à Comunicação. Esse caráter vacilante de denominar a disciplina referente ao
ensino da língua materna , alás, sempre foi uma constante. Nas décadas de 40 e 50, usa-
va-se Linguagem para o antigo primário. Tal atitude traduz a falta de consenso, não só
na referência, mas também no que ensinar.
Entretanto, não se trata somente de substituir uma denominação, mas de encetar
uma nova atitude que se esperava obter frente ao ensino de língua materna.
Paralelamente, novas ciências lingüísticas – a Sociolingüística, a Psicolingüística,
a Pragmática, as teorias do discurso e do texto – desenvolvidas nesse período, come-

IDIOMA 23
21
çam, inclusive, a influenciar no ensino de língua portuguesa.
Chega-se, portanto, a mais um momento de questionar que gramática queremos
ensinar: a gramática entendida como um sistema único ou a gramática como um diassis-
tema? Valoriza-se a língua escrita, a língua oral, ou ambas? Qual a função do texto?
Ensina-se redação ou trabalha-se com produção textual? Cobra-se ou incentiva-se a lei-
tura? Parece-nos já se ter chegado a um consenso: ensina-se a gramática como diassis-
tema, valorizando-se todas as modalidades lingüísticas, adequadas a cada situação em
particular; o texto é estudado em suas potencialidades expressivas; trabalha-se com pro-
dução textual; incentiva-se sempre a leitura.
Diversos lingüistas começam a escrever artigos e publicar livros sobre o ensino de
língua portuguesa. Destacamos os nomes de Carlos Franchi, Mário Perini, Sírio Possen-
ti, Luiz Carlos Travaglia, João Wanderley Geraldi, Luiz Percival Leme Britto, Rodolfo
Ilari, Carlos Eduardo Falcão Uchôa, Magda Soares, Luiz Marques de Souza, Marcos
Bagno, entre outros.
Se perguntássemos a qualquer professor secundário por que se ensina
gramática, ele responderia provavelmente que o conhecimento da
gramática, devidamente assimilado, é um pré-requisito da expressão
correta. Se entendo bem, afirmações como esta querem dizer que o in-
divíduo que conhece gramática tem melhores condições para controlar
sua própria expressão, evitando assim incorreções (...) Esse projeto,
que poderia ser chamado de ‘boa expressão como subproduto da gra-
maticalização’, é problemático. Primeiro, porque cabe perguntar se
uma prática, um hábito, qualquer que ele seja, deve sempre resultar de
uma opção consciente; segundo, porque parece claro que o esforço de
abstração exigido para adivinhar o que está por trás de certas defini-
ções das gramáticas escolares vai além da capacidade do aluno médio
[vai além da capacidade de boa parte dos lingüistas não-dogmáticos].
(Ilari: 1997, 54-5).
A década de 90 já representa uma evolução. Encabeçado pela UFRJ e pela UNI-
CAMP, começa a mudar o Vestibular. As provas, não mais de múltipla escolha, revelam
amadurecimento na elaboração e preocupação com a expressão escrita dos candidatos,
em questões que exigem reflexão e conhecimento da língua.
As redações, nos exames vestibulares, começam a mudar de feição. Diante do e-
xame de textos variados, em diferentes linguagens, em torno de um mesmo núcleo te-
mático, o aluno é incitado a produzir seu próprio texto.
Deve o professor fomentar permanentemente o contato do aluno com
a múltipla variedade de situações e logo com a pluralidade de discur-
sos daí recorrentes. (Uchôa: 1991, 66)
Nessa década, as principais universidades brasileiras começam a discutir o tema
“ensino de língua materna”. Congressos e Simpósios são realizados em vários pontos do
país. Na UERJ, por exemplo, instituiu-se por iniciativa da professora Maria Teresa
Gonçalves Pereira, em 1996, o I Fórum de Estudos Lingüísticos para debater o ensino
de Língua Portuguesa. O evento tem se repetido ano após ano, trazendo novas contribu-
ições e ganhando o apoio de novas figuras representativas da UERJ, como os professo-
res André Valente, Cláudio Cezar Henriques e José Carlos de Azeredo. Na UFF, o pro-
fessor Carlos Eduardo Falcão Uchôa cria, em 1998, durante a implantação do curso de

IDIOMA 23
22
Doutorado, uma linha de pesquisa em estudos lingüísticos voltados para o ensino de
língua materna. Foi sob sua orientação que a tese de que se origina este artigo começou
a amadurecer.
Há vários anos, Uchôa vem defendendo que o “ensino de língua materna deve
cuidar de modo prioritário (não absoluto) da língua escrita” (1991, 35) daí advindo,
também, sua recomendação de que se inclua, nos cursos de Letras, uma ementa voltada
para a Lingüística Aplicada ao ensino de língua materna. Não será, com certeza, a cria-
ção de uma nova gramática da língua, em bases descritivas modernas, a redenção do
ensino. O que lhe parece fundamental é a “preocupação com a criação de atitudes críti-
cas do futuro professor em relação à língua e ao seu ensino” (p. 37).
De pouco adiantará tal gramática, esperada por tantos como redentora
com vistas à renovação do ensino, se o professor persistir em falar ou
em defender uma “boa linguagem” em termos absolutos, continuando
a orientar o seu ensino na base da rigidez normativa e de atitudes sem
fundamento – sem saber colocar-se, digamos, ante uma ocorrência
como a gíria, recriminando-a simplesmente como linguagem pobre,
vulgar, ao invés de procurar caracterizá-la e mostrar a sua expressivi-
dade e adequação a certos contextos.(UCHÔA: 1991, 36).
Crendo, pois, na importância da visão crítica do professor de Língua Portuguesa,
Uchôa propõe que se cuide “com maior atenção e maior realismo” dessa formação, a-
proximando Universidade e ensinos fundamental e médio, de tal forma que o futuro
professor não apresente uma atitude preconceituosa face à variedade dialetal de seus
alunos, o que já se tornou uma realidade desde o momento em que as diferentes classes
sociais tiveram acesso à escola.
Nos últimos anos, nota-se uma maior preocupação com a formação dos professo-
res de Letras. O governo incentiva e cobra a pós-graduação. Criam-se os PCNs (Plane-
jamento de Currículo Nacional), visando a orientar e padronizar o ensino segundo os
mais modernos parâmetros.
Algumas instituições adotam o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) como
base de ingresso nas Universidades, compondo a primeira fase do exame vestibular.
A LDB nº 9394, de 20/12/1996, em seu Art.36, estabelece que a língua portuguesa
será encarada como instrumento de comunicação, acesso ao conhecimento e exercício
da cidadania, contemplando, assim, todas as modalidades expressivas, sem encará-las de
forma privilegiada ou não. Os ensinos de 1º e 2º graus são rebatizados, respectivamente,
de ensino fundamental e médio. Mas, ainda assim, o Magistério permanece mal remunerado e sem condições de
trabalho. Falta-lhe, inclusive, muitas vezes, o giz e o apagador. E o professor, verdadei-
ro artista, é obrigado a fazer malabarismos no palco da sala de aula para dar conta, com
seriedade, de um trabalho realizado em mais de uma escola como condição de sobrevi-
vência.
Tentativas de resolver a questão do ensino continuam. No Governo Fernando
Henrique Cardoso, o Ministério da Educação implantou, em nível nacional, o chamado
“Provão”, com a finalidade de avaliar o aproveitamento dos alunos formados pelas uni-
versidades brasileiras, de norte a sul. Os atuais governantes resolveram aperfeiçoar o
modelo, inserindo outros critérios que vêm recebendo críticas nos meios políticos e aca-
dêmicos, mas persiste a idéia de que é preciso avaliar o ensino ministrado nos cursos
superiores.

IDIOMA 23
23
Condenado por uns, aprovado por outros, o “Provão“ se mantém e revela, pelo
menos, um mérito: apontar as Universidades que apresentam grandes falhas no ensino.
Toda a sociedade letrada toma conhecimento, pelos órgãos de divulgação de massa, dos
conceitos atribuídos às universidades brasileiras. Sentindo-se expostas, essas Universi-
dades voltam a atenção a seus currículos e reavaliam seu corpo docente, preocupando-
se, a partir daí, em contratar novos professores com formação em mestrado e doutorado.
Nada disso, porém, é definitivo. Educação será sempre um processo de questio-
namento. Temos consciência de que nunca chegaremos a uma plenitude, mas o mais
importante, nesse momento, é a nova concepção de língua que começa a delinear-se.
Língua, agora, não é apenas instrumento de comunicação, mas, principalmente, enunci-
ação, discurso, que estabelece relações de intercomunicação. Os processos de leitura e
escrita passam, portanto, a ser resultantes da interação autor-texto-leitor.
De acordo com a nova concepção, altera-se o papel desempenhado pelo aluno. Es-
te passa a ser ativo e construtor de suas próprias habilidades e conhecimentos, através
de um processo contínuo de interação com outros receptores e com a própria língua, que
funciona como código. A criatividade não é mais considerada um fator isolado, depen-
dente de um dom inato e especial. Criativo é todo ato de fala, porque a linguagem é cri-
ação e re-criação de si mesma.
Referências Bibliográficas:
ALI, M. Said. Gramática histórica da língua portuguesa. 2a ed. São Paulo: Melhoramentos,
1931.
BECHARA, Evanildo. Ensino da gramática: opressão? liberdade? 2a ed. São Paulo: Ática,
1986.
------. Moderna gramática portuguesa. 37a ed. Rio de Janeiro: Lucerna, 1999.
BRITTO, Luiz Percival Leme. A sombra do caos: ensino de língua x tradição gramati-
cal. Campinas-SP: Mercado de Letras, 1997.
CUNHA, Celso. A questão da norma culta brasileira. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro,
1985.
ELIA Silvio. A unidade lingüística do Brasil. Rio de Janeiro: Padrão, 1979.
FRANCHI, Carlos. Criatividade e gramática. In: Trabalhos em Lingüística Aplicada, 9.
Campinas-SP: Mercado de Letras, 1987.
GARCIA, Othon Moacir. Comunicação em prosa moderna. 3a ed. Rio de Janeiro: Fund.
Getúlio Vargas, 1975.
GERALDI, João Wanderley. Linguagem e ensino: exercícios de militância e divulga-
ção. 2a ed. Campinas-SP: Mercado de Letras, 1998.
------. Portos de passagem. 4a ed. São Paulo: Martins Fontes, 1997.
HOUAISS, Antônio. O Português no Brasil. Rio de Janeiro: Revan, 1992.
ILARI, Rodolfo. A lingüística e o ensino de língua portuguesa. São Paulo: Martins Fontes,
1997.
KATO, Mary. A conceituação gramatical na história, na aquisição e na escola. In: tra-
balhos em lingüística aplicada, 12. Campinas-SP: Ed. da Unicamp, 1988
LUFT, Celso Pedro. Língua e liberdade. 3a ed. São Paulo: Ática, 1994.
MELO, Gladstone Chaves de. A língua do Brasil. 4a ed. Rio de Janeiro: Padrão, 1981
NEVES, Maria Helena de Moura. Gramática na escola. Rio de Janeiro: Contexto, 1994.
PEREIRA, Eduardo Carlos. Gramática expositiva (curso superior). 106a
ed. São Paulo:
Nacional, 1957.
POSSENTI, Sírio. Por que (não) ensinar gramática na escola. 2a ed. Campinas-SP:

IDIOMA 23
24
Mercado de Letras, 1998.
RIBEIRO, João. Gramática portuguesa. 21a ed. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1921.
SAMPAIO, Teodoro. O tupi na geografia nacional. 3a ed. Salvador: Câmara Municipal,
1928.
SANTOS.Emmanoel dos. Certo ou errado? Atitudes e crenças no ensino da língua por-
tuguesa. Rio de Janeiro: Graphia, 1996.
SILVEIRA, Sousa da. Lições de português. 9a ed. Rio de Janeiro: Presença, 1983.
-------. Trechos seletos. 7a ed. Rio de Janeiro: F. Briguiet & Cia., 1963.
SOARES, Magda. Linguagem e escola: perspectiva social. São Paulo: Ática, 1986.
SOUZA, Luiz Marques de. Por uma gramática pedagógica. Rio de Janeiro: UFRJ (Te-
se de Doutorado), 1983.
TRAVAGLIA, Luiz Carlos. Gramática e interação: uma proposta para o ensino da
gramática no 1º e 2º graus. 4a ed. São Paulo: Cortez, 1998.
UCHÔA, Carlos Eduardo Falcão. Reflexões sobre o estado atual do ensino da língua
portuguesa no 1º e 2º graus. In: Cadernos pedagógicos e culturais, vol.2, 2/3. Ni-
terói: Centro Educacional de Niterói, mai/dez, 1993, p. 307-16.
@ @ @ @ @ @
N. do Org.: Este artigo é uma adaptação do capítulo de introdução da tese de doutora-mento "Ensino de Língua Portuguesa: teorias, reflexões e prática", defendida na UFF em 2002.

IDIOMA 23
25
A QUESTÃO DA DÊIXIS: UMA RETROSPECTIVA
Gustavo Adolfo Pinheiro da Silva (UERJ e UGF)
A posição de Bühler
Em sua teoria da linguagem, Karl Bühler divide o universo significativo em dois
campos – o simbólico e o mostrativo. Bühler defende a tese de que na linguagem só
existe um único campo mostrativo. para ele os modos de indicar é que são diversos:
Eu posso demonstrar “ad oculos” e usar anaforicamente os mesmos
demonstrativos alheios à situação. Há, todavia, um terceiro modo, que
caracterizamos como dêixis. Fenomenologicamente é válido o princí-
pio de que o dedo indica. Porém o instrumento natural de demonstra-
ção “ad oculos” é substituído por outros recursos indicativos. Esta e-
vidência é o ponto de nossa teoria do demonstrativo da linguagem
(1961: 109).
Esse passo e muitos outros deixaram a convicção de que o estudo da mostração
dêitica, ou da mostração anafórico-catafórica, sob qualquer aspecto que se façam, de-
verão desembocar, respectivamente, na teoria da dimensão performativa do discurso e
na teoria da sintaxe do texto e não poderão de modo algum desconhecer a teoria do
campo mostrativo de Bühler.
Bühler intenta provar, tanto do ponto de vista lingüístico (para o que se vale do
testemunho da Lingüística Indo-européia e da Lingüística Comparada), como do ponto
de vista psicolingüístico, que existem claras conexões entre os demonstrativos e os pes-
soais, não só da terceira pessoa, mas também de primeira e de segunda. Posto que há um
parentesco radical entre os pessoais e os demonstrativos, o momento dêitico, insiste
Bühler, é um conceito genérico que tem de ser elevado à categoria de elemento diferen-
ciador de classe. Feito isso, será possível definir a oposição entre os campos mostrativo
e simbólico em termos da correlação presença de momento dêitico & ausência de mo-
mento dêitico.
Também eu e tu se caracterizam pela presença do momento dêitico. Os pessoais,
por exemplo, eu e tu, não denominam, mas apenas remetem ao emissor e ao receptor da
mensagem lingüística, pelo menos no que toca à sua função principal.
Psicolingüisticamente, verifica-se que os dados sensoriais de um indivíduo, numa
determinada situação perceptiva, afluem para ele e se acham incardinados numa ordem,
num sistema de coordenadas cuja origem (ponto de tida da coordenação) é aquele a que
remetem os elementos aqui, agora, eu. Essa confluência dos dados sensoriais para o
ponto de interseção onde se encontra o falante institui um sistema dêitico constituído:
(a) por um aqui-dêixis;
(b) por um agora-dêixis;
(c) por um eu-dêixis,
que, juntos, organizam um dos modos do campo mostrativo da linguagem, a demonstra-
tio ad oculos: eu-aqui-agora.
Para Bühler, os pronomes de terceira pessoa e os demonstrativos são inseparáveis.
A favor desta posição ele invoca o testemunho de Brugmann-Delbrück, para os quais:
(a) há claras conexões e transições entre os dois grupos de pronomes;
(b) os pronomes de terceira pessoa coincidem conceptualmente, não poucas vezes,
com os demonstrativos;

IDIOMA 23
26
(c) poder-se-ia dizer que os pronomes pessoais de terceira pessoa são pronomes
demonstrativos em função substantiva;
(d) os pronomes pessoais de terceira pessoa são demonstrativos em uso anafórico,
pois remetem àquilo de que se fala, ao dito ou ao que se vai dizer imediatamente.
Os pessoais de primeira e de segunda pessoa não denominam, em sua função prin-
cipal, mas indicam. E os de terceira pessoa? Já que eles são demonstrativos e têm pa-
rentesco radical com os pronomes tradicionalmente chamados de demonstrativos, apli-
ca-se-lhes a mesma observação relativa a estes:
Os demonstrativos não são originalmente e por sua função capital sig-
nos conceptuais, nem diretos nem representantes, são, como seu pró-
prio nome diz “demonstrativos” (palavras indicativas), e isto é algo
completamente distinto dos signos conceptuais, a saber: os “nomes”
(1961: 151).
Ainda com referência à oposição demonstrativos & nomes, Bühler diz que:
Os demonstrativos não necessitam do campo simbólico da linguagem
para realizar sua função plena e precisa. Com o nome as coisas se pas-
sam de um modo completamente distinto; (ele) pode certamente rece-
ber seu sentido pleno de um campo mostrativo (1961: 153).
O ele das línguas indo-européias não está psicologicamente no mesmo plano que
o eu e tu, signos do enunciador e do enunciatário (1961: 454). O ele indeterminado con-
tido, por exemplo, em ama-t só se refere à situação verbal na medida em que pertence
ao não-eu e ao não-tu do eixo falante-ouvinte: não é nem narrador nem narratário da
comunicação, mas precisamente um terceiro que se pensa acessível deiticamente. Esta
dependência mostra que a linguagem, embora transcenda o presente e reflita narrativa-
mente o não-presente, insiste em projetar o ausente sobre as coordenadas de situação de
comunicação (1961: 455-6).
Existe também uma mostração de lugares na estrutura do discurso e para essa
mostração – escreve Bühler – as línguas indo-européias utilizam, em boa parte, as mes-
mas palavras que usam para a demonstratio ad oculos.
Essa mostração na estrutura do discurso é anáfora – que desempenha – insiste ele
– um papel extremamente importante, o de enlaçar a mostração com a representação em
sentido estrito.
A posição de Benveniste
Os trabalhos de Émile Benveniste, principalmente aqueles onde procura mostrar a
situação do homem na língua (1966: 221-85) têm tido grande acolhida entre os pesqui-
sadores contemporâneos que estão tentando instaurar uma Lingüística do Discurso,
rompendo assim a fronteira mais ou menos tacitamente aceita – a frase.
Nos artigos que mais diretamente nos interessam, Benveniste (1966: 225-36; 251-
65) está preocupado em denunciar o caráter heterogêneo das espécies de signos cobertos
pelo termo pronome bem como a enganosa simetria impingida por uma definição pseu-
dolingüística da categoria da pessoalidade em termos de três pessoas.
O que tem sido chamado de pronomes escreve não constitui uma classe unitária,
pois engloba:
(a) signos que caracterizam instâncias de discursos;
(b) signos que pertencem à sintaxe da língua.

IDIOMA 23
27
Os indicadores de instância de discurso são signos que se tornam “plenos” quan-
do um falante os assume em cada instância de discurso e cujo papel é fornecer a esse
falante o instrumento para a conversão da língua em discurso. Benveniste trata sucessi-
vamente dos seguintes indicadores:
(1) os pronomes pessoais: eu- tu
(2) outros indicadores unidos a eu-tu:
(a) os demonstrativos
(b) os advérbios espaciais e temporais (aqui e agora)
(c) as variações do paradigma verbal (aspecto, tempo, gênero, pessoa, etc.)
(3) substantivos abreviativos: são signos que têm função de “representação” sin-
tática: substituem ou revezam (relaient) um ou outro dos elementos materiais
do enunciado. Essa função de “representação” não se restringe apenas aos
pronomes; ela estende-se também a elementos tomados a outras classes de pa-
lavras. O seu uso decorre normalmente de uma necessidade de economia.
Benveniste centraliza a sua atenção nos chamados “pronomes de terceira pes-
soa” (1966: 256).
Colocar numa ordem constante e num plano uniforme eu, tu, ele, se a categoria da
pessoa fosse definível por três termos situados no mesmo plano é transpor diferenças de
natureza lexical para uma teoria pseudolingüística (1966: 251); a categoria da pessoa
existe somente em eu-tu e inexiste em ele (p. 256).
Do ponto de vista da enunciação lingüística, os enunciados que contêm eu (e po-
demos acrescentar tu) pertencem ao nível ou tipo de linguagem que Charles Morris
chamou de pragmático (1966: 252). Ilustra bem isso o fato de que é possível imaginar
um texto escrito sem ocorrência de eu-tu, mas é difícil conceber um texto curto falado
sem eu-tu (1966: 252).
Eu e tu referem-se unicamente a uma “realidade de discurso”:
(a) o eu só pode ser definido em termos de locução e o tu, só em termo de alocução,
mas não em termos de objetos, como um signo nominal. Cada eu ou cada tu tem
sua própria referência: o indivíduo designado por eu ou por tu só pode ser identi-
ficado pela instância de discurso que as contém e por aí somente. (p. 257);
(b) uma característica das pessoas é sua unicidade: o eu que anuncia, o tu ao qual
o eu se dirige são de cada vez únicos; mas ele pode ser uma infinidade de su-
jeitos ou então nenhum (p. 230);
(c) eu e tu são inversíveis: aquele que o eu define como tu pensa-se a si mesmo
apropriando-se da instância de discurso e torna-se assim um eu (p. 230);
(d) eu e tu são termos complementares e essa complementaridade resulta da con-
dição de diálogo, que é constitutiva da pessoa: somente emprego eu dirigindo-
me a alguém que, na minha alocução, será um tu; mas isto implica reciproca-
mente que eu me torne um tu na alocução daquele que por sua vez se designa
por eu (p. 260).
A definição da segunda pessoa como sendo aquela à qual a primeira pessoa se di-
rige convém, sem dúvida, a seu emprego mais comum, mas não é única nem constante:
o tu pode ser definido mais adequadamente como “a pessoa não-eu”. A oposição “pes-
soa eu” & “pessoa não-eu” se define pela correlação que Benveniste chamou de corre-
lação de subjetividade. Pela subjetividade, o eu se define como interior ao enunciado e

IDIOMA 23
28
exterior ao tu (mas esta exterioridade não suprime a realidade humana do diálogo).
Pela subjetividade, o eu se define como transcedente em relação ao tu (o eu pro-
põe necessariamente um tu que é, fora do eu, a única pessoa imaginável). Com base na
interioridade e na transcedência, o eu se define como a pessoa subjetiva e o tu como a
pessoa não-subjetiva.
Ilustrando:
EU NÃO-EU
SUJEITO NÃO-SUJEITO
Vou mandar ele para tua sala daqui a meia hora.
A referência necessária e constante à instância de discurso une eu & tu – que são o
primeiro ponto de apoio para a apropriação que cada falante exerce sobre a língua para
convertê-la em discurso uma série de indicadores pertencentes, pelas suas formas e pe-
las suas aptidões combinatórias, a classes diferente (pronomes, advérbios e locuções
adverbiais), cujo componente dêitico deve ser definido pela sua contemporaneidade à
instância de discurso que contém o indicador de pessoa. Os indicadores de lugar, de
tempo, de objeto mostrado, dependem todos, em última instância, doeu que se anuncia
no enunciado que os contém.
Os indicadores de ostentação são os signos tradicionalmente chamados de de-
monstrativos: a identificação do objeto mostrado se faz por um indicador de ostentação
simultâneo à instância de discurso que contém eu.
Os advérbios espaciais e temporais são signos que delimitam a instância espacial e
temporal coextensiva à presente instância de discurso que contém o eu e contemporânea
da mesma:aqui, agora, hoje, ontem, amanhã, daqui a três dias, etc.
O essencial na definição dos indicadores de pessoa, de tempo, de lugar, de objeto
mostrado, é a relação entre o indicador e a presente instância de discurso: é desta rela-
ção que tais indicadores tiram seu caráter cada vez único e particular: eles não remetem
à “realidade” nem a posições “objetivas” no espaço e no tempo, mas à enunciação cada
vez única que os contém (cf. p. 253-4).
O caráter sistemático da linguagem faz com que a apropriação assinalada pelos
indicadores de pessoa se propague, na instância de discurso, a todos os elementos susce-
tíveis de “concordarem” formalmente com eles. Destaca-se logo, pela sua capacidade de
“concordância”, o verbo: a “forma verbal”é solidária da instância verbal de discurso
pelo fato de que ela é sempre e necessariamente atualizada pelo ato de discurso e está
em dependência desse ato: todas as variações do paradigma verbal (aspecto, tempo, gê-
nero, pessoa, etc.) restam dessa articulação e dela dependem (p.255).
Nem tudo na linguagem é instância pessoal de discurso. Existem discursos que, a
despeito de sua natureza individual, escapam à condição de pessoa, isto é, remetem não
a eles mesmos, mas a sua situação “objetiva”. Tais discursos se situam no domínio do
que tem sido chamado tradicionalmente de “terceira pessoa”, a qual representa o mem-
bro não-marcado da correlação de pessoa e opõe-se às pessoas eu-tu que, juntas, consti-
tuem o membro marcado (cf. p. 235, 255). As formas pronominais ditas de “terceira
pessoa” (e, com algumas alterações, as formas correspondentes do paradigma verbal)
são inteiramente diferentes dos indicadores pessoais eu-tu, tanto no que se refere à natu-
reza quanto no que se refere à função.
Na qualidade de membro não-marcado da correlação de pessoa, a chamada “ter-
ceira pessoa” é a forma do paradigma pronominal (ou verbal) que não remete a uma
pessoa porque ela se refere a um objeto situado fora da alocução (a relação pela qual eu

IDIOMA 23
29
e tu se especificam), mas o fato de fazer te necessariamente de um discurso, que é e-
nunciado por um eu, condiciona a sua existência e a sua caracterização, ao opor-se à
pessoa eu do falante que, enunciando-a, a situa como não-pessoa (cf. p. 228, 256, 265).
As formas de “terceira pessoa” não refletem nunca a instância de discurso em que
se encontram (p. 256). Não são compatíveis com o paradigma de termos como aqui e
agora, etc. (que refletem a instância de discurso). Apresentam um número por vezes
bastante grande de variantes pronominais ou demonstrativas.
O quadro abaixo ilustra a relação entre os pessoais, os espaciais e os temporais:
PESSOAIS ESPACIAIS TEMPORAIS ESPAÇO-TEXTUAIS MODO-TEMPORAIS EU AQUI HOJE / AGORA ESTE PRESENTE TU AÍ HOJE / AGORA ESSE PRESENTE
ELE
LÁ ONTEM (não-agora)
/ AMANHÃ
AQUELE PRETÉRITO
/ FUTURO
A posição de Roman Jakobson
Roman Jakobson apresenta pontos em comum com Jespersen e Hjelmslev, não só
porque toma emprestado ao primeiro o termo shifters, mas também porque insiste no
componente indicial dos pronomes pessoais, Roman Jakobson (1963: 176-96) denuncia,
entretanto, a pretendida multiplicidade de significações contextuais atribuída aos shif-
ters por aqueles que nela se basearam para tratá-los como meros índices. O seu artigo
procura mostrar que é errado pensar, como fez Husserl, por exemplo, que o caráter ticar
do pronome e dos demais shifters reside na ausência de uma significação geral e própria
que só pode ser definida mediante referência à mensagem de que faz parte.
Na realidade escreve Jakobson para única coisa que distingue os shif-
ters de todos os outros constituintes do código lingüístico é o fato que
eles remetem obrigatoriamente à mensagem. (1963: 179).
Para Jakobson os pronomes pessoais constituem a classe mais importante dos
shifters. É enganoso pensar-se que estes tenham significações meramente contextuais:
todo shifter possui uma significação geral própria, constante e única. Essa significação
geral só se define, porém, mediante referência à mensagem: “eles remetem obrigatoria-
mente à mensagem” (p. 179). Não são, portanto, meros índices, mas símbolos-índices:
combinam funções próprias da classe dos símbolos com funções específicas da classe
dos índices (tomados esses termos na acepção peirceana). Sendo símbolos-índices, eles
se caracterizam em duas etapas:
(1) de um lado, são elementos de um código, donde decorre seu con-
teúdo convencional, simbólico: a significação geral própria, única e
constante;
(2) de outro lado, o conteúdo convencional que têm enquanto elemen-
tos de um código só se define mediante referência à mensagem, ou se-
ja, enquanto símbolos-índices.
A pessoa é definida como a correlação que se estabelece entre os protagonistas do
processo do enunciado e os protagonistas do processo da enunciação, ou, nas palavras
do próprio Jakobson: “A pessoa caracteriza os protagonistas do processo do enunciado
em relação aos protagonistas do processo da enunciação” (p. 182). São, portanto, quatro
os fatores a serem considerados na organização dos pronomes pessoais:
(1) o evento narrado ou processo do enunciado;

IDIOMA 23
30
(2) a produção do discurso ou o processo da enunciação;
(3) o protagonista do processo do enunciado;
(4) o protagonista do processo da enunciação, enunciador e enunci-
atário.
Pode-se inferir da afirmação de Jakobson que a oposição processo da enunciação
& processo do enunciado define a correlação que Benveniste chamou de pessoalidade.
As formas lingüísticas relacionadas com o falante ou com o ouvinte são formas pesso-
ais, pois designam protagonistas do processo da enunciação; as formas tradicionalmente
chamadas de “terceira pessoa” são impessoais, porque se referem apenas a protagonistas
do processo do enunciado e não da enunciação.
A posição de Lyons
John Lyons (1970: 212-7) é taxativo quanto ao caráter dêitico dos pronomes pes-
soais. Juntamente com os advérbios de lugar (aqui e lá) e os advérbios de tempo (agora
e então) que também encerram componentes dêiticos; os pronomes pessoais constituem
“os exemplos mais evidentes da maneira pela qual a estrutura gramatical da língua refle-
te as coordenadas espaço-temporais da situação do enunciado” (1970: 213).
Lyons aponta para o caráter egocêntrico da linguagem. A situação de enunciação
implica um falante que lhe ocupa sempre o centro. Não obstante o centro do sistema
dêitico mude constantemente, pois o papel de falante se desloca sucessivamente de um
participante para o outro no ato de comunicação, ele é sempre designado por eu. A situ-
ação de enunciado é, por isso, egocêntrica.
A pessoa pode ser definida mediante referência ao papel assumido pelos partici-
pantes do ato de comunicação:
(1) a primeira pessoa indica o sujeito do discurso;
(2) a segunda pessoa remete ao ouvinte;
(3) a terceira pessoa remete a pessoas ou a coisas que não são nem fa-
lante nem ouvinte.
Eu e tu estão necessariamente presentes à situação de enunciação; em ele as pes-
soas e as coisas referidas não estão necessariamente presentes à situação de enunciado.
Eu e tu são necessariamente definidos; ele pode ser definido ou indefinido.
Eu e tu remetem necessariamente a seres humanos; ele pode remeter a seres hu-
manos, a animais ou a coisas. Nas fábulas e contos de fadas, quando se faz os animais e
as coisas falarem, eles são lingüisticamente personificados e, quando a língua o permite,
são recategorizados como animados.
Eu e tu são membros positivos da categoria de pessoa, remetem necessariamente a
participantes da situação de enunciado; ele é fundamentalmente uma noção negativa,
não remete necessariamente a participantes da situação de enunciados.
A terminologia tradicional representa muito mal a combinação das categorias de
pessoa e de número. Nós não é o plural de eu. O significado é “eu e mais de uma ou
várias outras pessoas”.
Inclusivos: quando a forma tradicionalmente chamada de primeira pessoa do plu-
ral comporta uma referência ao falante;
Exclusivos: quando tais formas não comportam tal referente.
Vós pode ser inclusivo ou exclusivo; enquanto inclusivo comporta referência aos
ouvintes presentes e, neste caso, é o plural do vós singular (é plural no mesmo sentido
em que chevaux é o plural de cheval); enquanto exclusivo, vós “remete a uma ou várias

IDIOMA 23
31
outras pessoas”.
A distinção fundamental é a que se estabelece entre primeira (+ego) e não-
primeira (-ego). A distinção entre segunda e terceira é secundária. À vista disso, a análi-
se correta dos pronomes pessoais singulares, feita em termos dos traços dêiticos compo-
nentes será: eu = [+ego], vós (sg.) = [-ego, +tu], ele, ela=[-ego, -tu].
O quadro abaixo é bem ilustrativo quanto aos pronomes pessoais:
EU a pessoa que fala EU é quem diz EU
TU a pessoa com quem se fala EU é quem diz TU
ELE substituto pronominal de um grupo nominal do
qual tira referência. Actante do enunciado.
EU e TU é que dizem ELE
NÓS não é a multiplicação de idênticos a junção de um EU com um NÃO-EU
VÓS l) plural de TU (dêitico)
2) = TU + ELE ou TU + ELES
ELES pluralização de ELE
Poderíamos representar o sistema referente a nós da seguinte maneira:
NÓS
Exclusivo Inclusivo
Qualitativo Quantitativo
nós mesmos só nós nós outros nós quatro nós todos
(interno) (externo) (limitativo) (enumerativo) (global)
A posição de Mattoso Câmara Jr.
A inclusão de Joaquim Mattoso Câmara Jr. neste trabalho justifica-se por sua po-
sição assumida num artigo publicado pela primeira vez em 1947: “Sobre a classificação
das palavras”, republicado em 1972 na coletânea intitulada Dispersos (p. 3-7). Mattoso
cita L. Gray (1939: 173), para quem “semanticamente, os pronomes diferem dos nomes
em serem essencialmente dêiticos” e Noreen, segundo o qual a significação do pronome
está contida numa referência que se acha fora da expressão lingüística e determinada
pelo conjunto da situação. E, baseando-se na distinção de F. Kainz entre nomear (nen-
nend) e apontar (zeigend), Mattoso afirma que “não há distinção primária entre eu em
“eu falo”, e meu em “o meu livro”, ou, talvez ainda mais claramente, entre este em “este
livro” e isto (p. 5). Um pouco mais adiante acrescenta: “Os chamados adjetivos determina-
tivos são pronomes, pois têm a significação contida numa referência que se acha fora da
expressão lingüística: este e meu são tão dêiticos quanto isto e eu respectivamente (p. 6).
Os pronomes têm como função básica indicar a noção de pessoa segundo a oposi-
ção seres que se situam no eixo falante-ouvinte & seres que ficam fora desse eixo. Fun-
cionalmente, podem ser substantivos ou adjetivos. Os pronomes pessoais funcionalmen-
te são substantivos.
Os chamados demonstrativos têm a função de indicar a posição no espaço de um e-
lemento do mundo biossocial tratado na língua como “ser”, ou “nome”. Seu papel é, portan-
to, essencialmente dêitico. Essa indicação toma o falante como ponto de referência.

IDIOMA 23
32
O sistema de indicação mais generalizado é o dicotômico: próximo & distante; e-
limina dados relevantes do ponto de vista da comunicação (mensagem). Observe-se o
quadro a seguir:
Enunciador (EU) mensagem Enunciatário (NÃO-EU)
o EU o ELE o TU
este aquele esse
Podem ser empregados em função adjetiva (este livro) ou substantiva (este não é o
meu livro), menos as formas isto, isso, aquilo, que têm as seguintes marcas:
(a) só têm emprego substantivo;
(b) são invariáveis em gênero e número e são de tema em -o;
(c) só se reportam a seres considerados inanimados ou “coisas”.
Mattoso Câmara inclui entre os demonstrativos a série o, a, os, as. Essa série neu-
traliza, segundo ele, a posição definida no espaço e introduz no seu lugar a noção gra-
matical de “definição”. Os elementos dessa série admitem também um emprego em
função adjetiva e um emprego em função substantiva:
(a) em função adjetiva, empregados como determinantes de um nome
substantivo, são tradicionalmente chamados de artigos;
(b) isolados, empregados em função substantiva, são particularmente
freqüentes diante da partícula que e correspondem a aquele,-a, -s, -as.
Este uso é para assinalar a eliminação dos campos do falante e do ou-
vinte.
Mattoso Câmara destaca o duplo uso dos “demonstrativos”: “O papel dos demonstra-
tivos é essencialmente “dêitico”, isto é, indicador no espaço. Cabe-lhe, entretanto, um se-
gundo papel, que Said Ali chama “anafórico” (Ali, 262). Consiste não numa referência ao
mundo biossocial, mas ao que foi dito ou vai ser dito no contexto lingüístico. As nossas
gramáticas costumam atribuir em tal caso a este o que vai ser dito, a esse o que acaba de ser
dito e a aquele o que já foi dito há algum tempo ou noutro contexto lingüístico. A rigor, no
emprego anafórico desaparece a oposição este:esse, ou antes, este não passa de uma forma
mais enfática do que esse. A oposição estrutural se transpõe para uma mera oposição estilís-
tica. A verdadeira oposição fica entre este (esse) / aquele, assinalando o primeiro membro
proximidade no contexto e o segundo uma referência à distância” (1970, 113).
Os exemplos colhidos abaixo mostram bem esta referência:
(1) Depois vieram outros e outros, estes fincados de leve, aqueles até à
cabeça. Monteiro Lobato, Urupês, 110
(2) Porém de que serve a piedade sem a caridade? Ou antes, pode a-
quela existir sem esta? Almeida Garrett, OC, I, 721
Mattoso Câmara (1970: 114) distingue três séries de locativos:
(1) na primeira série (correspondente a este, esse, aquele) temos:
(a) locativo da área do falante: aqui
(b) locativo da área do ouvinte: aí
(c) locativo de uma terceira área, distante do falante e do ouvin-
te: ali
(2) na segunda série, temos:
(a) cá, próximo do falante & lá, distante do falante;
(b) acolá, opõe-se a lá para distinguir entre dois locais distantes do

IDIOMA 23
33
falante.
(3) na terceira série, a posição indicada pelo locativo é estabelecida
não em função do falante, mas de um ponto qualquer por ele escolhido
com referência.
(a) aquém: posição antes do ponto de referência;
(b) além: posição depois desse ponto.
A posição de Levinson
Para Levinson (1983), a dêixis é a prova mais evidente de que a interpretação dos
enunciados depende da análise do contexto deste enunciado. Quando falta a informação
dêitica é impossível a interpretação completa de enunciados:
(1) Estarei de volta em uma hora.
(2) Escute, eu não estou discordando de você, mas de VOCÊ, e não
sobre isto, mas sobre ISTO.
O estudo da dêixis aborda os modos pelos quais as línguas gramaticalizam os as-
pectos do contexto do enunciado. A dêixis codifica dentro do próprio enunciado diver-
sos aspectos das circunstâncias. Deve, portanto, constituir parte essencial da semântica,
na definição ortodoxa do termo.
As línguas naturais estão diretamente ancoradas a aspectos do contexto. Estão de-
senhadas pela e para a interação face a face. As análises que não queiram levar isto em
consideração terão extensão limitada.
Na definição de pragmática como a que trata dos aspectos de sentido e de estrutu-
ra lingüística que não podem ser captados na semântica das condições de verdade para
dêixis estaria na fronteira entre a semântica e a pragmática.
No enfoque lógico, o assunto é tratado como “expressões indexicais”. Como a semân-
tica das condições de verdade trataria de certas expressões das línguas naturais, como:
(3) Letizia de Ramolino era a mãe de Napoleão.
A verdade não depende de quem o diz, mas dos fatos da História.
(4) Eu sou a mãe de Napoleão.
Só pode ser verdade se a pessoa que disse a frase for realmente idêntica à mãe de
Napoleão e falsa se outra pessoa o diz. Além dos fatos históricos, temos que saber deta-
lhes sobre o contexto no qual o enunciado foi dito (identidade dos falantes, dos ouvin-
tes, dos objetos indicados, dos lugares e do tempo). Todo enunciado tem pelo menos
uma dependência ligada ao tempo.
As sentenças em abstrato não expressam proposições definidas. Somente o enunciado
dessas proposições, em contextos definidos, que expressam estados de coisas específicos,
com os parâmetros pragmáticos preenchidos (como as variáveis indexicais aplicadas) é que
vão definir as proposições. Assim a pragmática é logicamente anterior à semântica. O out-
put do componente pragmático deve ser o input do componente semântico.
No plano ideal, os indexicais que podem ser tratados rotineiramente pelas condi-
ções de verdade poderiam permanecer na semântica. Mas há casos em que nem todos os
aspectos da dêixis podem ser tratados pelas condições de verdade. E mesmo os casos
rotineiros apresentam problemas.
Levinson enumera os vários tipos de dêixis: de pessoa, de lugar, de tempo, de dis-
curso e social (1983: 62-3). A pessoa central é o falante. O tempo central é o tempo no
qual o falante produz o enunciado. O lugar central é o lugar do falante no tempo do e-

IDIOMA 23
34
nunciado. O centro do discurso é o ponto no qual o falante está no momento da produ-
ção do enunciado. O centro social é o status e a hierarquia social do falante em relação
aos interlocutores ou referentes.
A dêixis de pessoa se reflete nas categorias gramaticais de pessoa. Parâmetros que
devem ser usados em consideração nas descrições das línguas do mundo: papéis do par-
ticipante: falante, fonte, objetivo.
Há uma interação entre as coordenadas dêiticas com a conceptualização não-dêitica
de tempo e espaço. 'c9 preciso entender a organização semântica do espaço e do tempo em
geral. A dêixis interage com as unidades calendáricas e não-calendáricas das culturas.
A dêixis de lugar trata da especificação da localização relativa aos pontos de anco-
ragem no evento de fala. Há dois modos básicos de se referir aos objetos: descrevendo
ou nomeando-os e localizando-os. Há muitos modos de distinguir a dimensão próxi-
mo/distante: here and there, aqui, aí, lá, etc.
A dêixis de discurso trata do uso de expressões dentro de um enunciado que se re-
ferem a porções do discurso que contenham o enunciado. Como o discurso se produz no
tempo, há usos de expressões de tempo para se referir a tais porções do discurso (no
próximo capítulo, no último parágrafo). Por ser a dêixis discursiva uma noção polêmi-
ca, abrir-se-á, mais adiante, uma seção para discuti-la um pouco mais detidamente.
Já a dêixis social trata dos aspectos das sentenças que refletem ou são determina-
dos por realidades da situação social em que o ato de fala ocorre. Por exemplo, os pro-
nomes de tratamento.
Avaliação Crítica
Os autores aqui compendiados, pelo menos implicitamente, reconhecem a distin-
ção entre mostração dêitica e mostração anafórico/catafórica. Cabe observar que o tra-
tamento dado por eles ao assunto é bastante desigual, tanto no que diz respeito à exten-
são dos trabalhos, como no que diz respeito ao tipo de enfoque.
Bühler, Benveniste, Lyons, Jakobson e Levinson estão mais preocupados com o
delineamento das características gerais dos signos mostrativos do que com a descrição
acabada de um sistema mostrativo de uma língua natural qualquer. Já para Mattoso Câ-
mara, o mais importante é a descrição do sistema mostrativo da língua portuguesa. Câ-
mara procura cobrir, de um modo geral, o sistema pronominal do português, mas o faz
de modo desigual: aos chamados pronomes pessoais, adjetivos possessivos e demonstra-
tivos dedica várias páginas (1970: 107-14), enquanto os espaciais (aqui, aí, lá, etc.) não
recebem mais que uma dezena de linhas e os temporais, nem uma sequer.
Benveniste estabelece uma oposição entre uma lingüística como estudo das for-
mas e uma lingüística da enunciação. A primeira se caracteriza por dois traços: conceber
seu objeto como estruturado e conceber como tarefa básica da lingüística a descoberta
de regras internas a esta estrutura. A lingüística da enunciação, embora continue admi-
tindo aquele objeto estruturado, inclui também no objeto de estudo o aparelho formal
da enunciação.
A lingüística da enunciação que tem sido postulada por oposição a uma lingüística
das formas tem suas origens da análise dos shifters (Jakobson), dos performativos (Aus-
tin) e da categoria de pessoa (Benveniste).
Enfim, os autores aqui sumariados mostraram domínios em que é impossível dis-
sociar da língua a atividade do falante, e assim a língua deixa de ser vista como instru-
mento externo de comunicação, de transmissão de informações, para ser vista como
uma forma de atividade entre dois protagonistas.

IDIOMA 23
35
@ @ @ @ @ @

IDIOMA 23
36
GRAMATOLOGIA E DIFFÉRANCE: A PROPÓSITO DOS PRIMEI-ROS ESCRITOS DE JACQUES DERRIDA
Mário Bruno (UERJ)
Pela manhã ouve-se golpes na porta. Parecem
vir do fora (...) esse outro teatro, esses golpes
do fora.
Jacques Derrida
Introdução
Apresentar algumas questões “presentes” nos primeiros escritos de Derrida é o in-
tuito deste trabalho. Seria desnecessário dizer que não nos propusemos a uma análise
exaustiva, para o que nos faltaria fôlego específico. Limitamo-nos à compilação de al-
guns pontos que vêm sendo levantados pelos seus comentaristas, empenhados em sali-
entar a surpreendente importância dos escritos derridianos.
A escrita metafísica Em 1965, o filósofo Jacques Derrida, ex-aluno de Michel Foucault na rue d’Ulm, pu-
blicou na revista Critique um artigo muito polêmico que deu origem ao livro De la Gram-
matologie (Gramatologia). Esse termo, tomado de empréstimo a Littré, designa o tratado
das letras do alfabeto, da leitura, da silabação e da escrita. Seu objetivo principal era libertar
o projeto da semiologia do modelo de uma lingüística cujos alicerces eram fonológicos.
De la Grammatologie apresentava-se, também, como um “guia” para a crítica da
metafísica. Segundo Derrida, a escrita fonética era co-extensiva ao pensamento metafí-
sico e, portanto, remontava à mesma origem que ele. Derrida – pelo menos na fase ini-
cial de sua obra - , visava a autosuperação da metafísica, recorrendo aos tempos anterio-
res à escrita fonética (a gramatologia procurava pensar a singularidade da linguagem
antes de capturada pela linearidade da voz).
Com certeza não é justo tomar a Gramatologia como uma versão lingüística do
pensamento do “ser”, como se tratasse de praticar heideggerianismo; não obstante a
influência de Heidegger é aí explicita, serve, sobretudo, para denunciar, nos conceitos-
chave da lingüística (o modelo usado pelo estruturalismo), certos aspectos metafísicos.
Como afirmamos, o ponto de partida derridiano foi o conceito de escrita, comanda-
do na história do Ocidente, pelo etnocentrismo logocêntrico: a escrita, foi sempre conside-
rada secundária em relação a uma phoné originária. E, à luz de uma interpretação heideg-
geriana, Derrida afirma que a escrita, entendida como imagem de uma phoné, só pode
manifestar uma verdade pré-determinada, secundária, metafísica, distante do “ser” en-
quanto tal. Sendo assim, o primado do logos reveste a teoria da escrita. A idéia fonocên-
trica de uma escrita secundária em relação a uma phoné remete a uma teoria da presença,
a uma teoria do esquecimento da diferença a partir da determinação entitativa:
É no sistema da língua associado à escritura fonético-alfabética que se
produziu a metafísica logocêntrica determinando o sentido do ser co-
mo presença. Este logocentrismo, esta época da plena fala sempre co-
locou entre parênteses, suspendeu, reprimiu, por razões essenciais,
toda reflexão livre sobre a origem e o estatuto da escritura que não
fosse tecnologia e história de uma técnica apoiadas numa mitologia e
numa metafórica da escritura natural. (Derrida: 1973, 53)

IDIOMA 23
37
Com isso, Gramatologia revisita a crítica heideggeriana à essência da técnica e à
glorificação positivista do ente-dado.
A forma objetiva e a pura reflexão
Segundo Derrida, no mundo ocidental, a história do ser como presença tem duas
fases bem definidas: o primeiro momento é o da identidade da presença oferecida à do-
minação da repetição sob a forma objetiva da idealidade do eidos ou da substancialidade
da ousia; o segundo, o da objetividade sob a representação na qual a idealidade e a subs-
tancialidade relacionam-se consigo mesmas no elemento da res cogitans, num movi-
mento de pura afecção, sobrepujando a provocação do Gênio Maligno e provando a
existência de Deus (de Descartes a Hegel, o entendimento infinito de Deus é o nome do
logos como presença a si).
Mas Derrida avisa que os nomes dos filósofos, nessa história da metafísica, não são
nomes de autores, têm somente um valor indicativo, são nomes de problemas do pensamen-
to. Todavia, esses problemas não podem ser vistos à luz de estruturas. Aqui, fica nítido que
Derrida, no início de seu percurso, já não poupava críticas ao estruturalismo:
Para além destas justificações maciças e preliminares, seria preciso
invocar outras urgências. No campo do pensamento ocidental, e nota-
damente na França, o discurso dominante – denominemo-lo “estrutu-
ralismo” – permanece preso hoje, por toda uma camada de sua estrati-
ficação, e às vezes pela mais fecunda, na metafísica – o logocentrismo
– que ao mesmo tempo, se pretende, ter, como se diz tão depressa “ul-
trapassado”. (Derrida: 1973, 124)
Acreditamos que De la Grammatologie foi a primeira grande contestação filosófi-
ca do estruturalismo francês, que pretendia ampliar, para o campo de todas as “Ciências
Humanas”, o emprego da lingüística. E mais do que isso, Derrida, numa nota, opõe-se
ao primado do significante.Isto já comportava uma crítica implícita à leitura lacaniana
de Freud, a qual tomava o significante como telos da fala plena.
De certo modo, o estruturalismo pertenceria a única metafísica que conhecemos
no Ocidente, a “metafísica da presença”, desdobrada, como já sabemos, nas duas moda-
lidades principais: a forma objetiva e a pura reflexão.
A metafísica da presença atravessa, de modo variado, essas grandes formas, mas
atravessa outros modos de pensar que atribuímos ao senso comum. Sem grandes difi-
culdades poderíamos estabelecer uma lista de conceitos que se apoiam no valor da pre-
sença: o imediatismo da sensação, a presença de verdade à consciência (humana ou di-
vina), as noções de origem e de finalidade, a síntese dialética, a presença na fala de es-
truturas lógicas, o “eu” presente a si (resistindo à dúvida hiperbólica), o significado pre-
sente à consciência de quem fala, etc. Enfim, sabemos que esta lista poderia ser maior.
Mas cabe retomar que, principalmente nos seus primeiros escritos, Derrida delimitou o
campo de sua atuação relacionando a metafísica da presença ao privilégio da voz e ao
querer-dizer:
A voz viria em primeiro lugar: nele se põe, em um ponto que, por ra-
zões que não posso explicar aqui, parece juridicamente decisivo, a
questão do privilégio da voz e da escrita fonética em suas relações
com toda a história do Ocidente, tal qual ela se deixa representar na

IDIOMA 23
38
história da metafísica, e em suas forma mais moderna, mais crítica,
mais atenta: a fenomenologia transcendental de Husserl. O que é o
“querer-dizer”, quais são suas relações históricas com aquilo que se
pensa identificar sob o nome de “voz” e como valor da presença do
sentido à consciência, presença a si na palavra dita “viva” e na consci-
ência de si? (Derrida: 2001, 11)
Sobrevindo do fora, a errância da différance
Em 1968, Derrida pronuncia na Sociedade Francesa de Filosofia uma conferência
denominada La Différance (A Diferença) e publica um belíssimo artigo chamado La
Pharmacie de Platon (A Farmácia de Platão). O ano de 1968 foi marcado na França
por um turbilhão de acontecimentos e as produções de Derrida pertenciam, de algum
modo, a essa efervescência.
Na conferência La Différence, tendo como “pretexto” um neografismo, expresso
por um pequeno desregramento gráfico (a troca do e pelo a), Jacques Derrida fala da
différance como algo inaudível, propondo um “retorno” à discussão, desenvolvida por
Martin Heidegger sobre o esquecimeto da diferença entre o ser e o ente. Contudo, Der-
rida via, na procura heideggeriana do sentido do ser, uma certa permanência do pensa-
mento da “presença”. La Différance revisita também Nietzsche e Freud, enquanto pen-
sadores de uma diaforística energética ou economia de forças. Em ambos, a diaforística
se contrapõe ao primeiro da “presença” como consciência.
Já em La Pharmacie de Platon, Derrida percebe que, no centro bem calculado do
Fedro, Platão indaga sobre o que significa a logografia. O Fedro, neste ponto, recorda
que os homens mais livres sentiam vergonha de escrever discursos e deixar atrás deles
textos escritos. Nos diz Derrida que a mesma desconfiança envolvia a escritura e a efi-
cácia dada ao empirismo. A escrita acumulava um saber morto, encerrado nos bibliá,
algo tão estranho à episteme quanto ao mito.
Segundo Derrida, a escrita sob o ponto de vista de Platão, era como um pharma-
kon: um suplemento sensível da fala, uma exterioridade artificial não controlável para o
dentro indivisível da alma, um fora radical.
No Fedro de Platão, o pharmakon significava tanto remédio quanto veneno. A es-
crita, enquanto dádiva de Cadmos ao homem, para servir-lhe de remédio, é vista por
Sócrates como um veneno perigoso. A própria vida de Sócrates expressa ironicamente
essa ambiguidade: Sócrates ingeriu veneno (pharmakón) como remédio para seu destino
de “bruxo” (pharmakeus). Mas o pharmakos significava também “bode expiatório”,
cuja expulsão purificava a polis.
De acordo com Derrida, o discurso de Sócrates, no Fedro, objetivava expulsar a
escrita venenosa, secundária em relação à fala e, com isso, manter o pensamento na sua
relação direta com os significados ideais.
Por outro lado, embora Derrida tenha demonstrado, nos seus primeiros trabalhos, um
vivo interesse pela fenomenologia, a exemplo do livro La Voix et le Phènomenè (A Voz e o
Fenômeno, publicado em 1967), Edmund Husserl defendia com rigor a noção de consciên-
cia pura contra o domínio intermédio da comunicação lingüística, a fim de expurgar a posse
do significado através dos vestígios empíricos da expressão verbal. Husserl atribuiu o signi-
ficado à esfera da essencialidade ideal. Para Derrida, a noção de significado é muito diferen-
te da concepção de Hussrel. É possível afirmar que os escritos da Derrida têm como um
dos pontos de confronto o que ele denominou transcendental. Para o autor da Gramatologi-
a, os significados transcendentais têm recebido os mais diversos nomes: Deus, a Idéia,
Substância, o Eu e assim por diante. Segundo Derrida, esses significados são candidatos a

IDIOMA 23
39
fundamentar todo o sistema de pensamento ocidental.
Conclusão
Podemos dizer que a síntese das idéias filosóficas de um pensador tão singular,
quanto Derrida, é impossível. No entanto, indiquemos quatro aspectos que nos parecem
que foram fundamentais para a produção filosófica dos primeiros escritos derridianos:
1º aspecto - “Ultrapassar” através de uma “nova semiologia” (gramatologia) a an-
tecipação do sentido quanto à letra, pressupondo a existência de um devir diferencial da
“linguagem” anterior à fala e à escrita.
2º aspecto - “Desconstruir”, através de um “retorno” às obras de F. Nietzsche e M.
Heidegger, uma epistemologia que postulava a unidade do sujeito e a exterioridade do
objeto. Portanto, repensar, na filosofia, a determinação objetiva da “presença” e a de-
terminação subjetiva da consciência como “presença”.
3º aspecto - Conduzir a noção de diferença, enquanto decisão filosófica, ao deslo-
camento aporético, capaz de evidenciar os sintomas logocêntricos do pensamento greco-
ocidental.
4º aspecto - Compreender a estranha mise-en-scène da história filosófica da escri-
ta, que se confunde com a história da filosofia, aprisionada a um quadro familiar, no
qual o Pai é o único e verdadeiro Bem; depois vem seu filho, o Logos, um “homem”
livre, identico a si e capaz de proferir a palavra do Pai. Por conseguinte, à margem, es-
tão os personagens bastardos que engendram o jogo perigoso do pharmakon, o jogo
incontrolável do fora.
Referências Bibliográficas:
DERRIDA, J. Gramatologia. Trad. Miriam Schnaiderman e Renato Janini Ribeiro. São
Paulo: Perspectiva, 1973.
------. La diseminación. Trad. José Martín Arancibia. Madrid: Editorial Fundamentos,
1975.
------. Posições. Trad. Tomaz Tadeu da Silva. Belo Horizonte: Autêntica, 2001.
@ @ @ @ @ @

IDIOMA 23
40
UMA LEITURA DISCURSIVA DE CRÔNICAS DO PERÍODO JK
Vanise Gomes de Medeiros (UERJ e PUC-Rio)
(...) o objeto na AD é um objeto sócio-
histórico.
Orlandi, 2001
Introdução
Neste artigo apresento uma reflexão sobre a leitura de crônicas jornalísticas em
dois importantes jornais do período JK, a saber, Jornal do Brasil e Correio da Manhã.
Cumpre dizer que tomo como suporte teórico a análise de discurso, conforme Pêcheux e
Orlandi.
Lendo as crônicas jornalísticas literárias do período JK
Isto é uma crônica: algo leve e jocoso. (JB, 5/6/57)
Dizem que agora a crônica é um gênero seriíssimo e isso me ame-
dronta. (JB, 05/03/59)
De início, cumpre-me contextualizar essas duas citações, ambas de Ferreira Gul-
lar. A primeira foi retirada de uma crônica publicada na coluna Rodízio (coluna em que
vários jornalistas e escritores se alternavam sem regularidade de dia). A segunda apare-
ce na crônica que marca sua posição como cronista em um novo espaço: no alto da pá-
gina, ao lado de Manuel Bandeira. Espaço agora fixo e regular: há dias específicos na
semana para se ler sua crônica.
Ler jornais de quase 50 anos atrás em busca de crônicas jornalísticas literárias e de
seus cronistas pode levar um leitor que desconheça as categorias de leitura de crônicas
em jornais dos anos 50 a ter dificuldades em localizá-las. Irei expor alguns dos obstácu-
los, visando contribuir para uma discussão sobre leitura. Pretendo mostrar, outrossim,
como as dificuldades observadas serviram como pistas para o funcionamento discursivo
da crônica.
Uma das primeiras dificuldades na leitura de crônica dos anos 50 advém do fato
de, por um lado, o termo crônica encabeçar diferentes textualidades e, por outro lado, de
o termo não ser, grosso modo, título de coluna de crônica literária.
Por exemplo, no Jornal do Brasil, em uma coluna diária sobre música, assinada
por Renzo Massarani, apresentado como crítico musical, por vezes, encabeça-lhe o títu-
lo de Crônicas, outras vezes, tem-se Teclado (sendo este é bem mais usual que aquele).
Aí encontram-se, indiferentemente do título, cartas – algumas dos próprios leitores –,
informes curtos sobre eventos culturais a ocorrer naquele dia na cidade ou no mundo e
crítica de acontecimentos do mundo musical.
Um outro exemplo: no Correio da Manhã, por sua vez, há uma coluna diária no
quinto caderno, denominada Crônica Científica, em que Floriano de Lemos comenta
desde problemas de saúde (o que é mais freqüente) a problemas com a língua portugue-
sa, muitas vezes em resposta a cartas de leitores, também apresentadas em fragmentos.
É também comum a palavra crônica ser título de coluna em que se tem informes
de acontecimentos fora do país. Por exemplo, no Jornal do Brasil, encontra-se uma co-

IDIOMA 23
41
luna por vezes chamada de “Crônicas de Nova Iorque”.
Embora não tão corrente, no Jornal do Brasil, por exemplo, aparece uma coluna
cujo título é “Crônicas de São Paulo” ou “Crônicas de Minas”, em que se tem uma nar-
rativa de algum momento da história da cidade em questão ou então notícias da cidade
em foco.
Por fim, tem-se colunas de crônicas esportivas e de crônicas sociais. Esta última
em geral é denominada como notícias sociais; no entanto, por vezes, o termo crônica lá
se mostra.
Em suma, no que se refere ao termo crônica, este aparece, nos jornais do período
destacado, significando: notícias do mundo; eventos culturais; informes sobre saúde ou
língua; conversas com o público no sentido de resolver dúvidas ou problemas; narrati-
vas históricas; notícias e/ou comentários esportivos; notícias sociais.
Desta lista não faz parte, contudo, o tecido textual do cronista literário.
A primeira página do JB vinha desde 1956 apresentando anúncios e
um pequeno sumário. Em junho de 1957 começa uma mudança da di-
agramação do JB na primeira página. Esta deixa de ser dedicada a a-
núncios e passa a apresentar fotos, manchetes e pequenas reportagens.
Em agosto é a página do editorial que sofre alterações na diagramação
(cabe registar que as crônicas continuam a ser publicadas na página do
editorial.) Essas transformações, que podem ser observadas no jornal,
decorrem de uma mudança maior iniciada em 1956 e concluída em
1959 (Sodré: 1999, 395).
No caso do Jornal do Brasil, por exemplo, na capa, repleta de anúncios, há um
pequeno sumário que separa “Tópicos” de “Artigos”. Como tópicos, encontram-se dois
ou três títulos que remetem para um noticiário (nacional ou internacional); como “arti-
gos”, dois ou três títulos que remetem para textos de Manuel Bandeira, Hélio Pelegrino,
Josué Montello ou Ferreira Gullar, por exemplo. Ou seja, com “tópicos” e “artigos”
separam-se, no Jornal do Brasil, notícias e reportagens de textos assinados,.
No caso do Correio da Manhã, para dar outro exemplo, a coluna de Carlos
Drummond de Andrade tampouco recebe o nome de crônica.
É interessante observar em relação ao termo “crônica” que, se este não encabeça,
grosso modo, o texto da crônica literária e sim outras textualidades, há, no entanto, uma
extensa referência e reverência ao material de escritores e de jornalistas como se tratan-
do de crônica e a seus autores como sendo cronistas, o que não acontece comumente
nem com os outros textos anteriormente referidos nem com seus autores. Isto é, inter-
namente, no corpo dos inúmeros e diferentes textos jornalísticos, refere-se ao material
cronístico literário como crônica e aos seus cronistas como tais. Importa observar que o
próprio cronista também assim se auto-denomina; o que não ocorre nos outros lugares
apontados.
Ou seja, à ausência de denominação “crônica” titulando ou indicando a coluna de
crônica literária corresponde um intenso processo de demarcação de uma formação dis-
cursiva que viria a ser considerada como um gênero literário. E o inverso também se
observa nos espaços que apresentam o título de crônica.
Mais adiante estas questões em relação ao termo crônica serão retomadas; por ora,
interessa registrar mais alguns dos possíveis tropeços para um leitor atual.
Uma outra ordem de dificuldade diz respeito à localização da crônica.
Por exemplo, Fernando Sabino, que começa a escrever no Jornal do Brasil em

IDIOMA 23
42
1958, não tem no início página ou coluna fixas. Apenas depois de um certo período este
autor passa a ter sua crônica publicada diariamente na página 7 – página aliás em que
não se encontra o editorial. Esta localização consiste em uma exceção em termos de
espaço; em geral, as crônicas do período JK ocupam a mesma página do editorial, o que
se verifica nos jornais aqui privilegiados (JB e CM) e em diversos outros. É raro não se
ter na página do editorial um cronista, o que funciona como indicador do lugar de pres-
tígio que a crônica possuía à época.
Há também a dificuldade decorrente da pluralidade de tecidos textuais em uma
mesma coluna e sob um mesmo rótulo. Por exemplo, ainda no Jornal do Brasil, encon-
tra-se, na mesma página do editorial, uma coluna, denominada Rodízío. Esta coluna,
cuja existência é anterior ao período JK, portanto anterior a 1956, e cujo término ocorre
em 1958, quando é promovida uma mudança na página do editorial, situa-se no final da
página e nela aparecem, entre outros, Ferreira Gullar, Hélio Pelegrino, Luiz Lobo, José
Carlos Oliveira, Luiz Garcia. No entanto, nem todos que aí escrevem assumem-se ou
são indicados como cronistas, tampouco apontam para seu texto como crônica. Por e-
xemplo, com Luiz Lobo, vemos contos (Continho sem importância, de1/3/1957, de Luiz
Lobo, é um exemplo), e a referência que muitas vezes ele se faz bem como a que outros
lhe fazem é a de contista ou escritor. Ou seja, em um mesmo espaço e sob um mesmo
rótulo (Rodízio), encontram-se, então, diferentes textualidades, sendo uma delas a crônica.
A nomeação do cronista é outro fator de dificuldade. Por exemplo, é também co-
mum o leitor se deparar com iniciais ou pseudônimos no lugar de uma assinatura. Isto
por vezes não impede a identificação, como é o caso de C.D.A. (Carlos Drummond de
Andrade) no Correio da Manhã; mas, por vezes sim, como é o caso de All Right no
mesmo jornal, ou de O.C.F. no Jornal do Brasil. Portanto, uma outra observação interes-
sante ao discurso cronístico: o ocultamento do nome, tema que não será aqui abordado.
Por fim, a possibilidade de se ter um mesmo autor assumindo mais de uma posi-
ção discursiva, isto é, o fato de um mesmo escritor ou jornalista poder aparecer em mais
de um lugar em um mesmo jornal assumindo posições discursivas diferentes – isto sem
falar na circulação, deveras comum, dos escritores em diferentes jornais e em diferentes
posições discursivas – também configura uma outra dificuldade ao leitor atual.
Por exemplo, no Jornal do Brasil, Ferreira Gullar assina uma coluna, na página do
editorial, como cronista (várias vezes afirmou ter tal função e também foi apontado e
elogiado por outros como cronista) e outra coluna, intitulada “Artes Visuais”, em outra
página do mesmo jornal, na posição de crítico de arte. Gullar também assume a posição
de crítico de arte em outro jornal, no caso o Diário de Notícias, com a coluna “Artes
Plásticas”. E, por vezes, ele, assim como Sabino e Carlos Drummond de Andrade escre-
vem em vários suplementos literários de outros jornais, seja na posição de poeta (ou
escritor) publicando um poema ou parte de romance, seja na posição de crítico, rese-
nhando a obra de algum colega.
Sintetizando, são, pois, dificuldades que dizem respeito:
a) à não-familiaridade com a tensão do termo crônica no período privilegiado;
b) à não-familiaridade com os jornais da época e com isto a dificuldade de saber
em tal ou qual página se encontra uma crônica;
c) à não-familiaridade com o universo dos cronistas da ocasião – apesar de haver
um número significativo de cronistas que se tornaram conhecidos por tal prática, há
inúmeros outros sem tanto reconhecimento;
d) à não-familiaridade com as iniciais e os pseudônimos de alguns cronistas;
e) ao fato de um mesmo escritor/jornalista escrever em diferentes posições tanto

IDIOMA 23
43
em um mesmo jornal quanto em jornais diferentes.
São, pois, dificuldades que decorrem das condições de produção de leitura.
Por exemplo: No caso (a), a dificuldade se deve à flutuação do termo crônica en-
quanto construção discursiva de um referente. Nos casos (b) e (c), as dificuldades ad-
vêm da relação entre leitor real – o que aqui significa um leitor tanto em posição de lei-
tor atual de crônicas jornalísticas quanto de um posição de leitor crítico (leitor analista
de discurso) – e leitor virtual das crônicas jornalísticas do período JK, isto é, do leitor aí
inscrito. Nos casos (d) e (e), entram em cena dificuldades oriundas da própria historici-
dade da crônica.
Um parêntese: estas distinções das dificuldades são de base operatória já que em
todas elas joga a questão do leitor e do texto.
Explicando o que foi dito, no quadro teórico da Análise de Discurso, a leitura, na
medida em que é produção de sentido, também tem suas condições de produção, da qual
fazem parte, para citar as que mais interessam no momento: a relação entre leitor e texto
e as histórias de um texto (no caso aqui a história da textualização da crônica).
No que tange à relação entre texto e leitor, é preciso sublinhar que em Análise de
Discurso esta relação não é direta, mas mediada por formações imaginárias, daí a noção
de leitor virtual. Cito Orlandi:
Há um leitor virtual inscrito no texto. Um leitor que é constituído no
próprio ato da escrita. Em termos do que denominamos “formações
imaginárias” em análise de discurso, trata-se aqui do leitor imaginário,
aquele que o autor imagina (destina) para seu texto e para quem ele se
dirige. Tanto pode ser um “cúmplice” quanto um seu “adversário”.
Assim, quando o leitor real, aquele que lê o texto, se apropria do
mesmo, já encontra um leitor aí constituído com o qual ele tem de se
relacionar necessariamente. (1988, 9)
O leitor real, portanto, não interage diretamente com o texto, o que significa que a
leitura e, no caso, a compreensão de um texto, não se restringe a decodificação da in-
formação que aí porventura residisse. Ler é, conforme os inúmeros artigos e livros de
Orlandi que tratam da questão, produto de uma prática histórica: social e ideológica. E
tanto o leitor real quanto o leitor virtual estão inscritos em formações discursivas. Disto
resulta a possibilidade, a dificuldade bem como a facilidade da leitura.
Refletindo sobre o caso da crônica nos anos 50, o que se pode dizer é que há um
leitor aí inscrito em uma prática discursiva na qual está em jogo a própria textualização
do objeto crônica. É com isto que o leitor real tem de se relacionar e não com um texto
auto-significativo. Daí as dificuldades antes apontadas.
No que tange à história da textualização da crônica, esta diz respeito ao percurso
da mesma como um espaço de produção de sentido que foi se institucionalizando no
jornal como um gênero discursivo específico. São necessárias duas palavras sobre texto.
Se texto em Análise de Discurso é tomado pragmaticamente como uma unidade
acabada – “constitui uma totalidade com começo, meio e fim” (Orlandi: 1987, 195), isto
não implica que se o considere, contudo, como um produto completo. É preciso expli-
car. O texto em Análise de Discurso é pensado na sua dimensão discursiva, isto é, em
que jogam as condições de produção de sentido: os interlocutores, a situação, os implí-
citos, as intertextualidades, as histórias do texto e do leitor, os modos de leitura, a época
em que é lido e/ou escrito, entre outros fatores. Isto significa que o sentido não está nem
no texto nem no leitor, mas na relação entre os dois. Relação, como já dito, atravessada

IDIOMA 23
44
pelas formações imaginárias. Daí a incompletude do tecido textual.
Em outras palavras, trata-se de diferenciar o texto enquanto objeto empírico – aí
se o toma como acabado – de texto enquanto objeto teórico: incompleto, porque “bólido
de sentidos” (Orlandi: 1996, 14).
Retornando à leitura das crônicas do período JK, o que interessa destacar em rela-
ção às dificuldades encontradas em relação à crônica e aos cronistas é que a crônica,
mesmo enquanto tecido textual empírico, é sobretudo uma construção histórica. Daí as
possíveis dificuldades para um leitor, com as categorias do que se entende hoje por crô-
nica, ao se debruçar sobre a malha discursiva das crônicas nos jornais de 50 anos atrás.
Por outro lado, vale notar que, para o leitor analista de discurso, as mesmas difi-
culdades serviram como pistas do funcionamento discursivo da crônica. Explico. Ao se
começar a ler os jornais em busca das crônicas e seus cronistas, de imediato se observou
que as dificuldades anteriormente listadas indicavam uma flutuação do termo crônica no
que tange à construção discursiva de um referente. Em outras palavras, o que os jornais
da época nos permitiram observar foi, como já exposto, uma multiplicidade de sentidos
e de lugares para a palavra crônica. Esta aparecia nomeando notícias, eventos culturais,
entre outras coisas, mas não nomeava a crônica literária (ou ao menos não servia de
título a ela).
Trata-se de um multiplicidade de sentidos que também comparece nos dicionários.
Eis o que se encontra, por exemplo, no verbete “crônica” do dicionário de Francisco
Fernandes de 1953: “narração histórica, segundo a ordem dos tempos; noticiário dos
jornais; comentários literários e científicos, que preenchem periodicamente uma seção
de jornal; (fig.) biografia escandalosa”. Aí se tem a menção à literatura, mas, não uma
menção à crônica enquanto gênero literário.
No período em questão, o que se observa é, pois, uma tensão na nomeação da crô-
nica literária: esta não é nomeada ostensivamente, mas indicada em outros textos jorna-
lísticos (ou auto-indicada). Vale observar que data deste período o reconhecimento da
crônica como gênero literário.
Por ora, importa notar que, em relação aos sentidos de crônica nos jornais dos a-
nos JK, o que se nomeia como crônica ainda não se encontra na formação discursiva do
campo da literatura e sim o que se acha na formação discursiva do território jornalístico.
Continuando a refletir sobre a flutuação do termo crônica, vale notar que esta flu-
tuação corresponde a uma fluidez da materialidade textual do tecido cronístico, isto é,
daquilo o que se está entendendo como crônica literária.
É vário o material que se encontra nas crônicas literárias. À guisa de exemplo, na
coluna quase diária de Manuel Bandeira, assumido e reverenciado como cronista, a-
cham-se produções como versos, cartas abertas a amigos, resenhas de livros, além de,
entre outras coisas, textos que se constroem a partir da vida hodierna ou do aconteci-
mento noticiado. Na coluna de outros cronistas, como é o caso de Carlos Drummond de
Andrade, por exemplo, encontram-se também cartas de leitores.
Ou seja, há uma fluidez no tecido cronístico, fluidez que tem vinculações na
origem do gênero, e que joga com a flutuação do termo crônica em diferentes textua-
lidades.
Em suma, o que a diversidade do tecido cronístico literário permite observar é a
fluidez como marca de um funcionamento discursivo do que à época começa a ser apon-
tado como gênero cronístico.
Vejamos brevemente um pouco do percurso histórico da crônica.

IDIOMA 23
45
Um pouco da história da crônica
No Brasil, quando um escritor passa algum tempo sem ter o seu nome
nos jornais, corre o risco de ser tomado por um autor do século passa-
do, se não esbarra mais longe ainda, no meio dos conterrâneos de
Claudio Manoel da Costa ou Gregório de Matos. (Josué Montello,
"Regresso de um cronista", JB, 17/9/57)
Embora há muito tempo aqueles que praticassem a escritura da crônica literária já
refletissem sobre o que seria uma crônica literária, teria sido em 1958, conforme Resen-
de (2001, 36), com Portella, no livro Dimensões (1959), um dos primeiros reconheci-
mentos pela crítica literária do material cronístico como gênero literário. Em outras pa-
lavras, pode-se situar a partir dessa época um processo de discursivização da crônica
como gênero literário.
É oportuno destacar que o início de uma reflexão sobre esse objeto na literatura
não vem, contudo, desacompanhada de um fenômeno de publicação de crônicas jorna-
lísticas em livros, conforme se lê em Portella (p. 103), nem de uma intensa produção
cronística nos jornais tampouco de uma intensa produção jornalística.
São inúmeros os jornais postos em circulação à época (e que desaparecerão na dé-
cada seguinte, cf. Sodré, 1999) e a figura do escritor encontra-se aí profundamente mar-
cada. Um dos motivos é que data também deste período o “início da era dos suplemen-
tos culturais e literários” (Resende: 2001b, 12), vindo a reboque das revistas também
literárias.
São inúmeros, pois, os escritores que escrevem na imprensa; são muitos os cronis-
tas presentes nos jornais. À guisa de ilustração, no quadro a seguir encontra-se um pai-
nel dos cronistas do Jornal do Brasil e do Correio da Manhã. Nele, estão sendo consi-
derados aqueles que escrevem com regularidade nos jornais listados e não estão sendo
consideradas participações eventuais, como é o caso, entre outros, das crônicas esporá-
dicas de Fernando Sabino ou de Ledo Ivo no Correio da Manhã, sendo comum uma
circulação entre escritores e jornalistas, já que e possível serem encontrados cronistas de
um jornal escrevendo esporadicamente em outro jornal.
Ou seja, o quadro contempla o escritor ou o jornalista que comparece com fre-
qüência em um jornal e que é apontado ou que se assume como cronista ainda que a
posição de cronista seja eventual (como é o caso de Odylo Costa Filho, por exemplo) ou
ainda que possa ter outra posição discursiva (como é caso de Ferreira Gullar, por exem-
plo). O quadro não contempla o jornalista que aparece eventualmente em um jornal,
caso o fizesse, seria deveras extensa a listagem a ser apresentada.
JORNAIS CRONISTAS
Jornal do Brasil
Manuel Bandeira, Josué Montello, Ferreira Gullar, Otto
Prazeres, Fernando Sabino, Múcio Leão, Benjamim
Contallat, José Carlos de Oliveira, Chermont de Brito,
Ma. Rita, Mário Pedrosa, Marco Aurélio de Matos, Tris-
tão de Athayde, Odylo Costa Filho
Correio da Manhã
Carlos Drummond de Andrade
Obs.: Otto Maria Carpeaux escreve para o Correio da
Manhã, embora nem sempre crônicas. Quando o faz,
esporadicamente, ela aparece aos sábados, na página
literária e não na página do editorial, o que é uma exce-
ção à época.

IDIOMA 23
46
Para se ter uma noção do que se encontra escrevendo na posição de cronista, gros-
so modo, em alguns dos outros jornais do período JK, eis o quadro a seguir:
JORNAIS CRONISTAS
Diário de Notícias Rubem Braga, Joel da Silveira, Eneida, Gustavo Corção
Diário da Noite Guilherme de Figueiredo, Fernando Lobo
Diário Carioca Saldanha Coelho
Última Hora Stanislaw Ponte Preta
Tribuna da Imprensa Alberto Deodato, Ledo Ivo
Jornal do Commercio Dinah Silveira de Queiroz
Obs.: No jornal O Globo, um cronista importante até 1957 era José Lins do Rêgo. Mas vale
registrar que ao jornal O Globo não se tem acesso na Biblioteca Nacional.
Se há inúmeros cronistas no jornal, a presença do literato nos jornais não é, toda-
via, nova ao jornal, não vem tampouco desse período, nem se restringe à posição de
cronista ou de crítico. O literato já era figura presente e deveras atuante no jornal brasi-
leiro, inclusive como jornalista. Conforme Sodré (1999), no século XIX, era o literato o
responsável pela “forma difícil, empolada” com que era redigido o noticiário (p. 283).
Forma que desaparece no início do século seguinte com a entrada do tema político, que,
segundo o mesmo autor, começa a neutralizar a linguagem literária (p. 323) – em outras
palavras: começa a “limpá-la” dos excessos. Sobre a mudança da escritura, em Abreu
(1996, 15) encontra-se: “a linguagem tornou-se mais objetiva, a notícia passou a ocupar
maior espaço que a opinião.”
O que tal processo permite observar é uma disciplinarização dos saberes e dizeres.
Ou melhor, trata-se de uma divisão da escrita que se efetua na prática jornalística: de
um lado, um saber/dizer que se neutraliza, que se pretende sem excessos, que trabalha a
clareza dos sentidos; de outro, um saber/dizer que permite o acréscimo, os jogos de pa-
lavras, a metáfora, os “outros” sentidos. Divisão que irá também instaurar espaços dife-
rentes para os saberes/dizeres.
Portanto, imprensa e literatura se misturavam desde o começo da prática jornalís-
tica no Brasil e isto, segundo Sodré (ibidem), porque os “homens de letras buscavam
encontrar no jornal o que não encontravam no livro: notoriedade, em primeiro lugar; um
pouco de dinheiro, se possível” (p. 292).
No período em que está sendo estudado (governo JK), a presença dos literatos não
apenas é bastante forte nos jornais como ganha um espaço: os suplementos literários.
Importa destacar que a criação dos suplementos literários irá possibilitar a instituição de
um lugar específico, e de destaque, para o literato. À guisa de comentário sobre a impor-
tância dos suplementos literários à época, basta lembrar que eles foram palco de mani-
festos concretistas – em 1957, o manifesto pela poesia concreta foi lançado no suple-
mento literário do Jornal do Brasil – e de debates sobre a construção de Brasília.
No entanto, trata-se de lugar “fora” do jornal, isto é, o suplemento literário consis-
te em um caderno a mais, um anexo ao jornal. A esse respeito, inclusive, cabe mencio-
nar a importante polêmica travada entre Nelson Werneck Sodré e Silviano Santiago
(Abreu: 1996, 20) sobre o destaque dado à literatura com a criação dos suplementos.
Para Sodré, a criação de tais suplementos indicaria que a arte e a literatura não eram
consideradas como algo importante, e sim como algo a ser lido e pensado em períodos
de ócio (os suplementos saíam aos sábados ou domingos e não diariamente, Sodré ar-
gumenta). Para Santiago, a criação de um suplemento literatura já é um indicador da

IDIOMA 23
47
importância que o material literário começava a possuir à época. Para acirrar esta dis-
cussão, Abreu (1996) lembra que o cientista estava ausente dos suplementos.
Voltando, porém, aos suplementos: neles, encontram-se contos, novelas, poesias,
crítica literária, por exemplo. Mas não a crônica. Esta só eventualmente (e experienci-
almente) aparece no suplemento literário. Não é o seu lugar. Seu espaço no jornal é no
primeiro caderno; sobretudo na página do editorial.
Ainda uma observação sobre os suplementos literários e a crônica. Foi dito que os
suplementos constituíram um importante espaço de debate ente intelectuais, foi dito
também que a crônica só eventualmente aí comparecia. No entanto, importa lembrar que
o suplemento literário do Jornal do Brasil, conhecido como SDJB, criado em 1956,
contou com um cronista, José Carlos de Oliveira. Por ter sido um caso que não se ob-
servou em outros jornais, e por não ter a crônica saído da página do editorial, tampouco
os cronistas que lá se encontravam mudaram seu espaço para os suplementos, estou
considerando não ter sido o suplemento o espaço da crônica.
Portanto, o que se tem na imprensa dos anos JK é a instauração de um espaço para
a literatura com a elaboração de um outro caderno: os suplementos literários. A crônica,
ainda que alguns suplementos literários de alguns jornais venham a comtemplá-la, não
perde seu espaço no corpo do jornal e ao lado do editorial. Ela aí permanece; não é
transferida para este outro espaço que surge.
Isto posto, resta dizer que a crônica percorreu uma travessia interessante: de roda-
pé no século XIX para figurar ao lado do editorial e das colunas dos articulistas; de her-
deira do espaço do folhetim a destaque no alto de uma página em que o jornal expõe sua
posição. Expliquemos.
A crônica jornalística brasileira começa a ser engendrada ainda no século XIX, ou
mais especificamente, por volta de 1854. Cândido (1992), em seu conhecido artigo “A
vida ao rés do chão”, nos fala de seus primórdios: originária do folhetim, ocupando um
espaço ao pé da página, uma seção do jornal Correio Mercantil do Rio de Janeiro, de-
nominada “Ao correr da pena”, assinada por um importante escritor brasileiro, José de
Alencar, começa a dar forma ao que vai ser apontado como um novo gênero. Dito de
outra maneira, a partir daquela seção, do que vai se dizer dela e das outras que a se-
guem, inicia-se um processo de leitura/escritura do que virá a ser significado como crô-
nica brasileira.
Portanto, o espaço dedicado à crônica era o do folhetim que figurava no rodapé do
jornal. E, vale lembrar, tratava-se de um espaço, conforme Resende (2001), destinado a
mundaneidades ou eventos culturais. Com o tempo foi configurando uma outra forma
de dizer.
Em suma, a crônica, difícil de ser caracterizada, até porque polimórfica, como o
espaço a ela destinado, vai tendo suas marcas fixadas a partir da forma como se a escre-
ve em confronto com o que seriam as marcas do local onde se instala: o jornal. Melhor
explicando, a crônica vai sendo definida em oposição a algumas das ilusões característi-
cas do discurso jornalístico. Mas isto é assunto de outro trabalho.
Referências Bibliográficas:
ABREU, A. A. Os suplementos literários: os intelectuais e a imprensa. In: --- et alii,
orgs. A imprensa em transição: o jornalismo brasileiro nos anos 50. Rio de Janei-
ro: FGV, 1996.
CANDIDO, Antonio. A vida ao rés do chão. In: --- et alii, orgs. A crônica: o gênero,
sua fixação e suas transformações no Brasil. Campinas-SP e Rio de Janeiro: Ed.

IDIOMA 23
48
da Unicamp e Fundação Casa Rui Barbosa, 1992.
FERNANDES, Francisco Dicionário Brasileiro Contemporâneo. Porto Alegre: Globo,
1953.
ORLANDI, Eni. Discurso e texto, São Paulo: Pontes, 2001.
------. Interpretação. Petrópolis-RJ: Vozes, 1996.
------. Terra à vista: discurso do confronto: velho e novo mundo. Campinas-SP: Cortez
e Ed. da Unicamp, 1990.
------. Discurso e leitura. Campinas: Cortez, 1998.
------. A produção da leitura e suas condições. In: ---. Linguagem e seu funcionamento,
Campinas-SP: Pontes, 1987.
PÊCHEUX, M. Delimitações, Inversões, Deslocamentos. In: Cadernos de Estudos Lin-
güísticos, 19. Campinas-SP: Ed. da Unicamp, 1990.
------. Ler o arquivo hoje. In ORLANDI, Eni, org. Gestos de Leitura. Campinas-SP: Ed.
da Unicamp, 1997.
PORTELLA, Eduardo. A cidade e a letra. In: Dimensões, vol 1. Rio de Janeiro: Agir,
1959.
RESENDE, Beatriz. Rio de Janeiro, cidade da crônica. In: Cronistas do Rio. Rio de
Janeiro: José Olympio, 2001.
------. O Rio de Janeiro e a Crônica. In: Cronistas do Rio. Rio de Janeiro: José Olympio,
2001.
SODRÉ, Nelson W. História da Imprensa no Brasil. Rio de Janeiro: Civilização Brasi-
leira, 1999.
@ @ @ @ @ @
N. do Org.:
Este artigo é produto da pesquisa empreendida pela autora para a formulação do cor-pus da tese de doutoramento intitulada “Dizer a si através do outro: do heterogêneo no identitário brasileiro” e foi apresentado no Congresso da ABRALIN, em março de 2004.

IDIOMA 23
49
RECENSÃO:
JUAN M. LOPE BLANCH – El estudio del español hablado culto. História de
um proyecto. Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1986,
217 p.
Evanildo Bechara (UERJ e ABL)
O conhecido lingüista da Universidade Nacional Autônoma do México reúne no
presente livro toda a documentação que permite elaborar a história do proyecto de sua
autoria que, há quase quarenta anos, tornou realidade o estudo amplo e sistemático do
espanhol falado culto nas principais cidades do mundo hispânico.
O documento inicial que previa a importante pesquisa foi apresentado oficialmen-
te pelo autor a 5 de agosto de 1964 durante a realização, na cidade de Bloomington,
Indiana, do Segundo Simpósio do Programa Interamericano de Lingüística e Ensino de
idiomas (PILEI), instituição cuja meta fundamental é auspiciar amplos projetos de in-
vestigação lingüística que possam, posteriormente, manter-se por si mesmos.
A proposta de 1964 tornou-se una graças ao apoio do PILEI, acrescido de outras
adesões por parte de instituições lingüísticas dentro do mundo hispânico, de modo que
a presente obra, além da história proyecto, é também um balanço dos frutos até então
obtidos. Serve ainda este balanço de lição e experiência não só aos que iniciaram a pes-
quisa e a prosseguem, como àqueles que, entusiasmados por ela e conscientizando-se
de sua necessidade, desejaram juntar-se ao primitivo grupo e encetar investigações no
gênero. Como bem diz o Doutor Lopes Blanch.
Hacer história es labor provechos, por cuanto ensena: y lo es también
porque tales enseñanzas iluminan el futuro y el futuro y ayudan a re-
solver los problemas veñideros. La experiência acumulada durante
más de veinte años porque quienes se han esforzado en llevar por
buen camino esta ambiciosa investigación será de suma utilidad a
quienes han decidido ahora participar en la empresa. (p. 7)
A proposta inicial de Lope Blanch pretendia conhecer melhor o chamado “español
de América”, esse “ilustre desconocido”, do qual ora se faziam comentários constante-
mente desmentidos pela mais superficial investigação, ora se reduzia a vitalidade de
usos lingüísticos só à região estudada, ora se ampliava o espaço geográfico de práticas
restritas a determinadas camadas sociais.
Vale a pena recordar o autor:
“(...) se consideran de uso “general em toda América” frases como son
las onces, hace tiempos, los otros dias, que – en Mexico al menos – no
se oyen nunca; o se considera asimismo “de uso general” la constru-
ción formada por “lo más” + un adjetivo equivalente a muy + ese ad-
jetivo o ese adverbio” (estoy lo más bien, una casa la más linda); y se
juzga que “tienen frecuente uso en todo el território americano las
formas tuviera, llegara, etc. con valor de habla tenido, habla llegado”,
cosa que muy rara vez – por no decir que nunca - se podrá oir en boca
de un americano hispanohablante, ya que sólo se trata de un artificioso
y cursi recurso estilístico, al que recurren periodistas y escritores de
dudoso mérito; o, finalmente, se piensa que el pretérito compuesto, há
cantado, tiene um uso muy restrigido, en favor de la forma simple,

IDIOMA 23
50
cantó, cosa que no corresponde a la realidad”(p.10-11).
Reconhece, todavia, Lopes Blanch que tais erros se deviam à falta de informação
e de pesquisa dos investigadores a quem, a rigor, competia tratar a matéria. Daí impor-
se o apoio ao proyecto apresentado. A pesquisa não vinha colmatar só essa deficiência;
a investigação da língua das grandes cidades – representativas de grande parcela da po-
pulação total do país e pela força de difusão cultural em nível nacional – iria apontar
para uma modalidade standard de cada nação, e, conseqüentemente, trazer resultados
positivos a outras importantes questões, tais como: a) ao ensino escolar; b) à tarefa de
“castellanización” de indígenas americanos; c) ao ensino do espanhol comum – língua
hispânica- como segunda língua de estudantes estrangeiros; d) ao estudo de linguística
comparada. E, dentro da história da língua espanhola, “permitiria llegar al conocimento
más profundo de esa unidad variada o varledad uniforme que es el español, como lo es
también el portugués” (p. 14);
Tais objetivos pesaram na decisão de a pesquisa centrar-se na chamada "norma
lingüística culta", na investigação da fala de pessoas com educação de nível universitá-
rio – ou equivalente – , pondo de lado – pelo menos num primeiro momento – o estudo
da fala de diferentes níveis socioculturais, segundo proposta de Manuel Alvar e de Ana
Maria Barrenechea, na reunião de Madrid.
Aprovado o proyecto, mereceu o imediato amparo das Universidades de Chicago
e Georgetown (Washington), da Asociacion de la Lengua Española – que manifesta seu
desejo de que a pesquisa se amplie ao falar culto atual das demais principais cidades do
mundo lingüístico hispânico (Espanha , Filipinas, etc.), da Oficina Internacional de In-
formación des Español (OPINES).
O capítulo Organización y desarrollo (p. 20-42) dá-nos conta dos passos iniciais:
- da constituição de uma Subcomisión Ejecutiva do proyecto, integrada, em 1986,
durante o III Simpósio do PILEI, em Montevidéu, pelos seguintes professores: Ana Ma-
ria Barrenechea (Buenos Aires), Lidia Contreras e Ambrosio Rabaneles (Santiago de
Chile), José Joaquim Montes (Bogotá), Miguel Ugarte Chamorro (Lima), Humberto
Lópes Morales (La Habana), Juan M. Lope Blanch (Mexico), José P. Roma (Montevi-
deo) e Manuel Criado de Val (Madrid).
- da fixação do objeto da pesquisa: "investigar detenidamente la norma (uso gene-
ral) del habla culta de las diversas ciudades iberoamericanas, confrontandole rigorosa-
mente com las modalidades linguísticas propias de los demás niveles socioculturales de
las grandes ciudades" (depois, como já dissemos, ficou decidido que a investigação de-
veria circunscrever-se à fala culta habitual de cada cidade);
- do alcance da investigação (deveria inicialmente circunscrever-se à fala culta
habitual de cada cidade, estendida a Barcelona, Bogotá, Buenos Aires, La Habana, Li-
ma, Madrid, México, Montevideo e Santiago de Chile, com a esperança de que investi-
gadores de Portugal e do Brasil venham aderir ao projeto “para el estudio paralelo de la
lengua portuguesa”);
- dos aspectos lingüísticos a serem levados em conta (fonética e fonologia; mor-
fossintaxe; léxico e estruturas coloquiais e afetivas);
- da metodologia aplicada; dos aspectos financeiros e da participação brasileira na
pesquisa da fala culta urbana do Brasil.
Os capítulos El proyecto en el Simposio de São Paulo (p. 43-54), em janeiro de
1969 e Nuevos pasos (p. 55-63), relativos a setembro de 1969, são-nos notícia da pes-
quisa no estado em que à época se encontrava, nos diversos centros de investigação a-

IDIOMA 23
51
trás aludidos – incluindo-se as gestões do professor Nelson Rossi, da Universidade da
Bahia, para que cinco cidades brasileiras pudessem aderir ao projeto, e a proposta do
professor Gilles Lefébvre, da Universidade de Montreal, de preparar um projeto para o
estudo do francês falado na América.
Os capítulos subsequentes El Proyecto en el Simposio de Puerto Rico, em 1971
(p. 64-81), Informes sobre el proyecto publicados en el Boletim de la CLI – Comisión
de Lingüística Iberoamericana (p. 107-124), El cuestionário definitivo (p. 95-106), El
tomo de estudios sobre el español hablado em las principales ciudades de América (p.
125-131), Publicación de las encuestas (p. 132-160), El proyecto durante los ultimos
años (p.161-182), El proyecto en el VII Congreso de la ALFAL, em setembro de 1984
(p. 183-215) e a Noticia final (p. 216) – que registra a última adesão assinalada no livro,
a do Dr. Ramón Trujílio, diretor do Instituto de Lingüística “Andrés Bello” da Univer-
sidade de La Laguna, que, com os investigadores do seu Instituto e com o respaldo de
diversas entidades culturais de Tenerife, iria pesquisar a norma lingüística culta de San-
ta Cruz – La Laguna, isto e, de um território que serviu, durante muito tempo, como
laço de união entre Espanha e América e donde partiam contingentes de emigrantes a
povoar extensas regiões do Novo Mundo – finalizam as informações sobre o progresso
do Proyecto e conseqüentes produções científicas através de livros e artigos publicados
em revistas especializadas e anais de congressos e simpósios, numa evidente prova de
que a proposta de 1964 do professor Lope Blanch é hoje uma extraordinária realidade,
graças ao empenho de uma seleta equipe de competentes estudiosos e o apoio de algu-
mas agências de financiamentos e entidades culturais – em alguns lugares menos do que
se desejaria.
Finalmente, cumpre acentuar que o capítulo El Cuestionario definitivo, já aqui re-
ferido, é instrutivo a quem quiser inteirar-se dos princípios metodológicos a serem apli-
cados nesse gênero de pesquisa , porque nos oferece, além dos índices dos três volumes,
um esboço do Cuestionario na sua versão definitiva, revisto pela Subcomissão Executi-
va do Projeto e, publicado pelo Consejo Superior de Investigaciones Científicas por
proposta dos professores Manuel Alvar e Antonio Quilis.
@ @ @ @ @ @

IDIOMA 23
52
RECENSÃO:
FRANCISCO DA SILVA BORBA – Dicionário de usos do Português do Brasil.
São Paulo: Ática, 2002, 1674 p.
ERROS E PECADOS EM NOSSA COMUNICAÇÃO
Francisco Gomes de Matos (UFPe)
Uma das lições da Lingüística é a de que, a rigor, uma língua só é língua quando
usada em contexto(s), por usuários diversos, nativos e não-nativos. A igualmente impor-
tante área da Lexicografia compartilha desse princípio e – segundo a natureza de sua
criação, o público visado e o estado da arte-ciência lexicográfica – vem contribuindo
para o desenvolvimento do que David Crystal em sua inspiradora The Cambridge Ency-
clopedia of Language (2ª ed., 1997) perceptivamente chama de identidade contextual.
Embora a tradição de Dicionários de Uso(s) tenha surgido no século anterior em
alguns países (cf. M. Moliner, Diccionario del uso del Español, 2 vols., Madrid: Gre-
dos, 1966), no Brasil ela tem início com a publicação deste volume, fruto de trabalho do
incansável e produtivo Borba, auxiliado por uma equipe de cinco competentes colabo-
radores ,dentre os quais Maria Helena de Moura Neves, autora de Gramática de Usos
do Português, UNESP, 2000.
Registre-se que o lingüista de Araraquara tem a seu crédito outro pioneirismo: o
Dicionário Gramatical de Verbos do Português Contemporâneo do Brasil (São Paulo:
UNESP, 1990) e destaque-se que a edição de texto foi confiada à versátil Maria Eliza-
beth Leuba Salum, nesta data doutoranda na USP.
O DUP contém Nota do Editor, Apresentação (objetivos, organização da nomen-
clatura, base gramatical, organização dos verbetes, especificidades e estrutura do dicio-
nário), Abreviaturas, Corpus (1653 p), Siglas, Expressões latinas e Lista geral das siglas
do corpus principal. Na Nota do Editor, somos informados de que se trata de "um dicio-
nário da língua escrita no Brasil na segunda metade do século XX", com base num cor-
pus "de mais de 70 milhões de ocorrências de palavras em textos de literatura romanes-
ca, dramática, técnica, oratória e jornalística, com absoluta predominância desta última".
Por fim, um dado de interesse sociolingüístico: o dicionário faz "anotação de registro de
usos: coloquial, chulo, grosseiro, solene, etc. além dos regionalismos, sempre que pos-
sível" (p. v).
Como oriento cursos de Português para nativos e não-nativos, resolvi testar a pos-
sível dupla utilidade do DUP. Assim, verifiquei como os usuários nativos poderiam
beneficiar-se através da consulta a substantivos em -idade e encontrei a devida contex-
tualização de vários itens lexicais, dentre os quais: afabilidade, comunicabilidade, dese-
jabilidade, empregabilidade, interatividade, interculturalidade, intertextualidade, rever-
sibilidade, tradutibilidade. Como usuários não-nativos precisam saber usar frases feitas
com verbos de alta freqüência (dar, estar, fazer, pôr, ser, ter), procurei exemplificação
para expressões do tipo "dar pano para as mangas", "estar numa boa", "fazer uma va-
quinha", "põr o carro adiante dos bois", "era uma vez", "ter graça" (no sentido de ser
engraçado) e as encontrei e muito mais. Acostumado a trabalhar o contínuo da variação
dos usos com o conceito-termo informal, não o encontrei, na listagem das abreviaturas.
Em seu lugar: coloquial. Em comunicação pessoal, sobre essa opção terminológica,
Borba esclareceu : "Não há nenhuma razão especial por termos escolhido coloquial em
vez de informal. Só nos pareceu que coloquial marca ou remete melhor à proximidade

IDIOMA 23
53
da fala do dia-a-dia". A consulta ao verbete "coloquialismo" no DUP revela: "estilo de
linguagem informal" (354), por isso, exercemos nosso direito de questionar a opção por
"coloquial", pois o continuum de usos da língua falada/escrita pode ser descrito em ter-
mos de formalidade e informalidade, prática cada vez mais adotada na lexicografia atu-
al. Assim, na orientação aos usuários sobre usos de "a gente", o DUP esclarece que
"equivale ao pronome pessoal nós" (766), mas não atribui àquela locução o valor socio-
lingüístico de informal.
Uma obra extensa e minuciosa como esta só pode ser apreciada através de seu uso
efetivo e afetivo (cf. os verbetes humanizar, humanizador, humanizável, p. 874),
considerando-se o imenso esforço intelectual de seus criadores e o serviço inestimável
que prestaram aos que usam o português nativamente e aos que estão a aprendê-la como
segunda língua ou língua estrangeira. Professores e pesquisadores encontrarão no DUP
muitos dados de interesse – desde a informatividade lexicogramatical (com razão os
autores se referem a cada verbete como "uma minigramática do item lexical", p.vii) à
escolha das fontes exemplificadoras do uso em contexto.
Dada a crescente importância da variedade jornalística de Português, a visibilida-
de dos usos lingüísticos em revistas e jornais fica bem mais saliente,graças a este opor-
tuníssimo dicionário. Quem trabalha na área da Lingüística certamente irá examinar os
verbetes referentes a língua, linguagem, lingüista, lingüística, sociolingüística, psico-
lingüística.
Em suma, que os leitores façam bom emprego, ou mais atualizadamente, bom uso
desta contribuição brasileira à educação em língua portuguesa.
@ @ @ @ @ @
N. do Org.: Texto disponível na Revista DELTA, Revista de Documentação de Estu-
dos em Lingüística Teórica e Aplicada. PUC-SP: vol. 18, no 2, 2002, p. 356-7.

IDIOMA 23
54
Este número de IDIOMA homenageia a memória
de um dos fundadores do Centro Filológico Clóvis Monteiro,
Professor JAIRO DIAS DE CARVALHO (1927-2003),
falecido no dia 3 de maio de 2003.
"Desbravador acadêmico e administrativo, nome obrigatório na histó-
ria dos cursos de Letras em nosso Estado, Jairo nunca se furtou a dar
sua contribuição de trabalho à UERJ." (Claudio Cezar Henriques)