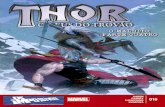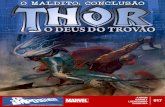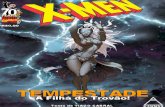O “X” da questão - Como ter um PCMAT Proativo - Nelma Araújo
NA TESSITURA DA MEMÓRIA: narrativas do bairro Cachoeirinha · Aos colegas de trabalho da Una meu...
Transcript of NA TESSITURA DA MEMÓRIA: narrativas do bairro Cachoeirinha · Aos colegas de trabalho da Una meu...

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS
NA TESSITURA DA MEMÓRIA: narrativas do bairro Cacho eirinha
WÂNIA MARIA DE ARAÚJO
Belo Horizonte 2010

WÂNIA MARIA DE ARAÚJO
NA TESSITURA DA MEMÓRIA: narrativas do bairro Cacho eirinha
Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais como requisito parcial para a obtenção do título de Doutor. Linha de Pesquisa: Cultura Urbana e Modos de Vida Orientadora: Prof. Dra. Magda de Almeida Neves
Belo Horizonte 2010

FICHA CATALOGRÁFICA Elaborada pela Biblioteca da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
Araújo, Wânia Maria de A658t Na tessitura da memória: narrativas do bairro Cachoeirinha. / Wânia Maria
de Araújo. Belo Horizonte, 2010. 238f.: il .
Orientadora: Magda Almeida Neves Tese (Doutorado) – Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais,
Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais Bibliografia. 1. Grupos sociais. 2. Memória Coletiva. I. Neves, Magda Almeida. II.
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Programa de Pós- Graduação em Ciências Sociais. III. Título.
CDU: 308(815.11)
“Revisão Ortográfica e Normalização Padrão PUC Minas de responsabilidade do autor”

“Na Tessitura da Memória: narrativas do bairro Cachoeirinha”
Wânia Maria de Araújo Tese de doutorado submetida à banca examinadora designada pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, como parte dos requisitos necessários à obtenção do grau de Doutor em Ciências Sociais. Aprovada, em 09 de julho de 2010 Por:
__________________________________________________ Prof. Dra. Magda de Almeida Neves
Orientadora – PUC Minas
__________________________________________________ Prof. Dr. Edson Farias
UNB
_________________________________________________ Prof. Dra. Regina Helena Alves
UFMG
_________________________________________________ Prof. Dra. Luciana Andrade
PUC Minas
_________________________________________________ Prof. Dr. Otávio Dulci
PUC Minas
_________________________________________________ Prof. Dr. Tarcísio Rodrigues Botelho
PUC Minas

Para minha mãe, Walderes,
pelo seu modo de viver provinciano, próprio de suas origens, que tanto nos acolhe e suaviza nosso dia-a-dia
na cidade grande e urbana.

AGRADECIMENTOS
Primeiramente agradeço a CAPES pela concessão da bolsa de estudo que viabilizou a
realização deste trabalho.
À Prof. Regina Helena Alves da Silva pelas considerações e sugestões no exame de
qualificação.
À Prof. Magda de Almeida Neves, minha querida orientadora, muito obrigada pelas
sugestões (que foram tantas), pelas leituras (por vezes tão em cima da hora), pelo carinho e pela
atenção, não só ao meu trabalho, mas pelos detalhes do cotidiano. Muito, muito obrigada!!
À Prof. Juliana Gonzaga Jayme, minha grande amiga, pela leitura cuidadosa no exame de
qualificação, pelo interesse e acompanhamento de todo este trabalho, pela revisão e sugestões,
principalmente, nessa reta final e por tudo que temos partilhado nesses anos todos. Só posso dizer
muito obrigada!
Aos demais professores do Programa que sempre foram dedicados e atenciosos, muito
obrigada!!
À Ângela que sempre nos orientou com carinho sobre todas as questões acadêmicas e
burocráticas., obrigada!
Minha mãe foi presença constante durante todo esse percurso, tantos almoços, tantos
cochilos, tantas conversas e uma preocupação com a conclusão dessa etapa. Muitíssimo obrigada,
minha querida mãezinha, por toda atenção, pelo carinho e por esse amor tão imenso que nos
acompanha.
Ao meu pai, mesmo com sua compreensão, por vezes confusa, do que é esse trabalho foi
também presença cotidiana. Sua memória, mesmo que já não seja tão viva, permitiu que
partilhasse comigo algumas lembranças sobre o Cachoeirinha.
Minhas irmãs queridas são jóias na minha vida, tanto no sentido mineiro de serem pessoas
de bem e estarem sempre prontas para partilhar nossos amores, sonhos e dores como também
porque são as mães das minhas pérolas e rubis. Para as meninas, meu muito obrigada!!
Aos meus irmãos, por suas presenças, mesmo que, por vezes, distanciadas e silenciosas,
mas sei que a torcida existiu. Obrigada, também pelas pérolas!
Aos meus sobrinhos Thiago (meu número 1), Pedro (quase advogado, que beleza,
heim?!), João Victor (geólogo do futuro), vocês são meus rubis! Às minhas sobrinhas Maíra (que

saudade!!), Lucila (já é enfermeira!!), Jéssica (já quer casar, veja só!), Gabi (só namorar!!), Luíza
(minha princesinha, sempre!!) e Maria Clara (a novidade mais fresca!) essas são minhas pérolas.
Muito obrigada pela alegria que a companhia de vocês me traz!!
Aos meus tios Milton e Eulina porque são sempre imbatíveis no acompanhamento de
nossas vidas. Impossível não agradecer MUITO a vocês pela presença, pelo carinho e pelo amor.
Ao meu cunhado Ênio por ter me socorrido tantas vezes e em situações diversas, mas
sempre com a mesma atenção e cuidado. Obrigada!!
À minha prima Olívia pelas informações sobre o bairro e pelas dicas de contatos. Muito
obrigada!
À Márcia minha amiga-irmã que também partilhou comigo essa trajetória, obrigada pelas
tardes de quarta-feira, pelos almoços com os meninos e por todas as nossas conversas que muitas
vezes não têm fim. Muito obrigada, amiga!!
À Luizinha e Eduardo, meus afilhados queridíssimos, que me permitiram deixar o
trabalho de lado para que eles ocupassem o dia, a tarde, o final de semana. É maravilhoso ser a
Dinda de vocês, meus lindinhos.
Minhas queridas amigas, mesmo que tenhamos nos encontrado pouco nesses últimos
tempos, vocês moram no meu coração e lá não tem porta aberta para vocês saírem. À Gui o meu
muito obrigada pela preocupação amiga e por partilhar desde o início as alegrias e os apertos.
Haydée, obrigada pela amizade de sempre, que saudade dos passeios de domingo!! Lu pela casa e
coração grandes para nos receber a qualquer hora. Lucinha e Ré que tenho certeza fizeram torcida
desde sempre; a Civitas ainda existe, não é mesmo!!
À Dani que sempre esteve por perto e que trouxe a Dora para nos divertir e alegrar. Muito
obrigada, Dani!!
À Ângela, Mônica e Guga pelos encontros do bandinho, mesmo que eles não aconteçam
com a frequência que gostaríamos. Valeu, amigas! Nossos encontros são sempre muito bons!!!
À Alexandra pela amizade que também não tem mais como deixar de existir. Muito
obrigada, amiga, pelas conversas que muitas vezes desafogaram as dores e outras tantas fizeram
rir bastante!!
Aos meus colegas de turma do doutorado pela oportunidade que tivemos de ser alunos no
mesmo lugar, ao mesmo tempo e podermos dividir essa parte de nossas trajetórias. Foi muito
bom ter tido a companhia de vocês! Hila, nossa primeira doutora, tem sido fiel escudeira na vida

da escola e fora dela; Rachel, a outra amiga doutora que está quase a ser uma portuguesa também
aparece com constância, mesmo que só no mundo virtual; o Gui também já é doutor e sua
presença ganhou a novidade de sermos colegas de classe, foi bom, né, Gui?! A Michele, a
próxima doutora, também iluminou nossas aulas e encontros fora dela com sua simpatia e beleza.
A Antônia, mais presente no começo do curso, está muito sumida, cadê você?
Aos colegas de trabalho da Una meu muito obrigada: Fabiana, Daniela, Nelma, Dânia,
Joana, Piedra, Roberto, Trovão, João, enfim, todo mundo. Especial obrigado ao Reinaldo,
morador do Cachoeirinha que foi informante precioso e sempre interessado pelo andamento do
trabalho. Muito obrigada, Reinaldo, pelas conversas esclarecedoras, pelos contatos no bairro e
pela companhia no trabalho. Ao André, ao Mário, ao Flávio e mais recentemente ao Edson,
companheiros de caminhada na UEMG, muito obrigada pela companhia às quartas-feiras.
Ao Andrey por me apresentar uma das moradoras do bairro que foi uma das facilitadoras
da minha entrada no bairro Cachoeirinha e pelo auxílio com o mapa. Obrigada!!
À Arminda que cuida de mim e da minha casa. Muito obrigada!
Aos moradores do Cachoeirinha que me acolheram em seu bairro e me receberam em suas
casas meu IMENSO OBRIGADA. Sem vocês eu não teria conhecido de forma tão especial esse
pequeno mundo de Belo Horizonte.
Ao Antônio “Cebola” Borges que com sua alegria infinda contaminou com força esses
meus últimos anos fazendo com que essa caminhada se tornasse menos árdua, menos árida e mais
leve. Muito, muito obrigada pela companhia, pelas viagens, pelos vinhos, enfim, pelos prazeres
da vida que temos compartilhado!

Resumo
O objetivo deste trabalho é decifrar os modos de vida dos moradores do bairro Cachoeirinha que
guardam resquícios de um outro tempo e de uma outra forma de ser habitante de uma cidade
como Belo Horizonte. Viver no Cachoeirinha significa experimentar relações comunitárias
expressas em laços de vizinhança estabelecidos por seus moradores que têm um sentimento de
pertença com a cidade a partir da forma como a vida é tecida no bairro. Os traços do
provincianismo presentes no cotidiano desse bairro são visíveis por meio do
conhecimento⁄reconhecimento que seus habitantes têm uns em relação aos outros e que é
exercido por suas práticas espaciais. Isso o caracteriza e também o diferencia de vários outros
bairros da cidade. Como se manteve assim frente às suas mudanças internas e aquelas do seu
entorno? As pistas para responder a questão das permanências frente às mudanças foram
delineadas a partir do entrecruzamento da história de Belo Horizonte com a do Cachoeirinha que
pode ser decifrado como uma das expressões do crescimento da cidade fora dos limites da zona
urbana. Isso, de certa forma, pode ser uma das explicações para o seu modo de viver provinciano.
Além disso, o fato do bairro manter modos de viver mais condizentes com uma cidade pequena
indica que o Cachoeirinha, ao longo do tempo, não absorveu com a mesma velocidade as
mudanças da/na cidade. O bairro ao guardar resquícios de modos de viver referentes a um outro
tempo revela o quanto a urbanidade não é experimentada da mesma forma pelos habitantes de
uma cidade o que, por sua vez, pode ser compreendido como uma fissura ou uma ausência. No
ambiente urbano de uma capital esse bairro existe, mas sem ser visível a todos os seus habitantes,
ele configura-se, então, como um lugar sem visibilidade. Essa particularidade do Cachoeirinha,
sua (in)visibilidade na cidade, foi compreendida como uma forma dos moradores se preservarem
do anonimato, da atitude de reserva prevalecentes no ambiente urbano, como se fosse uma
estratégia identitária para manterem suas relações de afeto e de vizinhança preservadas, seu modo
de viver provinciano. Interpretar as particularidades do bairro Cachoeirinha significou não apenas
decifrar suas tramas, mas realizar uma leitura de Belo Horizonte a partir da forma como alguns de
seus moradores experimentam a vida na cidade. A memória foi não somente um conceito
importante para trabalhar os nexos entre tempos e espaços do passado e suas configurações no
presente, mas também um instrumento metodológico que permitiu recolher os dados sobre as
particularidades do Cachoeirinha por meio do resgate de lembranças.
Palavras-Chave: bairro, memória, modos de vida, invisibilidade.

Abstract
This thesis aims at decoding the ways of life of Cachoeirnha´s neighborhood residents that
conserve vestiges from another time and from other ways of being habitant of an urban city as
Belo Horizonte. Living at Cachoeirinha means that their residents experiment communitarian
relations which are expressed by their neighborhood links. These links reveal their feeling of
belonging to the city by the manner life is arranged in that place. Marks of provincianism are
present in their daily and can be visible by the way the residents know and recognized each others
and the way they execute their spatial practices. This characterizes Cachoeirinha and establishes
its difference from other neighborhoods in town. How Cachoeirinha keeps that way of life despite
all the changes around and inside it? The clues to answer this question were designed from the
comparison between the history of Belo Horizonte and Cachoeirinha´s history because this
quarter could be understood as an expression of the city development beyond its urban area what
maybe indicates its provincianism way of living. Besides this, the maintenance of ways of life
much more concerned with a little city means that Cachoeirinha didn’t assimilate the changes
with the same intensity that they happened in/at the city. While the neighborhood keeps ways of
life related to another time, reveals how urbanity is not experienced as the same by the habitants
of a city and indicates a fracture. This quarter is located in an urban environment, but it’s not
visible to all habitants, so it’s a place with no visibility. Cachoeirinha´s peculiarity of being
(in)visible for the city was understood as the way of residents preserve themselves from
anonymity, from a reserved attitude that rules an urban environment. It’s a kind of identity
strategy to keep their fondness and vicinity relations preserved, their provincial way of living.
Interpret these Cachoeirinha´s peculiarities means not only to decode their woof, but build a
lecture of Belo Horizonte from the way some of their residents live their lives. Memory was
important to deal with past times and spaces and how they are designed today and as a
methodology instrument that allowed gather information about Cachoeirinha´s peculiarities by
the resident’s remembrances.
Keywords: neighborhood, memory, ways of life, invisibility.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES
FIGURA 1 – CIBH .................................................................................................... 82
FIGURA 2 – Mapa 1 . Regionais de Belo Horizonte ................................................ 124
FIGURA 3 – Fábrica da Cachoeirinha .................................................................... 125
FIGURA 4 – Fábrica da Cachoeirinha .................................................................... 126
FIGURA 5 – Rua Aporé entre Itapetinga e Avenida Antônio Carlos ...................... 128
FIGURA 6 – Viaduto no Cruzamento da rua Itapetinga com a rua Operário ......... 129
FIGURA 7 – Córrego da Cachoerinha .................................................................... 131
FIGURA 8 – Avenida Bernardo Vasconcelos após a Canalização do Córrego Cachoeirinha
............................................................................................................. 131
FIGURA 9 – Escola Municipal Eleonora Pierucetti ................................................ 132
FIGURA 10 – Escola Municipal Eleonora Pierucetti .............................................. 132
FIGURA 11 – Mapa 2 Bairro Cachoeirinha e seu entorno ....................................... 181
FIGURA 12 – Antiga Sede Social do Têxtil Futebol Clube .................................... 183
FIGURA 13 – Sede da Cooperativa dos Funcionários da CIBH ............................. 184
FIGURA 14 – Escola Estadual Mariano de Abreu ................................................... 184
FIGURA 15 – Antiga sede dos Correios .................................................................. 185
FIGURA 16 – Prédio onde funcionou a primeira farmácia do bairro ..................... 185
FIGURA 17 – Prédio onde funcionava o armazém do Sr. Mellem ......................... 186

LISTA DE TABELAS TABELA 1 – Distribuição da Espacial da População de Belo Horizonte em 1912 .................... 76
TABELA 2 – População Residente em Belo Horizonte por região administrativa 1991-2000
..................................................................................................................................................... 134
TABELA 3 – População residente em BH por UP -2000 ......................................................... 135
TABELA 4 – População residente segundo idade e sexo, por Unidade de Planejamento Região
Administrativa Nordeste -2000 .................................................................................................. 135

SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO .................................................................................................................. 13
2 INSPIRAÇÕES TEÓRICAS PARA A LEITURA DE BELO HORIZ ONTE E UM DE
SEUS BAIRROS ............................................................................................................. 30
2.1 Simmel e a Cidade: espaço do moderno .................................................................... 32
2.1.1 A Sociologia de Simmel e a Cidade ............................................................................ 38
2.2 A Cidade em Revista: Simmel e o impacto de suas ideias para os autores da Escola de
Chicago – aproximações e distanciamentos ................................................................. 40
2.2.1 Park e a Escola de Chicago: os temas e os métodos de investigação ....................... 44
2.3 Outros Olhares sobre a Cidade .................................................................................... 53
3 PAISAGEM DE UMA CAPITAL: BELO HORIZONTE, SUA ORIG EM E SEU
CRESCIMENTO COMO EXPRESSÃO DA AMBIVALÊNCIA DO MODER NO ..... 63
3.1 O s Ecos da República nas Minas Gerais: a construção da nova capital do estado ..65
3.2 A Inauguração d Belo Horizonte e seus primeiros vinte anos .................................. 72
3.3 As Primeiras Indústrias em Belo Horizonte ............................................................. 79
3.4 Os anos 1930, 1940 e 1950: a ideia de modernização volta aos discursos oficiais da
capital ................................................................................................................................... 83
3.5 A Cidade Planejada e a Cidade real: espaço da ambivalência do moderno? .......... 96
3.6 A Ambiguidade do Moderno na Contemporaneidade: um bairro antigo na moderna
capital mineira? ................................................................................................................... 105
4 O BAIRRO CACHOEIRINHA: HISTÓRIA OFICIAL E A HISTÓ RIA NARRADA POR
SEUS MORADORES ............................................................................................. 108
4.1 O Bairro : em busca de conceituações ..................................................................... 109
4.2 Os Olhares Portugueses sobre alguns de seus Bairros ........................................... 118
4.3 O Bairro Cachoeirinha: aspectos morfológicos e históricos ................................... 122
4.3.1Considerações em torno da regional Nordeste a partir dos dados do Censo de 2000 ........ 133
5 MEMÓRIA E TEMPO: TECENDO LEMBRANÇAS E EXPERIÊNCIA S ............ 137

5.1 Memória: um conceito e um instrumento metodológico .......................................... 138
5.2 Tecendo tramas na cidade a partir da Memória ....................................................... 145
5.3 As primeiras lembranças do bairro Cachoeirinha a partir dos relatos de seus moradores
........................................................................................................................ 149
6 O BAIRRO CACHOEIRINHA E SUA (IN)VISIBILIDADE NA C IDADE .............. 163
6.1 Bairros “Históricos” em Belo Horizonte: definições e características .................. 164
6.2 As Relações de Vizinhança no Bairro Cachoeirinha .............................................. 168
6.3 O Bairro Cachoeirinha: suas marcas e impressões a partir do trabalho de campo 178
6.4 O Passado no Presente: o “envelhecimento” do bairro Cachoeirinha e sua
(in)visibilidade .................................................................................................................. 187
7 CONCLUSÃO .............................................................................................................. 209
REFERÊNCIAS .............................................................................................................. 217
APÊNDICE ...................................................................................................................... 226

13
1 INTRODUÇÃO
Falar da cidade onde nasci e que sempre vivi teve, neste trabalho, um tom de busca de um
tempo e de um espaço, não perdidos, mas por mim não vividos. Com efeito, esse texto inicial de
apresentação do trabalho tem sua escrita relatada temporalmente como um tempo passado. Um
tempo ainda presente no cotidiano de um conjunto de moradores de uma cidade grande mas que
parece um reflexo de um tempo que não mais existe numa metrópole. Assim, a questão que ecoa
ao final deste trabalho diz respeito aos modos de viver o cotidiano. Modos de vida que refletem
relações de vizinhança, relações com o espaço habitado, com a localização na cidade, com
relações comunitárias em uma espécie de cidade pequena na cidade grande e como essa cidade
grande contém esse lugar. Esse lugar é um bairro de Belo Horizonte – o Cachoeirinha – onde
vários de seus moradores que se configuram como sujeitos desta pesquisa possibilitaram
encontros de tempos e de espaços distintos e me “impuseram” reflexões sobre as formas como
tempos e espaços foram experimentados de maneiras tão diversas. Entretanto, devo ressaltar que
a diversidade também me “impôs” reflexões em torno da vida não só em um dos espaços da
cidade, mas em Belo Horizonte.
A princípio o bairro Cachoeirinha me pareceu algo muito distante dos sentidos do meu
cotidiano, da minha experiência na minha cidade, mas ao longo das visitas e conversas nesse
outro lugar de Belo Horizonte, algo foi se revelando próximo e compreensível. Não porque passei
a viver cotidianamente nesse lugar, mas pelos relatos que começaram a me parecer familiares,
pois, de alguma forma, aquele lugar tinha feito parte da minha vida na cidade. Isto pode ser
compreensível porque a princípio seria considerado lógico e pleno de sentido apenas para os
moradores daquele bairro, foi se revelando como fios de uma trama tecida nos dramas que ouvi,
nas alegrias que presenciei serem rememoradas, nas perdas que foram sentidamente relatadas e
nas esperanças que ainda resistem em fazer daquele espaço o lugar de enraizamento, de
pertencimento à cidade e de relações de afeto. A tradução nem sempre foi fácil porque me fez
rememorar nostalgicamente muito de um passado da cidade, mas também me permitiu o
exercício do pensamento para produzir nós, emendar fios, tecer tramas e produzir um novo
sentido diante da experiência de estar no mundo do “outro”.
O tanto que estive presente em outros cotidianos, o tanto que este trabalho se fez presente
no meu cotidiano se traduz, nesse momento, como o início do fim de uma reflexão, de uma

14
tentativa de tradução do emaranhado de fios da vida de moradores de um bairro “escondidinho”
atrás da Avenida Antônio Carlos, “pertinho” da Avenida Bernardo Vasconcelos, há um ”pulinho”
da Avenida Cristiano Machado e tão desconhecido na cidade. Agora tenho que me distanciar,
tenho que fazer o exercício do estranhamento, próprio da antropologia, tenho que enxergar aquela
realidade além do que parece ser como menciona Giddens (2005) ao dizer em que consiste a
sociologia.
Este trabalho constituiu-se, então, como o estudo de um bairro pericentral de Belo
Horizonte denominado Cachoeirinha com o objetivo de, inicialmente, realizar uma leitura da
capital mineira por meio de um de seus bairros que teve como elemento marcante e constitutivo
de sua história a existência de uma fábrica têxtil. Os primeiros dados coletados revelaram que
essa fábrica, a Companhia Industrial de Belo Horizonte – CIBH –, fez parte do grupo das
primeiras indústrias da recém inaugurada capital mineira e, no ramo têxtil, foi a primeira da
cidade. Suas instalações estiveram localizadas por quase trinta anos na Praça da Estação, área
central da cidade. Nos anos 1930, com o aumento da produção, as edificações ficaram exíguas
para o desenvolvimento das atividades de fiação e tecelagem e assim houve a mudança para o
bairro Cachoeirinha.
A partir dessa questão inicial, ou seja, da possibilidade de leitura da cidade por meio de
um bairro que contou com atividades fabris do ramo têxtil, eu acreditava que fosse possível
identificar o quanto a experiência no mundo do trabalho realizada no mesmo lugar que
localizava-se a moradia, seria reveladora do processo de constituição da identidade do bairro e de
seus moradores. Nesse sentido detive meu olhar apenas sobre aqueles sujeitos que tivessem sido
funcionários da CIBH. Entretanto, após os primeiros contatos com esses ex-trabalhadores da
CIBH novas questões se apresentaram à reflexão. A fábrica têxtil esteve presente nos relatos que
recolhi, mas não como elemento fundante e crucial para a identificação dos moradores com o
Cachoeirinha. Frente a essa “novidade” apresentada pelo campo é que meu olhar se deteve em
novas observações do espaço físico do bairro e que outras questões surgiram como orientadoras
das visitas seguintes, questões essas que interpreto mais como desdobramentos de formas
possíveis de leitura de um dos espaços da cidade de Belo Horizonte do que relativas ao fato do
bairro Cachoeirinha ter contado no seu interior com o desenvolvimento de atividades de uma
indústria têxtil.

15
O que comecei a indagar foi se seria possível construir uma interpretação de Belo
Horizonte, uma cidade grande e metropolitana, que comporta um lugar que tem ainda a
predominância de relações comunitárias nas atividades que se desenrolam no seu cotidiano e
como esse modo de viver resiste na cidade. Para tanto, considerei pertinente pensar Belo
Horizonte como cidade grande, moderna, no sentido de Simmel (1987), e que sua região
pericentral abriga o bairro Cachoeirinha, um lugar que guarda características de um modo de
viver que não condiz com o que se preconiza como pertinente a um ambiente de centro urbano.
Então, as perguntas que daí se desdobraram dizem respeito a uma tentativa de decifrar esse lugar
a partir não só de seus elementos morfológicos, mas também do conteúdo das narrativas que
recolhi. Ou seja, o que passou a me interessar foram tanto os aspectos relativos ao espaço físico e
suas edificações, quanto os resquícios da passagem do tempo marcados não só na memória dos
moradores, mas nos prédios das escolas, da própria fábrica e nas edificações que ainda resistem,
mas abrigam atividades diferentes: onde hoje funciona o “sacolão”1 era o local onde aconteciam
os bailes do Têxtil Futebol Clube, por exemplo.
Assim, a partir das novas indagações, a memória que estava presente em minhas questões
iniciais se fez ainda mais necessária, não só como um conceito fundamental para pensar a cidade
e a passagem do tempo, mas como ferramenta metodológica importante para recuperar, tornar
possível o acesso aos conteúdos das histórias rememoradas pelos moradores do Cachoeirinha e
como esses conteúdos relacionavam-se com a forma como o espaço físico do bairro se constituía.
O resgate da memória constituiu-se, então, como elemento fundamental para decifrar o
bairro a partir dos relatos de alguns de seus moradores. Esses relatos, por sua vez, constituíram-se
como um processo de rememorar um tempo passado e, de certa forma, de presentificar esse
tempo por meio da seleção de acontecimentos que me foram contados, da descrição de espaços
físicos que já não existem mais ou mesmo dos espaços que já abrigaram outras atividades e, para
além disso, as referências às relações familiares, de vizinhança e afeto que foram construídas no
Cachoeirinha.
Frente a esse processo de rememorar o tempo e o espaço vividos o que também definiu-se
como uma questão a ser investigada foi pensar uma relação possível entre a história de Belo
Horizonte e a história do Cachoeirinha. Um primeiro ponto que despontou como possível fonte
de nexo entre as duas histórias foi o fato do crescimento da capital mineira ter acontecido
1 Espécie de mercado de hortifrutigranjeiros.

16
diferentemente do que fora previsto pelo plano inicial de Aarão Reis, ou seja, do centro para a
periferia, e o bairro Cachoeirinha configurar-se como um desses pontos de crescimento da cidade
localizado fora da zona urbana. Isto me fez pensar na possibilidade de continuar a leitura da
cidade por meio do Cachoeirinha como um de seus espaços de expansão que se definia como
periferia naquele momento (anos 1920/1930) como lugar distante da zona urbana. Um segundo
plano dessa leitura da cidade a partir de sua expansão para além da zona urbana que poderia ser
elucidativo dos nexos possíveis entre a cidade e o bairro era a freqüente denominação e
interpretação da capital mineira como espaço provinciano, o que não coadunava com a ideia de
cidade moderna que esteve contida no plano de construir uma nova capital para o estado de
Minas Gerais. Se a Belo Horizonte no início do século XX contava com espaços que eram
expressão do progresso e da modernidade e ao mesmo tempo continha um modus vivendi que
mais se assemelhava aos modos de viver interioranos, o bairro Cachoeirinha pode, então, ser
pensado como um espaço fora da zona urbana que não só nos seus anos iniciais conteve uma
forma provinciana de organizar os espaços e as relações entre seus moradores, mas que,
diferentemente da capital que muito se expandiu e ganhou ares de metrópole, o Cachoeirinha, de
certa forma, ainda preserva marcas desse provincianismo. Da questão inicial e mais ampla de
leitura da cidade por meio de um dos seus bairros, o desdobramento que surgiu foi a partir dessa
leitura compreender as peculiaridades de sua história e em que medida as particularidades do
surgimento e crescimento do Cachoeirinha estabelecem cruzamentos possíveis com a história da
cidade de Belo Horizonte como também identificar se tais particularidades são importantes para
compreender a manutenção dos modos de viver o cotidiano que ainda se aproximam de formas de
relações comunitárias em centros urbanos. A ideia é pensar como um centro urbano contém
marcas de provincianismo que podem ser lidas por meio de um de seus bairros.
Mais uma interrogação apareceu: como o bairro manteve ao longo do tempo os ares
interioranos, ou melhor, como o bairro até hoje pode ser descrito a partir de referências mais
relacionadas às relações comunitárias do que societárias? Será que o Cachoeirinha permaneceu o
mesmo com a passagem do tempo? Evidentemente que não. Isso me fez pensar como o bairro
Cachoeirinha, frente a uma paisagem que não se alterou radicalmente, mas sofreu os impactos
das alterações dos espaços no seu interior e do seu entorno, ainda preserva um modo de viver no
qual prevalecem as relações de vizinhança, de compadrio, de afeto e de familiaridade com o
espaço ocupado. A leitura da cidade continua, só que a partir de um conjunto de esquinas e de

17
ruas que não somente se configuram como lugares de trânsito e de passagem, mas que podem ser
definidas como espaços de pertencimento e de localização na cidade. A partir dessa perspectiva o
exercício de pensar o bairro na cidade passou a ser um exercício de interpretar os sentidos que os
moradores do Cachoeirinha estabelecem com o espaço ocupado que, para muitos deles, é o
espaço construído de uma vida inteira.
Diante da forma de identificação e do sentimento de pertença ao lugar, os moradores do
Cachoeirinha também me fizeram indagar sobre o que aconteceu e o que ainda acontece para que
a ideia de enraizamento ao bairro permaneça tão forte. A possibilidade de dar continuidade à
leitura da cidade e do urbano por meio dessa indagação me levou a refletir em torno das
permanências e mudanças ou das permanências frente às mudanças. Belo Horizonte construiu um
novo formato de paisagem urbana ao longo dos seus 112 anos o que implicou em ampliação e
adensamento dos espaços ocupados, abertura de novas vias de tráfego, construção de
equipamentos urbanos, enfim, foram realizadas obras de infra-estrutura frente, inclusive, às
demandas da população que lhe conferiram um novo desenho e formas de sociabilidade que mais
se aproximam do ideário de uma cidade grande e moderna. Mesmo fazendo parte desse cenário, o
bairro Cachoeirinha que está localizado entre avenidas de trânsito intenso, ainda mantém certas
atividades e formas de comportamento e relações entre seus moradores que pouco se alteraram ao
longo do tempo. Sendo assim, a questão que aqui se delineou diz respeito a identificar o que
efetivamente foi alterado na paisagem morfológica do bairro e em que medida essas alterações
impactaram o modo de viver de seus moradores, ou seja, identificar o que permaneceu frente às
mudanças.
Por fim, a questão que conferiu um encerramento dessa leitura e que, de certa maneira, me
acompanhou durante as visitas ao bairro, estando também muito presente ao longo da construção
deste trabalho, pode ser definida a partir da ideia de invisibilidade. Inicialmente, esta questão se
fez presente pelo fato de, ao ser indagada por amigos, colegas e familiares sobre a pesquisa que
realizava foi recorrente, entre aqueles que diziam conhecer o bairro Cachoeirinha, alguma
confusão em relação à sua localização na cidade, bem como em relação à identificação do bairro
que foi muito confundido com um dos bairros vizinhos, principalmente o Renascença, que
também abrigou uma fábrica têxtil. Comecei a perceber que, por vezes, as pessoas que diziam
“conhecer” o bairro, queriam dizer que sabiam, efetivamente, que esse bairro existia em Belo
Horizonte, mas onde é mesmo que ele se localiza? Percebi que essa dificuldade de localizar e

18
identificar o bairro na cidade pode ter relação com uma questão geográfica, visto que o
Cachoeirinha fica entre a Avenida Antônio Carlos e a Cristiano Machado, mas delas não é
possível vê-lo, é como se ele estivesse escondido mesmo e, assim, impossível de ser pelo menos
visto pelos “outros” habitantes da cidade. Isso talvez contribuísse para que ele se tornasse
invisível para a cidade.
Outro fato que pode evidenciar o caráter de invisibilidade do bairro diz respeito aos
serviços existentes. Como existe demanda por determinados serviços que não são disponíveis no
bairro, os moradores se deslocam para outras localidades próximas, mas o inverso não acontece
Dessa forma, é como se os moradores do Cachoeirinha ficassem “guardados”, “protegidos” no
seu interior, sem se mostrarem para os “outros” não moradores do local. Diante dessa
peculiaridade, a questão da invisibilidade desenhou-se como uma possibilidade de compreender
porque aquele bairro de Belo Horizonte localizado em sua região pericentral, que indica a sua
proximidade ao centro da cidade, é tão desconhecido. A dúvida que permanecia era se a ideia de
“invisibilidade” poderia ser pensada como um dos elementos que permite ao bairro manter as
relações de vizinhança, o estabelecimento de laços fortes com o lugar, do sentimento de
pertencimento e localização na cidade; a permanência frente às mudanças.
Frente a essas indagações, o caminho percorrido para buscar fios que indicassem pistas
para interpretá-las foi construído num primeiro momento a partir de considerações mais gerais
sobre como as cidades urbanas foram caracterizadas, com destaque para as pontuações de
Simmel (1997) e como elas foram, inicialmente, investigadas, tomando como referência alguns
autores da Escola de Chicago. Assim tem início o primeiro capítulo, mas como se explica esse
ponto de partida? A ideia de começar a análise com a temática da caracterização do habitante de
uma cidade grande coadunava com uma das questões que fez parte do trabalho: Belo Horizonte,
cidade urbana, conteve em sua história marcas de um modo de viver provinciano não condizente
com o que esteve prescrito no seu projeto inicial de construir uma nova capital do estado de
Minas Gerais que fosse a expressão dos novos tempos republicanos experimentados no país.
Mesmo com seu crescimento e a passagem de um século de existência essa característica de que a
capital mineira ainda conserva ares provincianos é recorrente. Observa-se então que a
ambivalência do moderno esteve/está presente no cenário de Belo Horizonte e que, inclusive, o
bairro Cachoeirinha pode ser uma expressão dessa ambivalência, por isso partir das
considerações de Simmel sobre o habitante da cidade grande e urbana.

19
Alguns autores da Escola de Chicago aparecem também no primeiro capítulo como forma
de elucidar as primeiras perspectivas teóricas e metodológicas de análise da cidade no cenário
urbano. Dessa forma, apresentar certas considerações em torno de suas produções, em especial os
trabalhos de Park, se fez no sentido de tornar profícuo o diálogo entre a caracterização de Simmel
(1987) em torno do homem urbano e como os vários homens urbanos de Chicago nas primeiras
décadas do século XX foram pesquisados e analisados. Outro argumento que também justifica a
presença desses autores de Chicago no início do trabalho é relativo a um olhar mais detido em
torno dos procedimentos metodológicos utilizados nas pesquisas ali realizadas. Isto porque, dado
o fato que nas primeiras décadas do século XX a Escola de Chicago teve um enfoque mais
qualitativo em suas pesquisas, foi exatamente aí que encontrei as primeiras inspirações para
delinear a investigação empírica.
A partir das discussões em torno de Simmel e de alguns dos autores da Escola de Chicago
quando me detive em um debate teórico-metodológico sobre uma possibilidade de decifrar o
homem urbano, segui em busca de formas de leitura da cidade que me aproximassem mais dos
moradores do bairro Cachoeirinha. Tais análises não se apresentam como oponentes aos
enunciados e interpretações de Simmel e Park, mas formas contemporâneas de analisar a cidade e
seus sujeitos, visto que enunciam a cidade descrita a partir do imaginário de seus habitantes
(LYNCH, 1988), como um texto que pode ser escrito e reescrito por seus moradores (BARTHES,
1994), como um enunciado lingüístico (CERTEAU, 2003), como suporte de tradições e
biografias (ROCHA e ECKERT, 2005) e ainda a possibilidade de leitura da cidade por meio da
reconstrução de trajetórias que articulam tempo e espaço (TELLES, 2006). Essas abordagens
permitem compreender a atribuição de sentidos que os habitantes conferem tanto às edificações
quanto às suas experiências de viver em um determinado lugar da cidade e realizar seus trajetos
cotidianos e, por isso, possibilitaram uma aproximação das análises e interpretações buscadas em
torno dos moradores do bairro Cachoeirinha.
O segundo capítulo significou uma aproximação com o objeto empírico deste trabalho,
visto que a cidade de Belo Horizonte, onde se localiza o bairro Cachoeirinha constituiu-se como
o foco da análise. A ideia de remontar alguns momentos da história de Belo Horizonte teve como
intuito situar, tanto espacial quanto temporalmente, o lugar onde o objeto empírico deste trabalho
localiza-se. A chegada à cidade ocorreu não com o objetivo de remontar sua história de pouco
mais de cem anos, mas pontuar alguns de seus momentos, com vistas a situar tanto o contexto de

20
seu surgimento como suas primeiras décadas de existência. Para tanto, as primeiras décadas do
século foram o foco da análise, visto que indicam a materialização do projeto de uma cidade
moderna em algumas áreas da nova capital e ao mesmo tempo propiciam a compreensão dos
acontecimentos não previstos pelo plano, entre eles o crescimento e adensamento populacional
fora dos limites da Avenida do Contorno, ou seja, da zona urbana.
A discussão tem início com a apresentação do ideário republicano e como ele foi a
expressão da aspiração de modernidade pelas elites brasileiras do final do século XIX, que
vislumbravam uma ruptura com o passado e um futuro com marcas do progresso, pautado na
ciência e na racionalidade. O plano de construção da nova capital do estado de Minas Gerais
esteve relacionado com as ideias republicanas e constituiu-se como uma forma de materialização
da civilização, do progresso, da modernidade. (JULIÃO, 1992; BOMENY, 1994; MELLO, 1996;
ANDRADE, 2004) Sendo assim, as primeiras décadas de existência de Belo Horizonte que
coincidiram com o início do século XX, visto que sua inauguração oficial ocorreu em dezembro
de 1897, foram marcadas ainda por muitas obras como forma de concretizar o progresso no
espaço de exercício das atividades do executivo mineiro. A ênfase desse capítulo nesse momento
do tempo da história de Belo Horizonte, os primeiros anos do século XX, foi devido ao fato de
que a questão norteadora da discussão aí presente foi aquela referente à ideia de que Belo
Horizonte era a própria expressão da ambivalência do moderno: cidade planejada como uma
forma de materialização dos ideais republicanos da racionalidade, mas que continha no modo de
viver de seus habitantes ares provincianos. Na busca dos nexos entre a história da cidade e do
bairro aqui em questão, esses primeiros anos foram enfatizados porque também coincidem com o
surgimento do Cachoeirinha que será então, analisado como uma das expressões da referida
ambivalência presente em Belo Horizonte, bem como expressão de uma forma de crescimento e
expansão da cidade que fugia ao planejado. Desta maneira, a chegada à cidade é também uma
forma de dar início ao exercício de construir uma leitura de Belo Horizonte aproximando sua
história da história de um de seus bairros.
Para refletir sobre a ambivalência do moderno na capital mineira foi realizada,
inicialmente, uma discussão sobre a cidade moderna a partir das considerações de Argan (1993)
sobre a constituição de uma “ideologia urbana”. O autor assinala que essa ideologia referente a
um novo espaço citadino contém a dialética entre “cidade ideal” e “cidade real” e que não se
constitui apenas da ideologia do poder, mas também dos sujeitos que experimentam a vida nos

21
espaços de uma cidade moderna. Esta discussão foi importante para pensar o espaço morfológico
da capital mineira como forma de materialização do ideal modernizante em relação aos modos de
viver dos habitantes da nova capital nas primeiras décadas do século XX. Para ampliar a reflexão
em torno da ambivalência do moderno Simmel (1987) e sua discussão sobre a metrópole e a
caracterização dos indivíduos desse espaço urbano teve papel importante, pois a partir da
descrição de particularidades das formas de viver dos indivíduos de uma cidade grande em
contraposição às formas de viver de uma cidade pequena, tornou possível pensar a Belo
Horizonte dos seus primeiros anos como um espaço citadino que continha tanto o desejo de
concretizar ares modernos e imprimi-los em seus habitantes, como também era a expressão de um
modo de viver na cidade que mais se assemelhava, àquelas descrições de Simmel (1987) sobre a
cidade pequena. O final do capítulo contém, mesmo que brevemente, as possibilidades de pensar
o bairro Cachoeirinha como uma das formas de expressão desta ambivalência do moderno na
cidade de Belo Horizonte. As pistas que nesse momento do trabalho se enunciaram como
possibilidade para a construção de tal reflexão foram extraídas das análises de Simmel (1987) e
Argan (1993) aqui apresentadas, como também da discussão de Canclini (2003) em torno da
hibridização da cultura contemporânea como uma forma de pensar a ambivalência não somente a
partir de oposições, mas do híbrido.
O capítulo três constitui-se como um momento do trabalho que significou a necessidade
de apresentar a reflexão em torno do bairro como uma categoria de análise, como um conceito
central para a reflexão aqui pretendida. O ponto de partida foram as discussões de Lefebvre
(1975) que enfatiza a necessidade de pensar o bairro em relação ao seu entorno e como esse lugar
da cidade se configura como o lócus onde os habitantes do cenário urbano estabelecem de modo
mais intenso as relações interpessoais dada a proximidade no espaço e no tempo. Em seguida as
ideias de Mayol (2005) ganham lugar como forma de dialogar com Lefebvre, bem como de
ampliar a reflexão. Em termos do diálogo com Lefebvre, vale destacar que Mayol (2005) também
assinala o bairro como lugar propício para o desenvolvimento das relações sociais, visto que o
morador percebe que ali é o espaço onde é reconhecido na cidade. No que se refere à
possibilidade de ampliar a reflexão em torno do bairro, Mayol (2005) traz a ideia de que o bairro
pode ser pensado como o espaço privado do espaço público ou, dito de outra forma, a
privatização do espaço público. Essa caracterização é definida a partir da prática dos moradores
de transitar pelas ruas do seu bairro e pelas significações que atribuem às experiências

22
vivenciadas no interior de suas residências e a comunicação que elas estabelecem com os
ambientes externos aos seus muros, com o bairro. Esse último pode, então, ser concebido como
uma porção especial do espaço público: o “espaço médio” entre a cidade e a residência, isto é, se
localiza entre o espaço íntimo, privado e o espaço público. Além disso, Mayol (2005) menciona a
figura do vizinho como sendo o ser social com quem os moradores do bairro mais se relacionam
em seus trajetos cotidianos e que, segundo ele, não se configura nem como anônimo, nem como
íntimo, mas como passível de reconhecimento. Essa referência é interessante e importante para o
trabalho, pois remete não necessariamente ao conhecimento do “outro”, do vizinho, mas a uma
familiaridade que propicia relações mais comunitárias do que societárias.
A discussão prossegue no intuito de enfatizar as significações que os moradores do bairro
ou, como assinala Mayol (2005) seus usuários, atribuem aos espaços vividos frente às
experiências que ali tiveram lugar. É nesse sentido que Carlos (2001) tece considerações em
torno do bairro como um lugar de prática sócioespacial que revela como os usos conferem
significado às formas de apropriação dos lugares por seus habitantes. Da mesma forma,
Gonçalves (1988) aponta que a lógica de apropriação dos espaços é reveladora das percepções e
dos significados e que em se tratando dos bairros isto ocorre pelo uso que os atores sociais fazem
dele e pela relação afetiva que por ele desenvolvem. Por isto, o bairro pode ser decifrado para
muitas pessoas a partir do sentido de enraizamento, como um espaço onde a experiência é
próxima de uma “comunidade de aldeia”, ou seja, prevalecem as relações comunitárias. Coube
ainda mencionar o fato do bairro não se definir apenas por sua demarcação no mapa da cidade
(RAMOS, 2002), visto que a dimensão objetiva interpenetra na dimensão subjetiva/intersubjetiva
(SOUZA, 1989).
Alguns estudos portugueses sobre bairro formaram um tópico importante do capítulo três
pelo fato de, em geral, apresentarem etnografias de longa duração que realizaram um resgate de
memórias dos moradores para pontuar os elementos de significação e identificação dos bairros
onde residem em Lisboa. Destacam-se as pesquisas sobre o bairro de Alfama (COSTA e
GUERREIRO, [1984] e COSTA [2008]) e sobre o bairro da Bica (CORDEIRO, 1997). Esses
dois bairros têm como características comuns o fato de serem antigos e/ou tradicionais de Lisboa
que são conhecidos como pontos turísticos ou pelas festas religiosas que neles se realizam.
Segundo Cordeiro (2004), o bairro pode ser pensado como uma fonte em microescala para
conhecer a cidade a partir das práticas de sociabilidade de seus moradores que, por sua vez,

23
sugerem como foco de análise o contexto interacional onde se localizam e participam, que se
configura como resultado de memórias particulares. Isto foi importante para pensar o bairro
Cachoeirinha tanto no sentido metodológico visto que fiz uso do resgate de memórias para
analisar o bairro, como em contraposição à visibilidade da Bica em Lisboa pela realização das
festas dos santos populares, pois minhas observações me levaram a identificar mais
características da invisibilidade.
O primeiro trabalho sobre Alfama ocorreu ainda nos anos 1970, quando Costa e Guerreiro
(1984) analisaram o fado amador naquele espaço da cidade e assinalaram que esse estilo musical
não se configurava apenas como um elemento artístico que fazia parte do entretenimento dos
moradores do bairro, mas como um conjunto de práticas sociais que constituíam redes sociais
com códigos comunicacionais e de interação. Na década de 1980 Costa (2008) realizou um
trabalho de campo de longa duração em Alfama quando acompanhou uma série de processos
sociais e seus impactos no bairro e como a sociedade portuguesa era representada naquele lugar
da cidade. Nesse sentido, Costa (2008) trabalhou com a questão da identidade do bairro a partir
das dinâmicas externas e internas, bem como suas interligações. Além disso, outras dinâmicas
mereceram a atenção de Costa (2008): aquelas relativas aos processos de mudanças e
permanências como forma de apreensão dos elementos constitutivos da identidade do bairro e
como forma de compreensão da permanência, por exemplo, do fado e das marchas populares que
se realizavam ainda aos moldes tradicionais, ou seja, como forma de compreender a permanência
de tradições culturais face às mudanças sociais.
Ao final do capítulo é inserido o bairro Cachoeirinha a partir de dados secundários e
primários. Dados sobre sua história foram reunidos para que tornasse possível identificar seu
processo de ocupação a partir de cinco períodos distintos que remontam desde os anos 1920,
antes mesmo de sua aprovação pela Prefeitura de Belo Horizonte que ocorreu nos anos 1930 até
os anos 1980.
O capítulo quatro tem início com as considerações sobre o conceito de memória e sua
articulação com as categorias de tempo e de espaço. O objetivo foi de fazer uso não só do
conceito, mas de usar a memória como um recurso metodológico que tornasse possível a recolha
de dados e de informações sobre o Cachoeirinha junto aos seus moradores. O ponto de partida foi
Halbwachs (1952) e, primeiramente, a questão da vinculação da memória com os quadros sociais
para ressaltar a importância do contexto em que os indivíduos estão inseridos para a constituição

24
da memória. Outra questão apresentada por Halbwachs (2006) diz respeito à memória coletiva e
interessou de perto neste trabalho, porque faz menção ao fato de que o ato de rememorar pode
estar relacionado com o fato dos indivíduos pertencerem a um determinado grupo, de morarem
em um dos bairros de uma cidade, ou seja, as experiências compartilhadas em um determinado
lugar do espaço e em algum momento do tempo tornam possível a realização do ato de
rememorar. Dessa forma é que Halbwachs (1952 e 2006) explicita a forte relação entre memória,
tempo e espaço, visto que as lembranças podem ser pensadas como a memória do que foi vivido
em algum espaço num determinado tempo.
Outras contribuições importantes no que se refere ao conceito de memória e seu
entrelaçamento com o tempo e o espaço foram referentes à obra de Bosi (1994), sobre memória e
sociedade, a partir da discussão em torno da recriação do passado por pessoas simples que foram
testemunhas da passagem do tempo; as considerações de Distante (1988) sobre a capacidade
analítica que se soma à capacidade de rememorar os fatos passados e assim construir a cultura; as
ligações entre tempo e memória como se fosse a constituição de pontes entre os tempos da vida
de acordo com Delgado (2006) e a interligação entre memória e espaço discutida por Poulet
(1992) e D´Aléssio (1998).
Uma discussão em torno da articulação entre memória e cidade como uma possibilidade
de reconstruir trajetórias de sujeitos que vivem em algum espaço da cidade e que nele
compartilharam experiências, também foi apresentada no capítulo quatro. O exercício de
rememorar acontecimentos vividos em um lugar da cidade em determinado momento do tempo
permitiu a apreensão dos sentidos atribuídos a tais vivências e como eles se articulam com a
história do bairro – dinâmicas internas – e a história da cidade – dinâmicas externas – , tornando
possível compreender o que permaneceu frente às mudanças ocorridas ao longo do tempo.
Por fim, aparecem os moradores do bairro que, por meio do exercício de rememorar,
possibilitaram a compreensão, por parte do pesquisador, dos modos de viver no Cachoeirinha.
Como era essa forma de viver no passado, o que aconteceu para que não houvesse alterações
nesse modo de viver e o que ainda resiste no tempo. Os relatos foram aqui organizados de forma
a remontar um pouco da história do bairro, desde a origem do nome, até suas caracterizações a
partir das lembranças da infância, da adolescência e da vida adulta dos sujeitos que se dispuseram
a presentificar o passado e decifrar o presente.

25
Estabeleci os primeiros contatos com os moradores do bairro ainda na fase de elaboração
do projeto (agosto de 2007) quando a questão norteadora deste trabalho seria a reconstrução de
trajetórias de ex-trabalhadores da CIBH. Naquele momento contactei ex-funcionários e o último
diretor antes do encerramento das atividades da fábrica em 1995. Nesses contatos o enfoque da
aproximação foi com o objetivo de levantar os primeiros dados relativos aos anos de
funcionamento da CIBH no Cachoeirinha, às funções desenvolvidas pelos ex-funcionários e à
experiência de trabalhar no mesmo bairro em que se localizava o ambiente de trabalho.
Entretanto, a partir dessas primeiras entrevistas o campo apresentou novas nuances e as
indagações que surgiram encaminharam este trabalho para um novo formato. Percebi que a
memória continuava a ser crucial para esse levantamento de dados referentes ao bairro e seus
moradores, visto que os dados secundários existentes não eram elucidativos das peculiaridades
que o caracterizavam. Quando esses primeiros moradores entrevistados foram indagados sobre o
trabalho na CIBH foi interessante observar que não faziam menção somente às atividades lá
realizadas, mas aos laços de amizade que se estenderam para além do local de trabalho e
passaram a fazer parte do cotidiano fora da fábrica. A partir dessas informações é que o bairro
apareceu como uma possibilidade de leitura da cidade e uma das expressões de seu crescimento
fora da zona urbana. Além de poder ser pensado como expressão do processo de expansão e
ocupação de áreas da zona suburbana de Belo Horizonte o Cachoeirinha apresentava-se como um
bairro que ainda guardava resquícios de um outro tempo e esses resquícios não estavam presentes
somente na memória dos seus moradores, eram ainda experimentados no cotidiano. Sendo assim,
o resgate de lembranças de alguns dos moradores do Cachoeirinha delineou-se como fio condutor
para decifrar as tramas tecidas ao longo do tempo e como se mantiveram.
Os contatos com os moradores prosseguiram e foram sendo realizados a partir de uma
rede de vizinhos, ex-colegas de fábrica ou de colégio, amigos da igreja, compadres e comadres
que me apresentavam uns aos outros. Ainda no início do trabalho houve uma apresentação do
bairro por um de seus moradores mais antigos que me conduziu pelas ruas e avenidas a indicar e
descrever acontecimentos que expressavam as mudanças na paisagem: estabelecimentos
comerciais que deixaram de existir, residências que foram demolidas para as obras de ampliação
da Avenida Antônio Carlos, o lugar onde era o córrego que formava a cachoeirinha que deu nome
ao bairro. Mas além dessas lembranças também recordou-se das barraquinhas do mês de junho,
do footing, dos bailes dançantes, do cinema do padre, enfim, das atividades culturais que

26
propiciavam os encontros e as relações de sociabilidade. Esse passeio foi crucial para que
passasse a identificar com precisão suas ruas e edificações que fizeram parte de sua história.
As visitas ao Cachoeirinha com o intuito de estabelecer os primeiros contatos face a face
com os moradores do bairro para dar início à coleta dos dados primários foram realizadas no
período de fevereiro de 2009 a março de 2010. Ao longo desse espaço de tempo realizei contatos
informais com os moradores do bairro para que pudesse lhes explicar o objetivo do meu trabalho
e, posteriormente, marcar os encontros para a realização das entrevistas. A partir desses contatos
mais informais, da apresentação dos moradores aos seus familiares e outros vizinhos e das
questões que foram sendo delineadas como objeto de investigação da pesquisa é que foram
selecionadas 23 pessoas do bairro que passaram a evocar suas lembranças sobre as experiências
de viver no Cachoeirinha. Desses 23 entrevistados2 onze têm entre 50 e 88 anos e residem no
bairro há mais de 50 anos ou lá nasceram. A justificativa dessa escolha se deve ao fato de que
suas lembranças seriam importantes elementos para a reconstrução de uma história do bairro por
eles narrada e rememorada. Ou seja, decifraram o bairro no presente a partir da memória do
passado, de um outro bairro, diferente do atual, mas que ainda guarda marcas do tempo que
passou. Os demais entrevistados eram mais jovens com idade entre 15 e 49 anos, apresentaram o
bairro a partir de suas experiências sobre suas formas de viver o cotidiano nessa parte de Belo
Horizonte, tão perto de sua área central, mas salientaram características do bairro que remetem a
um jeito peculiar de experimentar a metrópole relativo a um outro momento no tempo. A idéia de
contemplar moradores mais velhos e jovens era no intuito de perceber se os reflexos do passado,
considerados como elementos presentes e constitutivos do Cachoeirinha, existiam só na memória
e lembrança de quem viveu um outro tempo no bairro eram também presentes no discurso dos
mais jovens.
Durante o tempo de duração da pesquisa de campo o Cachoeirinha foi se tornando
ambiente familiar, pois já reconhecia as referências espaciais do bairro, já identificava quem eram
os participantes de determinadas atividades do passado, o que faziam atualmente e onde
moravam, já conhecia as ruas e seus espaços de convivência do passado e da atualidade e, por
vezes, fui também reconhecida. Estar no bairro, transitar por suas ruas, observar suas edificações,
os movimentos internos de seus habitantes, adentrar as residências de alguns de seus moradores
fez com que o Cachoeirinha deixasse de ser somente a referência do mundo do “outro” e o olhar
2 Cf. Apêndice com Quadro de Referência das Pessoas Entrevistadas no bairro Cachoeirinha

27
domesticado teoricamente, (OLIVEIRA, 2000), começou a se ater mais detidamente nas
lembranças resgatadas como forma de extrair elementos que auxiliassem na tradução daquela
realidade. Para acessar o mundo conceitual dos “outros” (GEERTZ, 1989a) e complementar a
ação do olhar, o ato de ouvir histórias familiares, relatos sobre o mundo do trabalho, sobre
acontecimentos festivos, enfim, sobre a construção dos modos de viver naquele bairro foi
também importante para decifrá-lo. “[...] tanto o ouvir como o olhar não podem ser tomados
como faculdades totalmente independentes no exercício da investigação. Ambas complementam-
se e servem para o pesquisador [...] caminhar, ainda que tropegamente, na estrada do
conhecimento.” (OLIVEIRA, 2000, p. 21)
As entrevistas realizadas estabeleceram o encontro de dois mundos e por meio delas o
intuito foi dialogar com os moradores do Cachoeirinha ouvindo-os e sendo ouvida por eles,
afastando o receio de contaminar o discurso deles com elementos do meu mundo, pois o enfoque
era a interação e não a busca da neutralidade defendida por aqueles defensores da objetividade
absoluta. A partir do olhar e do ouvir o bairro foi sendo apreendido. O olhar permitiu a
observação de seus aspectos visíveis e invisíveis e as conversas com alguns de seus moradores
para ouvir os relatos de suas lembranças tornaram possível a compreensão dos modos de viver
naquele lugar e, consequentemente, a experiência da escrita. Como assinala Oliveira (2000, p. 25)
“se o olhar e o ouvir podem ser considerados como os atos cognitivos mais preliminares no
trabalho de campo [...], é seguramente, no ato de escrever, portanto na configuração final do
produto desse trabalho, que a questão do conhecimento torna-se tanto ou mais crítica.” Isso
traduz a ideia de Geertz (1989) sobre o estar lá – viver a situação do trabalho de campo e
exercitar as ações do olhar e do ouvir – e o estar aqui que se refere à ação de escrever. Ao
referenciar essas situações Oliveira (2000) ressalta que é como se o pesquisador recuperasse o
passado ao torná-lo presente no ato de escrever e esse ato de presentificar o passado pela escrita é
que permite alcançar a interpretação dos dados obtidos no campo.
Dando continuidade ao ato de escrever para continuar a interpretação, o capítulo cinco
tem como objetivo descrever e decifrar características físicas e sociais, apresentar e analisar
acontecimentos que tiveram lugar no Cachoeirinha, no intuito de elencar interpretações para a
ideia da “(in)visibilidade” do bairro. Para tanto, o capítulo tem início com uma discussão sobre a
possibilidade de caracterização do Cachoeirinha como um bairro histórico a partir das
considerações de Andrade e Arroyo (2009) acerca de bairros belo-horizontinos localizados na sua

28
área pericentral que datam da época de sua fundação, ou seja, são antigos, e/ou que guardam
características da época da sua construção tanto no que se refere aos aspectos arquitetônicos
quanto aos modos de viver. O Cachoeirinha, de algum modo, pode ser considerado um bairro
histórico, devido à sua localização na área pericentral da cidade, ao seu processo de ocupação
coincidir não com a época da construção de Belo Horizonte, mas com suas primeiras décadas de
crescimento e expansão; de algumas pequenas referência à atividade operária na fábrica de
tecidos como uma ocupação discriminada por alguns setores sociais e pelo caráter de
ambiguidade.
Um segundo momento do capítulo cinco, ainda relativo às considerações em torno dos
bairros “históricos” de Belo Horizonte, será referente à discussão relativa à vizinhança a partir de
uma questão levantada por Andrade e Mendonça (2007) sobre a possibilidade da existência de
relações de vizinhança em cidades pequenas ou em bairros tradicionais, visto que nas cidades
grandes, nos bairros mais novos e centrais, há uma tendência de predomínio do desconhecimento
entre os moradores. A partir dessa questão a ideia foi pensar o Cachoeirinha como um lugar da
cidade que, mesmo com as transformações físicas ocorridas, ainda seria espaço propício para o
desenvolvimento de relações de vizinhança. Para refletir sobre este ponto, Tönnies (1947) e suas
considerações sobre os conceitos de sociedade e de comunidade e os tipos de interação que nelas
têm lugar: relações societárias e relações comunitárias, foram de extrema importância, pois foi
esclarecedor o tipo de interação que tem lugar nas relações de vizinhança, bem como tornou
possível o estabelecimento de um diálogo com Simmel (1987) e sua caracterização do indivíduo
que vive na cidade grande. Para complementar o debate em torno das relações de vizinhança Park
(1987) e Wirth (1987) também foram mencionados.
O aporte teórico dos autores acima citados foi fundamental para que os relatos recolhidos
junto aos moradores do Cachoeirinha fossem analisados a partir do conteúdo das relações
comunitárias, tal como enunciou Tönnies (1947), em contraposição à atitude de reserva
enunciada por Simmel (1987) como uma forma de proteção dos indivíduos no ambiente urbano e,
também, de forma contrastiva ao que Park (1987) e Wirth (1987) assinalaram sobre o
esvanecimento das relações de vizinhança em cidades grandes. Isso significa que o Cachoeirinha
foi analisado, a partir das enunciações de seus usuários, só para recorrer à terminologia de Mayol
(2005), como um espaço na cidade grande que ainda mantém relações de vizinhança, o que
contribui para que o sentimento dos moradores de pertencimento e enraizamento na cidade, por

29
meio do bairro, seja fortalecido. Isso corrobora com o argumento de Andrade e Mendonça (2007)
de que as relações de vizinhança teriam espaço de existência em bairros tradicionais,
denominação que seria pertinente ao Cachoeirinha.
É neste último capítulo que apresento minhas primeiras impressões sobre o bairro e como
elas me conduziram a levantar algumas das questões que acabaram por se constituir como
definidoras das particularidades do Cachoeirinha. A partir das primeiras visitas ao bairro – ainda
com o olhar voltado a construir uma leitura da cidade de Belo Horizonte por meio de alguns ex-
trabalhadores da Cia Industrial Belo Horizonte e sua relação com o lugar onde residiam e onde se
realizavam as atividades pertinentes ao mundo do trabalho –, me deparei com uma paisagem
envelhecida, tanto no que se refere às edificações quanto aos sujeitos que começavam a fazer
parte da pesquisa. Com efeito, essa impressão do envelhecimento da paisagem e dos moradores
me levou a refletir em torno do tempo e de seus vestígios no bairro, ou seja, como este abrigava
as suas marcas temporais e como estas estiveram presentes nos relatos recolhidos. O tempo foi
então categoria fundamental para as reflexões finais do trabalho porque, inicialmente, foi o que
impactou minhas primeiras impressões e porque era exatamente o tempo que me colocava em
contato com os moradores do bairro. Os contatos estabelecidos foram marcados pelos relatos de
tempos já vividos, por narrações de acontecimentos, por descrições de fachadas de edifícios que
não mais abrigam as mesmas atividades, por caracterizações relativas aos eventos culturais
existentes no bairro, enfim, por fatos que foram revelados da forma como os narradores
desejaram enunciá-los, pois, conforme enuncia Kofes (2001), narrar torna possível trazer à tona o
que foi experimentado da maneira que deseja aquele que narra. E narrar o que já ocorreu é uma
tentativa de voltar no tempo, de presentificar o que já não existe mais da forma como o sujeito
que foi convidado a rememorar deseja que seu passado seja representado.
Partindo dessas reflexões em torno do tempo e pensando-as situadas no espaço é que veio
à tona a ideia de interpretar a (in)visibilidade do bairro Cachoeirinha a partir das características
do seu envelhecimento. Diante das transformações no seu entorno ele ainda mantém
características de um outro tempo, experimentado num espaço que não se configura mais da
mesma forma. Sendo assim, conduzi minhas reflexões finais no sentido de elucidar como o bairro
permitiu uma leitura da expressão da ambiguidade do moderno em relação às primeiras décadas
de crescimento da nova capital mineira e ainda hoje pode ser pensado como um espaço citadino
que reflete a ambiguidade do moderno na forma como seus espaços são experimentados, no

30
sentido dos usos e das apropriações por seus moradores que, concomitantemente, são habitantes
de uma metrópole, mas que têm um cotidiano marcado por relações e interações sociais mais
próximas de um ambiente de cidade pequena. Esses moradores em suas práticas espaciais
cotidianas não são vistos e tampouco se deixam ver pelos não residentes do bairro, como se fosse
uma estratégia identitária manter-se fiel a um modo de viver, como forma de indicar
permanências frente às mudanças, como forma de indicar a existência de um pequeno mundo que
está colado ao urbano que caracteriza a Belo Horizonte do século XXI, mas que dele se descola
pela forma como os moradores do Cachoeirinha experimentam seu cotidiano. O urbano é, então,
pontilhado por fissuras, por regiões que não são perpassadas na sua totalidade pelos aspectos da
cidade grande e moderna.

31
2 INSPIRAÇÕES TEÓRICAS PARA A LEITURA DE BELO HORIZ ONTE E UM DE
SEUS BAIRROS
A cidade como ambiência espaço-temporal onde o cotidiano de um conjunto variado de
moradores é tecido, bem como um espaço para a materialização de diferentes perspectivas
urbanísticas, tem sido, ao longo do tempo, objeto de reflexão de vários campos disciplinares.
Percebe-se que as abordagens diferem não somente porque olhares distintos são vertidos sobre
ela, mas também pelo fato de que no interior de uma mesma disciplina as abordagens se ampliam
e/ou se modificam ao longo do tempo, favorecidas, inclusive, pelo diálogo interdisciplinar. A
proposta que aqui se apresenta não se define como um mapeamento de tais abordagens, mas
sobre alguns dos olhares e leituras que já foram elaborados sobre a cidade. É importante destacar
que este capítulo buscará ressaltar as reflexões sobre a cidade como um fenômeno cultural, no
intuito de estabelecer um elo entre uma possibilidade de sua leitura a partir dos elementos que
compõem as práticas, os hábitos e os comportamentos de seus habitantes, a partir do cotidiano
tecido por meio das interações dos moradores com seus espaços. A ideia é realizar uma leitura de
Belo Horizonte a partir do bairro Cachoeirinha, por meio do resgate de lembranças de alguns de
seus moradores que elucidaram suas experiências de tecer laços e relações em um determinado
tempo e espaço da cidade.
A discussão iniciará com a apresentação de algumas considerações em torno da cidade
grande e urbana a partir da experiência vivenciada por Simmel em Berlim nas últimas décadas do
século XIX e primeiras do século XX3. As impressões de Simmel descansam sobre considerações
em torno do modo de viver do citadino e como ele articula questões individuais com aquelas
denominadas supraindividuais. Sua abordagem sobre a metrópole tem como ponto de partida a
necessidade de uma atitude de reserva que os indivíduos devem desenvolver para viver nas
cidades grandes, face aos inúmeros estímulos nervosos que recebem. É como se fosse necessário
uma “capa protetora” para que as individualidades não se perdessem face à constância e a
quantidade de estímulos recebidos no ambiente urbano. Além disso, Simmel não perde de vista as
preocupações sociológicas em sua análise sobre a cidade, pois o embate entre o individual e o
supraindividual se fazem presentes. Importante também mencionar como seu ensaio está
correlacionado com outras discussões, como a economia do dinheiro e suas repercussões no
3 A referência para a referida discussão será pautada no texto “A Metrópole e a Vida Mental”.

32
modo de vida dos indivíduos, bem como a reflexão em torno da ambiguidadedo moderno que
seria expressa em sua forma mais emblemática no modo de viver do indivíduo na metrópole.
Um segundo momento dessas reflexões será relativo a alguns autores da Escola de
Chicago com dois intuitos: primeiramente elucidar como as ideias simmelianas tiveram
repercussão em alguns pesquisadores da segunda geração da referida escola, como Park e seus
alunos, e em segundo plano, mas não menos importante, o fato da Escola de Chicago ter sido
inovadora em relação às temáticas investigadas no ambiente urbano, bem como no que diz
respeito à adoção de uma diversidade de procedimentos metodológicos para a coleta de dados nas
investigações ali realizadas. Papel importante no que se refere às questões metodológicas foi
realizado por Park e Burgess a partir do incentivo à prática de uma sociologia qualitativa.
Entretanto, isso não significa que a Escola de Chicago tenha se valido apenas de procedimentos
qualitativos, pois se pode considerar que no período posterior à Segunda Guerra Mundial houve
ali um ambiente propício para o desenvolvimento de uma sociologia quantitativa. O importante é
lembrar o papel relevante desempenhado pela Universidade de Chicago no que se refere à
inauguração de novas formas de pesquisa em torno dos novos objetos de investigação que se
descortinavam no ambiente urbano da Chicago dos anos 1920, mesmo que a reflexão e a
sistematização de tais metodologias não fossem ainda foco de discussão sociológica.
Como enunciado nos primeiros parágrafos, o objetivo deste capítulo não se constitui
como um mapeamento diacrônico em torno das abordagens sobre a cidade e, dessa forma, me
permiti um salto no tempo para elucidar ao final da discussão aqui apresentada algumas
considerações em torno da cidade a partir de um debate mais contemporâneo que privilegia em
suas análises a percepção da cidade como um texto que é escrito pelas práticas dos seus
moradores nos espaços que habitam e transitam. Tais perspectivas podem ser consideradas
parentes, por vezes próximos, por vezes mais distantes das reflexões de Simmel e dos autores de
Chicago e aqui se apresentam como uma tentativa de atualização de possíveis debates e análises
em torno da cidade, bem como inspiração para a coleta de dados que tornem possível a leitura de
Belo Horizonte por meio do resgate de lembranças para apreensão das práticas, hábitos e
interações sociais travadas no cotidiano de moradores de um bairro de uma cidade grande e
urbana. O objetivo não é elucidar diacronicamente as abordagens sobre a cidade4, mas tomar
4 Uma referência breve, mas concisa, das várias abordagens sobre a cidade ao longo do tempo está presente em Barros (2007).

33
como inspiração ideias simmelianas e as formas de pensar e investigar a cidade construídas por
alguns autores de Chicago para encontrar possíveis nexos para realizar uma leitura de Belo
Horizonte. Essa leitura tem como objetivo apreender os modos de viver de habitantes de um
bairro da cidade residentes em uma área pouco visível do território urbano belo-horizontino, mas
que teve parte de sua história marcada fortemente pela presença de uma indústria têxtil que, ainda
nos anos 1930, desloca-se do interior da Avenida do Contorno, área central e urbana da cidade,
para o bairro Cachoeirinha, área suburbana e que aqui se apresenta como objeto dessa
investigação.
2. 1 Simmel e a Cidade: espaço do moderno
Para dar início a esse passeio por alguns dos autores que detiveram seus olhares sobre a
cidade e, em especial, seu formato como espaço urbano, valerá retomar o trabalho de Simmel
(1987)5 em torno da cidade e do modo urbano de viver. Seu trabalho é emblemático, pelo
conteúdo de sua reflexão em torno da metrópole e das formas de interação nela travadas pelos
indivíduos, visto que seu texto é escrito no início do século XX e constitui-se como um reflexo
do próprio crescimento da cidade de Berlim onde, ele mesmo, experimentou as formas de vida
em uma metrópole. Além disso, cabe destacar que esse trabalho é também emblemático no que
diz respeito a uma teoria do moderno, visto que sua experiência em Berlim, face ao crescimento
da cidade a partir da segunda metade do século XIX, é fundamental para que descreva o que
considera moderno e como a cidade constitui-se como o lócus do moderno e da ambiguidade.
Como assinala Waizbort (2000, p. 315)
Sua teoria do moderno é o seu enfrentamento com a cidade em que vivia, suas próprias experiências formam o material que atiça a sua reflexão e a tentativa de apreender conceitualmente as transformações que ocorrem. O que é específico em Berlim serve como impulso e ponte para analisar o que é genérico.
5 Vale lembrar que a primeira publicação do texto de Simmel “A Metrópole e a Vida Mental” data de 1902.

34
Discorrer sobre a cidade a partir da perspectiva simmeliana, com efeito, é, de certa forma,
remontar parte de sua perspectiva teórica, visto que a cidade grande e urbana constitui-se como o
lugar histórico do estilo de vida moderno e aí reside, ou melhor, se circunscreve, o conflito entre
indivíduo e sociedade, entre o que Simmel define como cultura interior e cultura exterior. O
homem moderno viveria, então, a tensão entre o interior e o exterior, entre o individual e o supra-
individual.
Para tratar desses conflitos e tensões vivenciados pelos habitantes do tempo e do espaço
modernos, Simmel (1987) assinalará algumas características da forma de viver em uma
metrópole. O texto “A Metrópole e a Vida Mental” tem início com a exposição do que ele
considera um dos mais graves problemas da vida moderna: a necessidade do indivíduo de
preservar sua autonomia e individualidade diante das forças sociais esmagadoras. Este problema
se apresenta aos indivíduos porque eles resistem a ser nivelados e consumidos por um mecanismo
sociotecnológico. Esta resistência torna-se característica dos indivíduos na metrópole pela
existência de um exterior hostil, o que faz com que eles recolham-se em sua interioridade. Sendo
assim, a questão que se torna presente na cidade grande, o lócus do moderno, é a da relação do
individual com o supra-individual. Por isso Simmel propõe que a investigação em torno das
metrópoles aborde o tipo de individualidade que a cidade grande e moderna estimula e constitui.
Em busca de possíveis respostas para a questão que se propõe a investigar na metrópole,
um dos primeiros pontos assinalados por Simmel (1987) diz respeito ao fato de que o tipo
metropolitano de individualidade tem sua base psicológica constituída por uma “[...]
intensificação de estímulos nervosos, que resulta da alteração brusca e ininterrupta entre
estímulos exteriores e interiores.” (SIMMEL, 1987, p. 12) Essa intensificação de estímulos é que
nos permite perceber que a concepção de moderno em Simmel relaciona-se com o movimento, a
ansiedade, a insatisfação. As individualidades da cidade grande defrontam-se com uma
quantidade de imagens fugazes que constantemente apresentam-se às suas consciências a cada
saída à rua devido à variedade de formas e ritmos sociais e ocupacionais. Segundo Simmel, essas
são as condições psicológicas que a metrópole cria6. O incremento da velocidade da vida na
cidade grande tem relação estreita com a intensificação dos estímulos nervosos e quando o
indivíduo sai à rua isso significa deixar o interior. Sobre esse ponto o autor estabelece a distinção
6 De acordo com Waizbort (2000), as condições psicológicas a que Simmel se refere podem ser compreendidas como condições subjetivas que dizem respeito ao sujeito e estão presentes na cidade.

35
entre a cidade pequena e a cidade grande. Segundo ele, a vida na cidade pequena tem um ritmo e
um conjunto de imagens que flui mais lentamente, mais uniformemente. Aí os relacionamentos
são estabelecidos com base nos sentimentos e emoções e os indivíduos reagem com o coração.
Em contraposição a esse estilo de viver, os indivíduos na metrópole desenvolvem um órgão que
os protege das correntes e discrepâncias oriundas do exterior que os ameaça. O tipo
metropolitano de homem, em suas diversas variantes, reage com a cabeça e não como o faz o
habitante da cidade pequena: com o sentimento, com o coração. Isto significa que a vida na
metrópole implica em uma predominância da inteligência7, pois é por meio da intelectualidade
que os indivíduos preservam a individualidade, a vida subjetiva, “[...] contra o poder avassalador
da vida metropolitana.” (SIMMEL, 1987, p. 13)
Um outro ponto que Simmel (1987) destaca como sendo característico da vida
metropolitana, e que tem conexão com a predominância da intelectualidade no homem da cidade
grande, refere-se à relação estabelecida com o dinheiro, pois segundo ele a economia monetária e
o intelecto estão fortemente vinculados. Ocorre a prevalência da objetividade no tratamento das
coisas e dos homens frente a um cenário onde predomina a lógica do dinheiro. Sendo assim, mais
uma vez salta aos olhos a diferença entre a cidade pequena e a cidade grande, pois no ambiente
urbano em face de grande penetração da economia monetária, a objetividade do dinheiro
desconsidera as qualidades individuais, fazendo sobrepor-se às relações o viés da indiferença e
não do sentimento e da subjetividade. O dinheiro trata tanto da mesma forma – ou com a mesma
objetividade e indiferença – os objetos da loja e os indivíduos na massa, o que só existe na cidade
grande e urbana. Como a vida na metrópole é dominada pela economia do dinheiro, houve o
desalojamento da produção doméstica e a troca direta de mercadorias, pois na cidade grande tudo
é feito por desconhecidos e para desconhecidos, trazendo à tona a adequação da objetividade nas
transações comerciais sem a interferência das relações pessoais que são baseadas no
conhecimento e sentimento.
Como complementaridade a essa característica da economia do dinheiro na metrópole, o
autor destaca também a calculabilidade e contabilidade, pois tudo precisa ser calculável com
exatidão, inclusive os valores qualitativos precisam encontrar sua quantificação.
7 Inteligência não no sentido de uma superioridade em relação ao homem da cidade pequena, mas relacionada à racionalidade, que não nega o sentimento, mas se sobrepõe a ele.

36
Através da natureza calculativa do dinheiro, uma nova precisão, uma certeza na definição de identidades e diferenças, uma ausência da ambiguidadenos acordos e combinações surgiram nas relações de elementos vitais – tal como externamente esta precisão foi efetuada pela difusão universal dos relógios de bolso. (SIMMEL, 1987, p. 14)
É necessário, inclusive que haja uma organização racional do tempo e do espaço para que
a vida na cidade possa fluir. Waizbort (2000) assinala que Simmel mencionou a necessidade da
organização do tempo e do espaço na cidade grande a partir do uso dos relógios regulados
igualmente e da numeração das casas nas ruas. Isso demonstra a necessidade que a vida urbana
apresenta de esquemas supra-individuais para organizar a variedade e multiplicidade do
movimento contínuo. O estilo de vida moderno presente na cidade grande necessita dessa técnica
que tem relação com a objetividade, calculabilidade, pontualidade, exatidão. Esses traços da vida
na cidade é que favorecem a exclusão dos impulsos irracionais e intuitivos, ou seja, a
objetividade e os traços a ela correlacionados é que impedem a manifestação de impulsos não
relacionados com a esfera do entendimento, ou seja, daquilo que o autor denominou como
inteligência.
Segundo Simmel (1987) os mesmos fatores que contribuíram para que a precisão e a
exatidão fossem características da vida na cidade grande, corroboraram também para o
desenvolvimento de uma estrutura muito impessoal: a atitude blasé. Essa atitude é um fenômeno
típico da cidade grande e constitui-se como resultado dos estímulos nervosos que se alteram
rapidamente e condensam antagonismos. Dessa intensificação de estímulos nervosos nasce a
prevalência da intelectualidade na cidade grande. Existe uma afinidade entre a atitude blasé e a
economia do dinheiro. O indivíduo blasé é insensível, indiferente assim como o dinheiro que não
se atém às pequenas diferenças e distinções, tampouco às qualidades individuais. O blasé é
fatigado, indiferente, insensível diante da quantidade de estímulos com que ele se defronta ao
viver na cidade, ele se torna incapaz de responder de forma adequada a eles. De acordo com
Simmel (1987) a essência da atitude blasé está na ausência de reação diante das diferenças que as
coisas apresentam e, assim, elas são experimentadas como destituídas de substância. Esse estado
de ânimo do indivíduo blasé é um reflexo da economia do dinheiro que foi interiorizada pelos
habitantes da cidade grande. O dinheiro torna-se o mais assustador dos niveladores, porque
expressa as diferenças qualitativas entre os objetos por meio do valor: “quanto?” Sendo assim, ele
se torna o denominador comum de todos os valores, pois arranca a individualidade das coisas, seu
valor específico, elas são o quanto elas valem. Como o intercâmbio monetário ocorre com mais

37
freqüência e intensidade nas grandes cidades, esse também se constitui o local por excelência da
atitude blasé. A concentração de dinheiro, de coisas compradas e vendidas, de pessoas que
compram e vendem está na cidade, onde também se exige muito dos nervos dos indivíduos. O
caráter blasé, a indiferença frente às pessoas e as coisas, é revertida numa desvalorização de tudo
e de todos chegando a alcançar a depreciação da própria individualidade. Sendo assim, viver na
cidade grande implica adotar estratégias de sobrevivência face à concentração.
Para que o indivíduo se ajuste a essa forma de existência na cidade, sua autopreservação
lhe exige um comportamento social não menos negativo: a chamada atitude de reserva. Essa
reserva é uma espécie de indiferença, que aos olhos do morador da cidade pequena parecerá uma
atitude fria, desalmada. Mais uma vez é necessário contrastar o ambiente citadino urbano e a
cidade pequena, visto que no primeiro a autoconservação em um meio hostil, traduz-se em
reserva como uma forma de proteção dada à impossibilidade de responder a todos os estímulos
recebidos, ocorrendo o oposto na cidade pequena, pois como a quantidade de estímulos é limitada
os indivíduos podem responder a praticamente todos eles. À reserva estão ligados vários
sentimentos que vão desde a indiferença até a antipatia. Isto configura o amplo matiz da
estilização dos comportamentos como estratégias de vida, como conformações da vida na cidade
grande. O que parece dissociação no estilo de vida metropolitano é uma das formas elementares
de socialização. Waizbort (2000) assinala que o matiz de sentimentos vinculados à atitude de
reserva são formas latentes de conflito que se constituem como uma das principais formas de
socialização investigadas na sociologia de Simmel.
Essa estilização dos comportamentos ou o estilo metropolitano de vida que tem como
expressão a atitude blasé e a atitude de reserva produzidas pela calculabilidade e indiferença,
também possibilita ao indivíduo, segundo Simmel (1987, p. 18) “[...] uma qualidade e quantidade
de liberdade pessoal [...].” Neste sentido a cidade grande reproduz a ambiguidadeda economia do
dinheiro, visto que cria a possibilidade da individualidade, mas também os obstáculos para que
ela se realize. A liberdade vivenciada pelo homem na cidade grande é como uma contrapartida do
círculo social amplo onde ele se encontra inserido, ela é uma característica do habitante da
metrópole que, apesar de ser apenas mais um em meio à massa de indivíduos, liga-se ao todo por
fios tênues.
[...] a reserva e indiferença recíprocas e as condições de vida intelectual de grandes círculos nunca são sentidas mais fortemente pelo indivíduo no impacto que causam sua

38
independência, do que na multidão mais concentrada na grande cidade. Isso porque a proximidade física e a estreiteza de espaço tornam a distância mental mais visível. Trata-se, obviamente, apenas do reverso dessa liberdade, se, sob certas circunstâncias, a pessoa em nenhum lugar se sente tão solitária e perdida quanto na multidão metropolitana. (SIMMEL, 1987, p. 20)
Proximidade e distância figuram aqui como elementos marcantes do trabalho de Simmel.
A existência de um depende do outro e o que ora define-se como distância pode configurar-se
como proximidade. Isto é a expressão da ambiguidade, do moderno: estar só no meio da
multidão, a proximidade física e a distância espiritual. Assim como o moderno é ambíguo a
cidade grande e moderna é o lugar privilegiado da ambiguidade. (WAIZBORT, 2000)
Como uma das características mais significativas da metrópole, Simmel (1987) destaca a
sua extensão para além das fronteiras físicas. Isto significa que a cidade e seus efeitos se
estendem para além de seus limites imediatos. A extensão da cidade deve ser pensada pelo
alcance de seus efeitos. Isto expressa seu caráter cosmopolita e tem relação com a concentração
que também se configura como uma das características da cidade grande e urbana. Concentração
que, por sua vez, é relativa à difusão. Com efeito, a cidade se metropoliza, pois aquilo que nela se
concentra é difundido para além dela. Seus limites encontram-se até onde alcançam seus efeitos.
Vale ressaltar que, de acordo com o autor, a extensão da cidade tem como complemento a
liberdade individual que não deve ser compreendida como somente possibilidade de mobilidade e
supressão de preconceitos, pois o que lhe é peculiar e essencial é a sua incomparabilidade e
singularidade que se expressam na elaboração de um modo de vida. A cidade para Simmel é
considerada também como a sede da mais alta divisão econômica do trabalho, pois disponibiliza
uma grande variedade de serviços. Concomitantemente, essa divisão do trabalho impulsiona os
indivíduos a especilizarem-se em uma função. Esta especialização promove a diferenciação
A partir destas últimas características apresentadas por Simmel é possível pensar a cidade
como o lugar da tensão, do conflito entre o individualismo quantitativo e o individualismo
qualitativo. O primeiro é característico do século XVIII e está relacionado com a economia do
dinheiro, considera a igualdade e a liberdade como valores essenciais, universais e, assim, diz
respeito ao indivíduo que é igual e livre, ou seja, tem relação com a independência e liberdade
individual. O individualismo qualitativo é próprio do século XIX quando há a compreensão do
indivíduo como algo absolutamente único, então se caracteriza como o modo pessoal, específico
que constitui a diferença/distinção do indivíduo. Apesar dessa diferença relativa ao conteúdo dos

39
dois tipos de individualismo a cidade grande e moderna pode ser descrita como o espaço de
confluência entre ambos, espaço onde têm condições de produzir desdobramentos: com a livre
concorrência liberal relacionada ao individualismo quantitativo e a divisão do trabalho
relacionada com o individualismo qualitativo.
A cidade, de acordo com as considerações de Simmel, apresenta-se como o lócus
privilegiado do moderno e, dessa forma, é recoberta por ambiguidades. Ambiguidades estas que
expressam a preocupação sociológica de Simmel: a individualidade e o supraindividual; o
exterior e o interior; os estímulos intensos e a atitude de reserva; a proximidade física e a
distância espiritual; enfim, o embate entre as esferas subjetiva e objetiva. Ao mesmo tempo em
que a cidade oferece inúmeros estímulos nervosos aos indivíduos é necessário uma atitude de
reserva frente a essa quantidade de formas e ritmos oriundos do exterior, como uma possibilidade
de preservar a vida interior, a individualidade. Daí surge um sentimento de indiferença como uma
saturação dos sentidos, como uma habilidade para não se deixar influenciar por todas as
novidades relativas às imagens citadinas e como uma resposta categórica às muitas diferenças
entre coisas e pessoas, como uma forma de manter a cidade à distância. A reserva social foi,
então, pensada por Simmel como um ingrediente essencial do estilo de vida urbano. A cidade
configura-se como um cenário onde ocorrem as tensões vivenciadas nas interações cotidianas
entre os indivíduos, tensões que expressam o conflito entre o indivíduo que é, por um lado, igual
aos demais e por outro, tem necessidade de apresentar-se como único.
2.1.1 A Sociologia de Simmel e a Cidade
As ideias de Simmel sobre a cidade grande e urbana do início do século XX,
indiretamente, destacam sua preocupação sociológica em torno do embate entra a esfera
individual e a supraindividual que, em se tratando de uma metrópole, é expresso na ideia do
moderno e suas ambiguidades intrínsecas. Para Simmel a sociedade não deve ser considerada
apenas como um conjunto de indivíduos e grupos reunidos numa mesma comunidade política,
pois, segundo ele, a sociedade existe onde os indivíduos encontram-se em reciprocidade de ação
e constituem, dessa forma, uma unidade, seja ela permanente ou passageira. O fenômeno

40
produzido por essas interações caracteriza a vida individual e a distingue da sociedade, ou seja, o
produto das interações está relacionado à vida individual e expressa características da supra
individualidade. Assim, a sociedade realiza-se, exatamente, por meio das ações dos indivíduos
que a compõem. “A sociedade só é possível como uma resultante das ações e reações dos
indivíduos entre si, isto é, por suas interações.” (MORAES FILHO, 1983, p. 20). E essas
interações constituem a sociedade como uma realidade inter-humana. (MORAES FILHO, 1983)
Em sua sociologia, Simmel concentra suas análises na explicação das ações dos atores sociais e,
dessa forma, enfatiza as interações múltiplas que os indivíduos estabelecem na vida em
sociedade. Sendo assim, compreende a sociologia como uma disciplina que “deve ter por campo
ou objeto a multiplicidade de interações, numa incessante vida de aproximação e de separação, de
consenso e de conflito, de permanente vir-a-ser.” (MORAES FILHO, 1983, p. 21) Isto é, a
realidade estudada pela sociologia – a sociedade − não é estática ou acabada e sim um fazer-se e
refazer-se contínuo, visto a multiplicidade de interações que os indivíduos desempenham
cotidianamente.
O dinamismo da sociedade é analisado por Simmel pelo conceito de sociação. Esse é um
processo constituído por impulsos dos indivíduos, bem como por outros motivos, interesses,
objetivos, inclinação, enfim, tudo que seja capaz de originar ação sobre os outros ou a recepção
de suas influências. A sociação só se apresenta quando indivíduos isolados coexistem a partir da
colaboração ou cooperação, assim, as formas de sociação é que tornam possível a existência da
sociedade.
Como são as formas de sociação que conferem realidade à sociedade, Simmel buscou
elucidar as condições ou formas de sociação que atuam a priori para que a sociedade se constitua
como tal, ou melhor, quais seriam as formas fundamentais ou categorias específicas que os
indivíduos devem ser portadores para que tenham a consciência da sociação. A primeira diz
respeito à ideia que o indivíduo forma do outro a partir do contato pessoal. De certa maneira, os
outros são vistos como generalizados, pois não é possível representar plenamente uma
individualidade diferente da nossa. Segundo Simmel (1939, p. 39) “para todos os efeitos de nossa
conduta prática, imaginamos todo homem como o tipo de homem que sua individualidade
pertence” .8 Os outros são vistos a partir de um tipo geral no qual eles se enquadram e não a partir
de sua individualidade propriamente dita. Nós formamos uma imagem dos outros indivíduos que
8 Todos os trechos citados de outra língua têm tradução livre.

41
nos cercam que pode, obviamente, não ser idêntica ao seu ser real, pois se constitui em uma
representação. Se os indivíduos fazem parte de um determinado círculo de profissão ou de
interesses, eles vêem os demais “não de um modo puramente empírico, senão sobre o
fundamento de um a priori que esse círculo impõe a todos que dele participam”. (SIMMEL,
1939, p. 40) De acordo com o autor, essa suposição que os indivíduos fazem a respeito do outro,
pelos círculos a que pertencem, é um dos meios que dispõem para conferir as suas personalidades
e individualidades, na representação do outro, a qualidade e a forma necessárias para sua
sociação. Ele também ressalta que isso pode ser aplicável às relações que os diferentes círculos
mantêm entre si, ou seja, não necessariamente os indivíduos devem participar de tais círculos
para que possam representar o outro a partir de um fundamento que o círculo impõe.
A segunda forma refere-se a uma outra categoria por meio da qual os indivíduos se vêem
a si mesmos e uns aos outros, podendo assim produzir a sociedade. Esta categoria é formulada a
partir de uma “afirmação trivial de que cada elemento de um grupo não é somente uma parte da
sociedade, mas também algo fora dela.” (SIMMEL, 1939, p. 41) Este princípio constitui a
condição positiva para que ele pertença à sociedade em outros aspectos, assim a índole de sua
sociação está determinada, pelo menos em parte, pela sua índole de “insociação”. O fato de o
indivíduo estar excluído de sua sociedade em algumas situações é importante para a sua
existência. Os indivíduos não são somente sujeitos das funções sociais que desempenham, pois “o
a priori da vida social empírica afirma que a vida não é completamente social.” (SIMMEL, 1939,
p. 43) Os indivíduos são produto e também membros da sociedade, mas essa forte presença do
social não dissolve inteiramente sua personalidade. O conteúdo da vida social pode ser
compreendido pelos antecedentes sociais, pelas relações mútuas das quais os indivíduos
participam, mas também pode ser explicado pela categoria da vida individual, orientada
exclusivamente em direção ao indivíduo. Os indivíduos existem tanto para a sociedade como para
si mesmos. De acordo com Simmel, a relação de interioridade e de exterioridade entre os
indivíduos e a sociedade caracteriza a posição do homem que vive em sociedade.
Como último ponto, o autor destaca que a sociedade é um produto de elementos desiguais.
A igualdade na sociedade é sempre equivalência de obras, posições e pessoas, nunca igualdade
entre os homens em sua estrutura, vida e destino, assim não abarca a totalidade da sociedade, mas
alguns aspectos da existência dos indivíduos. O a priori que Simmel tratará a partir do aspecto da
desigualdade é que cada indivíduo é chamado a ocupar um lugar determinado em seu meio

42
social, este é o suposto sobre o qual o indivíduo vive sua vida social. Dessa forma, a vida social
está pautada numa suposta harmonia entre o indivíduo e a sociedade, entretanto, como o próprio
autor chama atenção, isso seria uma sociedade conceitualmente perfeita, pois enquanto o
indivíduo não realizar este a priori de sua existência social não poderá dizer que está sociado
nem a sociedade será um conjunto contínuo de ações recíprocas. Para demonstrar este fato ele se
vale do exemplo das profissões, as quais para existirem necessitam de uma espécie de harmonia
entre a estrutura da sociedade frente aos impulsos individuais.
2.2 A Cidade em Revista: Simmel e o impacto de suas ideias para os autores da Escola de
Chicago – aproximações e distanciamentos
A Escola de Chicago deve ser mencionada por sua importância e pioneirismo em torno
dos estudos urbanos sob o enfoque da cultura, a partir de práticas etnográficas conduzidas por
seus pesquisadores. As concepções de cultura urbana formuladas pelos autores da Escola de
Chicago foram oriundas do vasto material gerado por tais pesquisas e pelo fato de seus
profissionais terem desenvolvido vários trabalhos sobre a cidade. Destaca-se que a Escola de
Chicago ao tomar a cidade como laboratório de análise formulou uma concepção espacializada
do social e socializada do espaço.9 É importante mencionar que o primeiro diretor do
Departamento de Sociologia e Antropologia daquela Escola, Albion Small10, estimulou seus
estudantes a pesquisar as próprias comunidades onde viviam, a analisar o “[...] o mosaico de
pequenos mundos, estudar sua história e levantar mapas de suas características. [...] usar a cidade
como objeto e campo de pesquisas.” (COULON, 1995, p. 15) De acordo com Coulon (1995) é
esta ideia que, 20 anos mais tarde, será utilizada de forma mais sistemática por Park e Burgess.
Os pesquisadores da segunda geração de sociólogos da Escola de Chicago marcaram a
sociologia dessa época com um tom reformador, visto que adotaram em suas pesquisas o trabalho
de campo para conhecer a cidade e resolver seus problemas sociais. Até então, a sociologia de
Chicago era fortemente marcada por um teor religioso, por uma orientação cristã presente desde
9 De acordo com Cuin & Gresle (1994, apud Frúgoli, 2007). 10 Dirigiu o Departamento de Sociologia e Antropologia da Escola de Chicago desde o seu surgimento em 1892 até 1924, quando se aposentou. (Coulon, 1995).

43
seus anos iniciais. O departamento de teologia mantinha laços estreitos com o departamento de
sociologia. O fundador, Henderson, e os pais dos que o seguiram, Vicent e Thomas, eram
pastores e Small estudara teologia antes de ser atraído pela sociologia. Isto explica porque parte
dos primeiros sociólogos da Escola de Chicago estiveram inclinados para o trabalho social e por
reformas sociais que eram permeadas pela caridade cristã. Já a segunda geração era caracterizada
como mais científica e desejava livrar-se de valores religiosos, para se ater ao espírito da
pesquisa. Isto configurou uma marca, uma distinção em relação à primeira geração de
pesquisadores. (COULON, 1995)
Para discorrer sobre essa “nova roupagem” da sociologia da segunda geração de
pesquisadores da Escola de Chicago, vale destacar os escritos de Robert E. Park que, em 191611,
discorreu sobre a cidade como um campo de investigação da vida em sociedade a partir de duas
dimensões: uma organização física e uma ordem moral no intuito de estabelecer espacialidades
onde estariam circunscritos o território e a questão moral. De acordo com Park (1987, p. 26) “a
cidade não é meramente um mecanismo físico e uma construção artificial. Está envolvida nos
processos vitais das pessoas que a compõem; é um produto da natureza e particularmente da
natureza humana.”. Vários são os autores12 que mencionam o fato de Park ter frequentado um
curso de Simmel, na Alemanha, no final do século XIX e começo do século XX e ter sido
influenciado por suas ideias. É como se Park tivesse conferido às ideias de Simmel sobre a
cidade, uma concretude no que se refere a localizá-las espacialmente. Isto significa que Park,
influenciado por Simmel. Como assinala Levine (1984, p. liii, liv) “a sociologia de Park era
concreta, dinâmica e orientada para o consenso social enquanto a de Simmel era abstrata,
estrutural e orientada para o dualismo sociológico.”
Cabe destacar aqui a forma peculiar como Park incorporou e disseminou as ideias de
Simmel na sociologia, o que o levou a enfatizar, em termos metodológicos, os fatos empíricos
experimentados pelos indivíduos em coletividades concretas, diferentemente de Simmel que
tomou como referência de suas análises tipos analiticamente abstratos de interação social. Além
disso, Park buscou identificar formas de socialização marcadas pelo consenso, o que também
estabelece uma distinção em relação a Simmel que priorizou enfatizar os fatos sociais baseados
em dualismos. Dessa forma, é possível dizer que a influência de Simmel nas reflexões de Park foi
marcante. Para demonstrar a evidência de tal influência, Levine (1984) destaca alguns pontos por 11 Ano da primeira publicação do texto “A cidade: sugestões para a investigação do comportamento humano no meio urbano”. 12 LEVINE (1984), COULON (1995), EUFRÁSIO (1995), FRÚGOLI (2005 e 2007) entre outros.

44
meio dos quais se pode observar como a sociologia de Park esteve ligada a Simmel. O primeiro
ponto é relativo ao fato da sociologia ter como objetivo descrever os tipos ideais de formas de
interação social abstraídas de seus conteúdos; em segundo lugar estaria o fato de que a sociologia
deve levar em conta a emergência das formas de interação e a oscilação existente entre aquelas já
estabelecidas e os processos espontâneos a partir dos quais elas ocorrem; a ideia de distância
social também foi utilizada por Park para analisar a posição dos tipos sociais resumidos pela ideia
do estrangeiro de Simmel e trabalhado por Park a partir do homem marginal; o quarto ponto é
referente à ideia de interação circular, ou seja, um estímulo recíproco contínuo e, por fim, o
conjunto de ideias relativas ao conflito: oscilação entre conflito e acomodação, a relação entre
hostilidade fora do grupo e a moral interna, as possibilidades que o grupo provê para estabilizar a
estrutura social.
Sobre esses aspectos Levine (1984) ainda destaca que Park mudou o caráter chave em
dois pontos das ideias de Simmel: a definição de fato social e a principal referência da interação
foi trocada de transação para ação orquestrada. Essa ação significa o aspecto dinâmico da ordem
moral e do controle social e, diferentemente de Simmel, que assinalava que a sociologia era a
ciência das formas de sociação pura e simples, Park enfatizou que a sociologia era a ciência do
comportamento coletivo. Neste ponto fica clara a influência complementar de Durkheim no que
se refere à regulação moral como aspecto essencial da vida social, sendo que Simmel, ao
contrário, descreve as normas como fenômenos secundários da interação social. Em sua tese13
Park buscou sintetizar essas duas visões assinalando que os grupos humanos tinham dois traços
distintivos: um conjunto de processos de interações e um desejo geral manifestado
subjetivamente na consciência e objetivamente a partir de dois tipos de interação, uma que é
normativamente regulada e outra que não o é. Esta última está baseada na competição existente
no cotidiano na luta pela sobrevivência com um paralelo entre processos similares nas
comunidades dos animais e das plantas, constituindo o que Park denominou como ordem biótica
ou ecológica. Nos grupos humanos os efeitos dessa ordem eram sempre modificados pelos
processos de interação que compõem a ordem moral e social. O controle social para Park era,
então, visto como fato e problema central da sociedade, diferentemente de Simmel que assinalava
a importância das associações humanas independentemente das prescrições sociais.
13 A tese de Park girava em torno das massas e o público como formas distintas de organizar a sociedade (Becker, 1996).

45
Essa mudança processada por Park em torno de alguns aspectos da sociologia simmeliana
justificam-se por questões metodológicas que, inclusive, delineiam a sociologia de Park e seus
alunos. São três os aspectos que devem ser realçados: o foco empírico de Park voltado para
analisar tipos de interação social a partir de coletividades concretas mais do que coletividades
abstratas; seu foco de explicação estava centrado na forma como os tipos de coletividades
existiam, persistiam e mudavam, mais do que nas implicações estruturais de um tipo particular e,
por fim, ao relegar a competição e o conflito para a esfera do presocial ou subsocial conduz a
uma identificação da socialidade consensual, mais do que a concepção de que os fatos sociais são
baseados em dualismos.
As aproximações e distanciamentos entre Park e Simmel foram importantes para
enriquecer o debate sociológico, bem como as produções em torno de questões presentes no
cenário citadino nas primeiras décadas do século XX. Isto se evidencia quando, por exemplo, a
partir da discussão sobre o conceito simmeliano de distância social, Park estimulou alunos14 a
construir índices de medida da distância social expressos em termos de intimidade, a partir da
qual membros de grupos étnicos variados preferiam se relacionar. Sobre a ideia de Simmel em
torno do estrangeiro Park articulou sua concepção de homem marginal e também encorajou
alunos15 a discorrer sobre essa articulação. Houve também estímulo junto aos seus estudantes
para que desenvolvessem pesquisas em torno dos aspectos da individualidade na metrópole a
partir das relações sociais e não do processo social.16
2.2.1 Park e a Escola de Chicago: os temas e os métodos de investigação
Um dos trabalhos de Park sobre a cidade que aqui merece destaque remete ao início do
século XX, mais precisamente 1916, ano em que publica o texto “A Cidade: sugestões para a
investigação do comportamento humano no meio urbano”. O título já enuncia o que seria a
preocupação da sociologia para Park: o comportamento humano, comportamento esse que seria
objeto de investigação no cenário urbano: a cidade, definida não somente a partir de suas
14 Emory Bogardus, J. P. L. Moreno, de acordo com Levine (1984). 15 Everett Stonequist. 16 Exemplo marcante dessa discussão é o texto de Louis Wirth “O Urbanismos como Modo de Vida” (1938).

46
características físicas e regras sociais, mas como um “[...] estado de espírito, um corpo de
costumes e tradições e dos sentimentos e atitudes organizados [...]” (PARK, 1987, p.26) que é
experimentado pelos indivíduos que nela vivem. De acordo com Park, existiam forças que
atuavam dentro de uma comunidade urbana que propiciavam a formação de determinado tipo de
agrupamento, ordenando sua população e suas instituições, e a ciência que descrevia a operação
de tais forças sobre as pessoas e instituições era a Ecologia Humana. Segundo Becker (1996) a
ideia de ecologia humana utilizada por Park, foi tomada da biologia que, inspirada na concepção
darwinista, estava interessada em estudar como diferentes animais e plantas ocupavam o
território, o espaço físico. Para Becker (1996), Park considerou essa ideia uma possível metáfora
para estudar como os diferentes grupos se localizavam na cidade de Chicago.
Cabe destacar, mesmo que de forma breve, algumas das questões que foram enunciadas a
partir do tema da ecologia urbana. De acordo com Eufrásio (1999), essa tônica ecológica foi
presente na fundação e formação da Escola de Chicago e seria falacioso rejeitar a Escola de
Chicago e desconhecer a dimensão espacial da pesquisa sociológica embasada no suposto vínculo
entre organização espacial da cidade e interpretação ecológica. Além disso, o autor salienta que é
importante frisar que as pesquisas empíricas da Escola de Chicago debateram com afinco as
concepções teórico-conceituais ecológicas, principalmente em relação ao ponto de vista mais
geral sobre a organização espacial da cidade como resultado de processos não-sociais, impessoais
e inconscientes de competição e luta pelo sustento. Tal como assinala Hannerz (1980), a ecologia
humana da Escola de Chicago foi representativa de um procedimento a priori que teve como
objetivo situar territorialmente certos fenômenos e seu enfoque etnográfico acabou por revelar
aspectos culturais e humanos mais relevantes.
Outro ponto que merece destaque deve ser aqui mencionado refere-se aos temas e objetos
de análise dos pesquisadores da Escola de Chicago, bem como aos métodos de trabalho e coleta
de dados por eles utilizados. Uma temática que se constituiu como alvo de investigações na
cidade de Chicago foi a imigração e a integração dos imigrantes em uma nova sociedade, fosse
esta um novo país ou uma nova cidade, como era o caso dos negros do sul dos Estados Unidos
que migravam para as grandes cidades. De acordo com Park (1921, apud COULON, 1995), as
interações entre os grupos sociais, fossem eles compostos por imigrantes ou nativos, eram
marcadas por processos de desorganização e reorganização. Esses processos constituíam-se de
quatro etapas: rivalidade; conflito; adaptação; assimilação. A rivalidade é inconsciente e

47
impessoal e existe em face de uma interação sem contato social. Já o conflito é consciente e
envolve o indivíduo de maneira profunda, ele é inerente à instalação dos indivíduos em um novo
ambiente. O conflito criaria uma solidariedade no interior de uma minoria e, por isso, tem caráter
político. A adaptação é relativa ao esforço que os indivíduos realizam para ajustarem-se às
normas sociais oriundas da rivalidade e do conflito. Nessa etapa, visto que coexistem grupos que
ainda são rivais, as relações sociais são organizadas para reduzir possíveis conflitos, controlar a
rivalidade e manter a segurança dos indivíduos. Na assimilação, que configura-se como a última
etapa dos processos sociais, ocorre uma diluição das diferenças entre os grupos e seus valores
podem misturar-se. Entretanto, para Park a assimilação não implica uma aceitação comum, uma
homogeneidade, mas a existência de um processo ao longo do qual os indivíduos participam
ativamente da vida em sociedade sem, contudo, perderem suas particularidades. Segundo Park,
assim como as diferenças raciais são acentuadas na sociedade industrial pela educação e pela
divisão do trabalho, a assimilação dos diferentes grupos étnicos realiza-se pela adoção de uma
língua única, de tradições e técnicas que são compartilhadas. A educação tem, então, um papel
importante na vida do imigrante em seu processo de aquisição de uma nova cidadania, pois é por
meio da escola que ele aprende as formas de vida americana, como a língua, a história do país e a
ideologia democrática. Vale ressaltar que em 1937 no prefácio que escreveu para a obra de
Romanzo Adams sobre casamento interracial, Park modificou sua teoria dos ciclos, assinalando
que a assimilação dos imigrantes pode assumir três formas: assimilação completa, elaboração de
um sistema de castas, tal como ocorre na Índia, e a persistência da existência de uma minoria
racial, como os judeus na Europa, por exemplo.
Duas investigações em torno das tensões raciais e interações étnicas conduzidas por
negros que haviam sido alunos de Park e Burgess merecem destaque. O estudo de Charles
Johnson17, sobre os tumultos raciais violentos que ocorreram em Chicago entre julho e agosto de
1919, revelou a influência de conceitos e métodos de pesquisa utilizados por Park e Burgess.
Foram realizadas observações de campo, histórias de vida, entrevistas com negros e brancos,
análise de reportagens publicadas no ano anterior ao conflito em jornais diários de brancos e
negros. A noção de processos de integração e desintegração em quatro etapas também foi um
conceito importante nesse trabalho. O estudo de Charles Jonhson foi resultado de sua
17 O estudo de Charles Johnson foi publicado em 1922 com o título The negro in Chicago: a study of race relations and a race riot em 1919 (COULON, 1995).

48
participação em uma comissão composta por negros e brancos para estudar as causas do conflito
de 1919 e apresentar recomendações, e entre as constatações realizadas mencionou-se a
existência de uma segregação clandestina contra negros. Outro trabalho importante foi a
investigação de Bertram Doyle18 sobre o papel das conveniências nas relações sociais étnicas do
sul dos Estados Unidos. Segundo Doyle, o objetivo das conveniências sociais era manter a
distância entre as raças, o que confirmava e reforçava o lugar de cada um na ordem social. Doyle
já havia feito mestrado19 em Chicago acerca dos problemas raciais. Sobre essas investigações
relativas às questões étnicas é importante mencionar que o teor das análises indica mais uma vez
a influência de Durkheim em estudos realizados pela Escola de Chicago.
Ainda em torno de questões relativas à imigração, foi solicitado a Park, no início dos anos
1920, que ele dirigisse uma pesquisa sobre tensões raciais entre os americanos e a população
asiática, especialmente a japonesa, localizada na costa oeste dos Estados Unidos. Os americanos
acreditavam, àquela época, que os japoneses exerciam uma concorrência desleal no mundo do
trabalho, pois nunca tiravam férias e se dispunham a trabalhar incessantemente. Essa questão
contaminou a opinião pública que passou a reclamar a exclusão dos japoneses da sociedade
americana. Frente a este fato, em 1924 o Congresso chegou a proibir novas imigrações japonesas
para os Estados Unidos. Neste momento a investigação conduzida por Park e vários parceiros
estava na metade e teve de ser interrompida por falta de recursos financeiros. A pesquisa havia
sido preparada a partir de métodos de coleta de dados baseados em entrevistas, histórias de vida
de japoneses da segunda geração que viviam desde a fronteira do Canadá até a fronteira com o
México. Para conduzir uma pesquisa desse porte Park contratou sociólogos das universidades da
costa oeste, entre os quais Emory Bogardus20 da Universidade da Califórnia do Sul, que tomou
como referência as quatro etapas do ciclo de integração dos imigrantes elaborada por Park e a
ampliou, reelaborando-a a partir de etapas cronológicas que deveriam ser vividas nas relações
entre a comunidade dos imigrantes e aquela onde se instalam. Diferentemente de Park, Bogardus
não encerra o ciclo de transformações dos imigrantes com a completa assimilação da cultura
americana, pois ele chega a mencionar como sétimo e último estágio das relações entre a
18 Doyle também era negro. 19 Sua tese de foi defendida em 1924 e teve como título Racial Traits od the Negro as Negroes Assign Them to Themselves.(COULON, 1995). 20 Emory Bogardus foi estudante da Escola de Chicago onde doutorou-se em 1911. Ele foi o autor da escala que media estatisticamente a distância social entre diferentes grupos sociais, especialmente os de etnias diferentes.

49
comunidade de imigrantes e aquela que o acolhia, o hibridismo cultural, vivenciado a partir da
segunda geração de imigrantes.
As ideias de Park sobre relações étnicas também foram contestadas por William Brown
que nos anos 1930 defendeu o fato de que o conflito é endêmico e não apenas uma etapa da
história das relações étnicas entre duas comunidades e, por isso, é impossível haver uma
assimilação completa da comunidade negra em relação aos brancos, por exemplo. Franklin
Frazier, ainda na década de 1930, também partilhou da posição de Brown em relação às relações
interraciais, assinalando que a assimilação não se constituiria como a última etapa do ciclo, pois
este se encerra com o estabelecimento de dois sistemas raciais distintos que acabam por ocupar
zonas urbanas diferentes. Diferentemente de Park, que considerava que as etapas da assimilação
eram cronológicas e irreversíveis, Frazier chamou atenção para o fato de que certas etapas
poderiam se repetir ao longo do ciclo por diferentes gerações, pois a adaptação limita, mas não
elimina o conflito.
Outro tema fortemente explorado pela Escola de Chicago foi a criminalidade, abordada a
partir dos conceitos de desvio e delinqüência como algo que marcava o tecido urbano da cidade e
afetava, especialmente, os filhos de grupos de imigrantes instalados em Chicago. Muitos deles
eram praticantes de pequenos delitos e isso, naquele momento, era considerado um grande
problema. Em 1923 foi publicado um estudo sobre as gangues de Chicago, baseado na tese de
doutorado de Frederic Thrasher e, no seu prefácio, Park assinalou que uma gangue representa um
tipo específico de sociedade e deve ser estudada em seu habitat particular como uma forma de
associação humana. Acrescentou ainda que seu surgimento é espontâneo, mas necessita de
condições favoráveis em um meio definido.21
Com a intensificação dos conflitos entre gangues em 1924 na cidade de Chicago,
pesquisadores do departamento de sociologia realizaram ampla pesquisa sobre a criminalidade,
visto que as estatísticas apresentaram o aumento de crimes. Os trabalhos sobre o crime e a
delinquência juvenil destacaram-se entre as pesquisas realizadas naquele momento. Em 1929
John Landesco publicou uma obra sobre o crime organizado em Chicago, apontando os fatores
sociais que auxiliavam a compreensão do comportamento criminoso a partir de histórias de vida
de gangsters e um recenseamento dos principais criminosos, que receberam uma classificação
por tipo de crime cometido. Também em 1929 foi publicada uma obra de autoria de Clifford
21 Cf. COULON (1995, p. 62).

50
Shaw, Frederic Zorbaugh, Henry McKay e Leonard Cottrell sobre delinquência urbana, que
contou com o recenseamento de 60 mil vagabundos, criminosos e delinqüentes de Chicago,
apresentando como resultado da pesquisa o fato de que as taxas de criminalidade variavam de um
bairro para outro. Os bairros mais próximos de centros comerciais e industriais com população de
baixa renda tinham taxas mais altas de criminalidade, diferentemente dos bairros residenciais da
periferia da cidade, que contavam com uma população mais rica. Em 1942 Cliffor Shawn e
Henry McKay publicaram mais uma obra sobre delinqüência urbana que, segundo Burgess, foi o
mais importante estudo sobre criminologia, pois não circunscrevia a análise da cidade de
Chicago, estabelecendo comparações com outras grandes cidades americanas e contribuindo para
ampliar a análise anterior do final dos anos 1920. De acordo com Shawn e McKay os fenômenos
relacionados à delinqüência e à criminalidade deveriam ser analisados considerando-se os
aspectos econômicos, a mobilidade da população e sua composição heterogênea.
Outra obra sobre delinquência juvenil que se tornou clássica22 foi publicada em 1930 por
Clifford Shawn e reconstituiu a trajetória de um garoto que foi acompanhado durante seis anos e
revelou a importância da história de vida, aliado a outras fontes documentais, como um
procedimento de coleta de dados da pesquisa sociológica. Um ano depois Shaw publicou outra
com esse tema, também a partir da história de um rapaz que ele acompanhou por um longo
período, realizando contatos diretos e entrevistas com o sujeito autobiografado.
Mais um estudo autobiográfico se destacou na Escola de Chicago, a obra de Edwin
Sutherland, publicada em 1937, sobre um ladrão profissional que exerceu o ofício por mais de
vinte anos. De acordo com Sutherland, a profissão de ladrão está relacionada a uma vida em
grupo e a uma instituição social com suas regras, tradições, técnicas e organização. Segundo
Coulon (1995), Sutherland seria “pai” da sociologia da delinqüência, considerando a
criminalidade como conseqüência de um processo social. A importância do seu estudo acabou
por influenciar as teorias modernas sobre desvio.
Em se tratando da metodologia utilizada pelos pesquisadores da Escola de Chicago é
importante mencionar uma característica que se constituiu em uma de suas marcas: os estudos
empíricos, sendo a maioria orientados por Park. Tais estudos não eram puramente qualitativos ou
quantitativos, aliás, esse foi um traço dos autores do início da Escola de Chicago. Os métodos de
estudo de Park eram bastante ecléticos, não se prendendo a uma determinada perspectiva
22 “The jack-roller: a delinquent boy´s own story”.

51
metodológica. Isso se tornou um dos pontos mais emblemáticos do modo como Park realizava
suas pesquisas: a utilização de um conjunto variado de formas de coleta de dados. Um aspecto
importante a ser lembrado é que a sociologia de Chicago ao fazer uso dessa diversidade de
procedimentos metodológicos contribuiu enormemente para o desenvolvimento de pesquisas
qualitativas, mas é também essencial que não se perca de vista o fato de que esse mesmo
ambiente acadêmico começou entre os anos 1930 e 1940 a desenvolver uma sociologia
quantitativa que contaminaria a sociologia americana a partir da Segunda Guerra Mundial.
“Chicago, portanto, não foi apenas o reino do paradigma qualitativo, mas foi igualmente um dos
cadinhos em que se formou o paradigma quantitativo.” (COULON, 1995, p. 83)
No artigo clássico “A cidade”, Park já enunciava a possibilidade de utilizar métodos de
observação tal como os antropólogos Boas e Lowie se valeram em seus estudos sobre os índios
norte americanos, para investigar os costumes, crenças, práticas sociais e visões de mundo tanto
em bairros da cidade de Chicago, como de Nova York ou Washington. Essa concepção de como
a cidade poderia ser estudada tem estreita relação com a forma como Park concebia o ambiente
citadino: um verdadeiro laboratório propício ao desenvolvimento de pesquisas sociológicas que
se dedicassem a estudar o homem em seu próprio ambiente e sua recomendação era sempre no
sentido de usar diversos métodos de observação.
Uma das primeiras grandes obras23 da Escola de Chicago publicada entre 1918 e 1920,
que foi considerada por muito tempo como o modelo da sociologia americana, teve como marco
o fato de utilizar desde a pesquisa em bibliotecas até o trabalho de campo. A proposta de Thomas
e Znaniecki, autores da obra, era estudar de forma empírica a vida dos camponeses poloneses
tanto em sua terra natal como nos Estados Unidos com vistas a entender em que medida o
comportamento dos poloneses na América poderia ser explicado pelos hábitos de seu país de
origem. Para tanto, colocaram em prática a orientação de utilizar os mais diversos tipos de
observação e romperam com tradições anteriores e, assim, inauguraram novos tipos de
documentos de pesquisa como os históricos de vida, as correspondências pessoais, os diários e
ainda os relatos pessoais e testemunhos diretos, o que fez com que levassem em conta o ponto de
vista subjetivo dos indivíduos diretamente envolvidos na pesquisa, mas sem desconsiderar a
possibilidade de construir uma sociologia científica a partir de tais subjetividades. Apesar das
inovações, eles não fizeram uso de procedimentos hoje considerados clássicos como as
23 “The Polish Peasant in Europe”.

52
entrevistas e a observação. Um dos autores, Thomas, considerava que a entrevista era da parte do
entrevistador uma manipulação do entrevistado, mas mesmo com essa concepção aceitou coletar
testemunhos de diversos informantes como professores e assistentes sociais. Thomas e Znaniecki
seguiram a risca a recomendação de Park que acreditava na construção de uma sociologia
científica que rompesse com a assistência social e que alcançasse a objetividade por meio da
subjetividade dos sujeitos investigados. Os procedimentos por eles utilizados acabaram tornando-
se referência para outros trabalhos da Escola de Chicago. Por exemplo, os testemunhos diretos
foram utilizados nos estudos de Johnson sobre os conflitos raciais de 1919 complementados pelas
entrevistas e por 17 históricos de vida que se constituíram como fontes importantes.
O histórico de vida, apesar de não ter sido tão utilizado pelos sociólogos de Chicago,
aparece como procedimento importante nos trabalhos sobre criminalidade e delinqüência,
especialmente os estudos de Sutherland (1937) sobre o ladrão profissional, de Shaw (1930) sobre
delinqüência juvenil e de Anderson (1923) sobre os trabalhadores migrantes conhecidos como
hobos.
No caso do trabalho de campo e da observação participante Park era defensor da ideia de
que o pesquisador observa, mas não participa, por isso recomendava aos pesquisadores que
mantivessem uma atitude distanciada. Essa postura estava relacionada ao fato de Park estar
preocupado com a efetivação da cientificidade da sociologia e seu completo distanciamento de
ações que buscassem aliviar as misérias sociais, pois seu papel era entender as relações sociais e
para tanto era necessário a profissionalização para, inclusive, diferenciar-se da assistência social.
Para isso era necessário que os sociólogos adotassem a objetividade, o distanciamento em relação
aos problemas investigados, para que fosse possível definir a fronteira da pesquisa científica.
Segundo Coulon (1995) esta posição de Park estava próxima de um argumento positivista,
prevendo que o pesquisador não deve interferir na realidade estudada para que a “natureza” possa
falar. A pesquisa participante não foi, então, sempre utilizada nas pesquisas da Escola de
Chicago, talvez pelo fato de que nem sempre as pesquisas empíricas contassem efetivamente com
a observação participante como procedimento da pesquisa de campo, isto porque, de acordo com
Coulon (1995), os pesquisadores não tinham necessariamente consciência de estar utilizando esse
método e tampouco assim o conceitualizavam. Entretanto, é importante dizer que no cômputo
geral das pesquisas importantes que ali foram realizadas antes da Segunda Guerra Mundial, é

53
possível identificar as efetivas aproximações com a perspectiva da observação participante no seu
sentido mais geral.
Entre as mais de 40 teses defendidas na Escola de Chicago entre 1915 e 1950 somente
duas efetivamente utilizaram a observação participante com o pesquisador assumindo um papel
em tempo integral no grupo estudado, sete utilizaram a participação parcial do pesquisador e as
demais não utilizaram técnica de observação.
O famoso estudo de Thrasher (1927) sobre as mais de 1.000 gangues de Chicago não
menciona a realização da observação participante como forma de coleta de dados, visto que ele
não teve nenhuma inserção efetiva no grupo estudado. As poucas referências aos procedimentos
metodológicos utilizados dizem respeito à realização de entrevistas num total de 130, em grande
parte com assistentes sociais, bem como com jornalistas, policiais e políticos locais. Foram
também reunidos 20 históricos de vida de jovens gângsters. A pesquisa de Anderson (1923) sobre
o hobo contou com uma forma de observação participante, pois ele passou a viver em hotéis em
busca de encontros com os sujeitos sem moradia fixa que deslocavam-se em função do trabalho.
Em sua autobiografia mencionou que vivera de forma semelhante aos hobos, pois mudava com a
família constantemente. Mesmo não sendo um hobo pode estar próximo deles e acessar a visão
do interior do grupo, visto que era aceito e reconhecido pelos hobos pelo fato de já ter estado
próximo a eles no passado, bem como pelo fato de ter familiaridade com a vizinhança, onde, por
exemplo, já havia realizado venda de jornais quando ainda criança. Sua pesquisa é representativa
de um universo de outros trabalhos porque os pesquisadores, assim como Anderson, acabaram
por estudar “mundos” que tinham acesso.
Outro trabalho importante em relação à utilização da observação participante foi realizado
por Cressey (1932) sobre as dançarinas profissionais de clubes noturnos. Cressey (1932 apud
COULON, 1995) mencionou no prefácio da obra que a coleta de dados foi realizada por meio de
documentos de instituições sociais e dos relatos dos observadores e pesquisadores que foram
enviados aos locais de trabalho das dançarinas para se misturarem com os clientes e poderem
penetrar no mundo social e moral daquele universo, eles se comportavam com anônimos, como
clientes buscando encontros casuais. Os dados das observações foram complementados com
entrevistas e históricos de vida, realizados posteriormente com as dançarinas ou com clientes. De

54
acordo com Hannerz (1980) o trabalho de Cressey foi uma das últimas etnografias conhecidas da
primeira fase da Escola de Chicago.
O estudo de Zorbaugh (1929) também pode configurar como exemplo de utilização de
certo tipo de observação participante. Certo tipo, porque ele efetivamente não assumiu um papel
no bairro de Chicago que abrigava ao mesmo tempo uma zona residencial rica e outra pobre,
sendo essa última, território da criminalidade e da delinqüência juvenil. Ele fez pesquisa de
campo recolhendo dados por meio de entrevistas, históricos de vida, relatos escritos junto aos
moradores e analisou tais informações a partir dos documentos de arquivos de várias agências de
serviço social. O elemento original de sua pesquisa está no fato de ter solicitado testemunhos
junto a diferentes públicos do bairro, desde crianças da escola primária, até os assistentes sociais.
É importante mencionar também o trabalho de William Foot Whyte (1943)24 sobre a
comunidade italiana localizada em um subúrbio de Boston. Em sua primeira edição o autor
enunciou sua postura teórica relacionada ao interacionismo e à Escola de Chicago, ressaltando
que essa última tornou claro que o conhecimento do mundo social a ser investigado deve ser
adquirido a partir da vivência naquele mundo, da participação nas atividades cotidianas dos
indivíduos. Somente na edição de 1955 é que elaborou um anexo metodológico confirmando a
utilização da observação participante.
Um traço relevante no que se refere às considerações metodológicas das pesquisas
realizadas pelos autores da Escola de Chicago é que naquele momento25 as questões
metodológicas não se constituíam como objeto de reflexão e de sistematização de conhecimento
da sociologia americana. Sendo assim, não era usual refletir em torno dos procedimentos de
coleta de dados utilizados, é como se fosse “natural” para os sociólogos que as investigações
ocorressem a partir do uso de fontes diversas de observação e de documentos, fossem eles os
relatórios e arquivos de instituições sociais ou as fontes bibliográficas. Além do fato de que Park
e Burgess encorajavam a prática de uma sociologia de teor qualitativo, é válido lembrar que o
Departamento de Sociologia esteve unido ao de Antropologia até 1929 e que as técnicas
etnográficas utilizadas nas pesquisas de campo não necessitavam, por parte dos sociólogos, de
outra legitimação além daquela já conferida pelos antropólogos e seus trabalhos. Além disso, o
que é mais relevante sobre as questões metodológicas utilizadas pelos pesquisadores daquela
24 “Street Corner Society: the social structure of an italian slum”. 25 Principalmente os primeiros 40 anos do século XX, ou o período anterior a Segunda Guerra Mundial que caracterizam a Escola de Chicago como tal.

55
Escola é o fato de que ela pode ser considerada o local onde se desenvolveu uma variedade de
abordagens empíricas, inclusive a observação participante, que contribuiu para investigar a
diversidade de questões do universo da sociologia urbana e pelo fato “[...] de ter inaugurado, em
resumo, a indagação sociológica direta junto aos indivíduos, deixando assim para trás a
sociologia especulativa que marcara a época precedente.” (COULON, 1995, p. 115)
A partir de 1940 a sociologia americana desenvolveu consideravelmente as técnicas
quantitativas impulsionadas, inclusive, pelo exército americano que financiava pesquisas. Se o
período anterior foi marcado por procedimentos qualitativos, a partir de meados dos anos 1940 o
modo dominante de reconhecimento científico na sociologia passou a residir nas análises
estatísticas. De acordo com Coulon (1995) o aumento da visibilidade da sociologia quantitativa
coincidiu com a extinção da segunda geração de pesquisadores de Chicago, já que, no final dos
anos 1930, Park aposentou, Burgess o fez em 1951, em 1952 Wirth morreu e Blummer foi para a
Universidade da Califórnia. Apesar das perdas, graças às lições de Blummer e Everett Hughes
que lecionou em Chicago de 1938 até 1961, os pesquisadores foram formados e também
contribuíram com a sociologia americana, entre eles figuram E.Goffman, H. Becker e D.
Riesman.
Terminada a Segunda Guerra Mundial, a Escola de Chicago, de certo modo, deixou Chicago; o próprio Departamento voltou-se, como instituição, para uma perspectiva mais ligada ao survey e à pesquisa quantitativa, tornando-se menos aberto a estudos com abordagem antropológica. No entanto, autores como Goffman, eu mesmo, Eliot Freidson e vários dos alunos de Hughes, Warner e Blummer saímos para outros centros no país e começamos a ensinar. De modo que em determinado momento as pessoas começaram a dizer: não, a Escola de Chicago não está em Chicago, mas na Califórnia; ou então, ela está em Chicago, mas não na Universidade de Chicago e sim na Northwestern University, do outro lado da cidade. Nesse sentido a Escola tornou-se uma espécie de perspectiva ou opinião global, e eu não sei muito bem se seria honroso chamar essa perspectiva de teoria, ou se seria. embaraçoso considerá-la assim, porque na verdade ela é um modo de pensar, uma maneira de abordar problemas de pesquisa que estão muito vivos e presentes em boa parte do trabalho feito hoje em dia. (BECKER,1996, p.187,188)
Adotando essa perspectiva de Becker, qual seja, tratar a Escola de Chicago como um modo de
pensar o urbano e suas questões que ainda estão vivas no cenário contemporâneo, e tomando-a
como inspiração é que passo agora a me aventurar por abordagens mais contemporâneas em
torno da cidade.

56
2.3 Outros Olhares Sobre a Cidade
Os grupos urbanos produzem cotidianamente formas e padrões de comportamento que
organizam a forma como interpretam a realidade, daí a diversidade de lógicas que perpassam os
modos de viver na cidade. Aliada a esta questão da diversidade cultural presente no cenário
urbano, cabe mencionar uma abordagem que alia comportamento cultural e sistema de
comunicação no intuito de conhecer a estrutura urbana e social. A referência a este aporte
analítico encontra-se em Méier “A Communication Theory of Urban Growth” (apud BARROS,
2007) que ainda nos anos 1960 assinalou que por meio da observação do comportamento do
homem da metrópole, seja qualitativa e/ou quantitativamente, em relação às informações do
plano econômico, ecológico, psicológico e social, a comunicação humana é o elemento comum.
Isto significa que os processos de comunicação e troca engendrados pelos homens metropolitanos
no plano do mercado, na transmissão de padrões e modelos de comportamento são válidos para
que se construa uma teoria do desenvolvimento humano. A partir dessa perspectiva, a cidade é
concebida como um sistema de trocas necessárias para que os homens possam estabelecer
processos comunicacionais entre si, a cidade é, então, lugar de trocas tanto no plano do mercado
quanto no da cultura.
A cidade é representação e, ao mesmo tempo, gera representações de si mesma. Como
representação a cidade é percebida a partir de seu plano urbano quer este tenha sido constituído
para a construção da cidade, quer tenha sido “escrito” posteriormente ao seu desenvolvimento. Os
planos de cidade quando realizados antes de sua construção já trazem em si uma visão de mundo
dos urbanistas ou engenheiros que o elaboram. Entretanto, é importante frisar que mesmo com a
existência de um plano, os habitantes da cidade, de forma microscópica, contribuem para que
seus trajetos cotidianos pelas ruas se revelem, também, como suas visões de mundo. Isto implica
dizer que para além do plano dos urbanistas, a cidade pode ser examinada a partir da perspectiva
de sua construção no imaginário de seus habitantes.
Em torno dessa perspectiva encontra-se a contribuição de Lynch (1988) que analisou três
cidades americanas a partir da imaginação de seus habitantes. Para tanto, trabalhou em torno das
noções de “imaginabilidade” e “legibilidade”. Para Lynch (1988, p. 13), “[...] uma cidade legível
seria aquela cujas freguesias, sinais de delimitação ou vias são facilmente identificáveis e

57
passíveis de agrupamento em estruturas globais” A imaginabilidade diz respeito à relação que o
observador estabelece com o meio, a partir da qual dotará de sentido determinadas edificações,
ruas, praças, trajetos ou bairros inteiros. “As imagens do meio ambiente são resultado de um
processo bilateral entre o observador e o meio. O meio ambiente sugere distinções e relações, e o
observador – com grande adaptação e à luz dos seus objectivos próprios − selecciona, organiza e
dota de sentido aquilo que vê.” (LYNCH, 1988, p. 16)
Essa perspectiva vai ao encontro de uma outra abordagem que concebe a cidade como um
texto. Esta última promoveu uma renovação nos estudos urbanos. Uma de suas referências
encontra-se nos estudos semióticos. De acordo com a concepção de que a cidade pode ser
compreendida como um texto, seu leitor privilegiado será o habitante, ou mesmo o visitante, que
se desloca pela cidade seja para realizar suas atividades e práticas cotidianas, no caso do
habitante, seja para realizar atividades excepcionais no caso do turista. Ao se deslocar pela
cidade, tanto o habitante como o visitante assimilam uma paisagem urbana por meio de um olhar
específico, tais sujeitos estariam como que sintonizados com a ação de decifrar a cidade, assim
como o leitor que decifra um texto, uma escrita.
De acordo com Barthes (1994, p. 184) “a cidade é um discurso, e esse discurso é
verdadeira linguagem: a cidade fala aos seus habitantes, nós falamos a nossa cidade, a cidade
onde nós nos encontramos simplesmente quando a habitamos, a percorremos, a olhamos.” Com
efeito, os habitantes, bem como os estudiosos da cidade, a partir dessa abordagem assinalam que
ela pode dizer, por exemplo, sobre critérios de segregação presentes na sociedade por meio dos
vários compartimentos em que se dividem os acessos e interditos, pode dizer sobre a
materialização de preconceitos e da hierarquia social do espaço citadino. A paisagem da cidade
fala dos aspectos relativos à produção material, de seus monumentos, de seus pontos simbólicos
referentes à vida mental de seus habitantes e dos que a visitam, o trânsito evoca suas diversas
atividades, seus mendigos enunciam a pobreza. Frente a essas e outras características que podem
ser lidas na paisagem urbana é que sociólogos, historiadores, urbanistas, antropólogos entre
outros passam a decifrar a cidade a partir de meados do século XX.
O desenho das ruas, a distribuição das habitações e dos monumentos podem ser tratados
como a escrita arquitetônica de uma cidade, uma escrita que pode ser lida sincronicamente, pois
fala daqueles que habitam a cidade, mas também pode ser lida diacronicamente ao permitir
decifrar a história dessa cidade. A leitura diacrônica é possível porque as temporalidades vão se

58
superpondo, permitindo, muitas vezes, o convívio do velho com o novo, do passado com o
presente, seja nas habitações e/ou outras edificações, seja nos modos de vida de determinados
bairros da cidade. É importante salientar que os habitantes reescrevem permanentemente a
cidade, mesmo que de forma imperceptível na passagem de um dia para o outro, mas notável ao
passar do tempo quando então edificações em zonas nobres transformam-se em símbolos de
perigo, casarões que abrigaram os ricos podem ser moradia de várias famílias e configuram-se
como espaços habitacionais deteriorados e marginalizados, o próprio valor imobiliário de
determinadas regiões da cidade pode variar ao longo do tempo.
Ainda em torno da ideia da cidade como texto, é importante mencionar que tal imagem
traz consigo uma dupla implicação: um texto pode ser definido como algo que pode ser lido, mas
também como algo que é escrito. Sendo assim, pesquisadores que se valem dessa abordagem
tomam a cidade como um texto na sua dimensão de objeto de leitura, enquanto que os habitantes
que se deslocam cotidianamente pela cidade podem relacionar-se com essa ideia da cidade-texto
tanto do ponto de vista da escrita como da leitura. Atento a este ponto, Lynch (1988) em sua
discussão sobre a imagem mental que os habitantes têm de suas cidades, assinalou que “os
elementos móveis de uma cidade, especialmente as pessoas e as suas atividades, são tão
importantes como suas partes físicas e imóveis. Não somos apenas observadores deste
espetáculo, mas sim parte activa dele, participando com os outros num mesmo palco.” (LYNCH,
1988, p. 11,12) Isso implica dizer que as pessoas que circulam pela cidade são como parte do
espetáculo urbano, e não meros observadores, que podem não somente ler o texto urbano, mas
também reescrevê-lo. Além disso, ele pode também ser um dos personagens que fazem parte da
construção do texto urbano, ou seja, ele é leitor, escritor e personagem de uma narrativa que
reflete sua forma de decifrar a cidade.
Ao enunciar que a cidade é um discurso, Barthes (1994) nos remete a uma outra questão,
pois torna possível pensa-la não somente como um texto escrito, mas também como um
enunciado lingüístico. Próximo a essa perspectiva, encontra-se Certeau (2003) que também
assinala que a cidade pode ser comparada à língua e os pedestres que nela caminham atualizam e
reinventam essa língua. “O ato de caminhar está para o sistema urbano como a enunciação (o
speech act) está para a língua ou para os enunciados proferidos. [...] O ato de caminhar parece
[...] encontrar uma primeira definição como espaço de enunciação.” (CERTEAU, 2003, p. 177)
Ao caminhar pela cidade, os pedestres individualmente apropriam-se de um sistema topográfico

59
(assim como nos apropriamos da língua) e, ao mesmo tempo, realizam esse sistema em sua
trajetória. No ambiente urbano o pedestre insere-se numa multiplicidade de discursos enunciados
pelos vários outros caminhantes da cidade e pela própria forma de organização dos espaços (ruas,
avenidas, praças, calçadas entre outros) por onde transita.
Seguindo essa perspectiva, Ferrara (1986) chama atenção para os usos implementados em
espaços da cidade como expressão da fala do citadino, como sua linguagem.
Ruas, avenidas, praças, monumentos, edificações configuram-se como uma realidade sígnica que informa sobre o seu próprio objeto: isto é o contexto. Entretanto, o elemento que aciona essa percepção global e contínua, que estabelece seleções e relações em um repertório contextual é o usuário e o uso é sua fala, sua linguagem. O uso é uma leitura da cidade na relação humana das suas correlações contextuais. (FERRARA, 1986, p. 120)
Se é possível dizer que existe um sistema urbano que tem sua materialidade, suas formas,
seus interditos e possibilidades, ruas, avenidas, becos, muros, espaços de comunicação e espaços
de segregação, trânsito e códigos que regulam as práticas de determinados lugares da cidade,
existe um modo de usar esse sistema. Se o contexto urbano é uma língua a ser decifrada, há
também o modo como os falantes, ou seja, os pedestres e habitantes da cidade, utilizam e
atualizam essa língua, criando inclusive sistemas lingüísticos particulares e específicos de certos
lugares da cidade.
Não como uma contraposição à imagem da cidade como texto, mas como uma
complementação, é válido acrescentar a ideia de cidade sob o enfoque da fenomenologia
existencial26, a cidade compreendida como espaço vital, um território multidimensional que se
configura por “ambiências emocionais” anteriores à geometria espacial da cidade. Nesse sentido,
é a partir dos olhares, dos gestos, dos itinerários, das práticas sociais de seus habitantes, de seus
dramas e intrigas, de suas formas de sociabilidades e linguagem que reenviam as projeções
individuais e coletivas dos traços de uma cultura, que a cidade se mostra ao olhar antropológico.
Ela ressurge, então, como espaço de manifestação expressiva dos gestos humanos que lhe fazem
ser compreendida como espaço habitado repleto de histórias e imagens que lhe são atribuídas.
Os espaços urbanos construídos e vividos, como objeto etnográfico, vão se revelando não como meros reflexos de políticas urbanísticas, mas como suportes de tradições e biografias de seus habitantes cujas narrativas expressam uma linguagem coletiva que
26 Cf. ROCHA e ECKERT, 2005.

60
comunica uma pluralidade de identidades e memórias, remetendo seus territórios aos pretextos e às manipulações humanas. Neste sentido, os espaços públicos ou outros do domínio privado fornecem o suporte material de um investimento simbólico referido ao cotidiano afetivamente significativo de seus grupos sociais. (ROCHA e ECKERT, 2005, p. 87-88)
Sendo assim, Rocha e Eckert (2005) destacam que em torno dos itinerários urbanos e das
narrativas produzidas pelos habitantes das grandes cidades, a partir do que viveram/vivem em tal
cenário é que se coloca o desafio de restituir legibilidade à cultura nas sociedades
contemporâneas, conferindo-lhes, ao mesmo tempo, o sentido da existência da vida comunitária
em seu interior e uma reatualização de seus tempos tão plurais. Pensar a cidade dessa forma, é
tratá-la como objeto temporal, é reconhecê-la por meio das narrativas e dos itinerários dos
indivíduos e grupos que constantemente reinventam práticas de interação. Além disso, a cidade
pode ser compreendida como uma obra temporal cujos territórios e lugares são sempre relativos
ao enraizamento de uma experiência de vida comunitária que é constantemente reordenação de
um viver coletivo. Assim, para que se possa entender o processo dinâmico de mutação das formas
de vida nas cidades contemporâneas é necessário considerar tanto a narração dos seus habitantes
em torno do tempo presente por eles vivido quanto investigar a cidade como objeto temporal a
partir da forma como os mesmos habitantes compreendem a ordenação e a superposição
temporal: tempo vivido, tempo recusado, tempo passado. Nesse caso, é preciso tomar a noção de
“tempo social” compreendido como produto de um processo de consolidação temporal que é
vivido por uma comunidade, resultado da hierarquização de um conjunto de instantes e de
rupturas em suas trajetórias.
Ao assinalarem que os estudos antropológicos sobre o tempo impresso na vida urbana das
cidades brasileiras apresentam uma tensão entre as transformações econômico-sociais e o vivido
humano, Rocha e Eckert (2005) apontam que se torna necessário enfrentar a problemática da
individuação na sociedade urbana e do processo de fragmentação/universalização de realidades
diversas entre seus grupos sociais. É, então, importante estar atento à dinâmica da continuidade e
descontinuidade de universos simbólicos expressas nos territórios de vida urbana no Brasil, onde
os grupos sociais e os indivíduos experimentam, num mesmo espaço, relações muito diversas
sejam elas isoladamente ou por meio de associações ou redes mais ou menos informais, nas quais
se dimensionam sistemas de valores, de códigos, de imagens distintos entre si. Rocha e Eckert
(2005) ainda acrescentam que no cenário urbano contemporâneo, aparentemente caótico e

61
desordenado, “o estudo das memórias individual e coletiva é a chave para se elucidarem
indivíduos e grupos que geram, produzem e transmitem conjuntos de significados sobre os
territórios urbanos em que habitam [...]” (ROCHA e ECKERT, 2005, p. 92).
É a partir dessas considerações que as autoras apresentam o tempo como uma dimensão
significativa na contemporaneidade para a compreensão da experiência dos indivíduos nas
grandes cidades industriais, pois assim a cidade se restitui de sua função de “cenário da anamnese
de sua comunidade, pois, em seus espaços, emergem as lembranças e signos das representações
culturais de seus habitantes [...]” (ROCHA e ECKERT, 2005, p. 92). A sugestão por elas
apresentada, frente à configuração desordenada e pluridimensional da geografia brasileira, é
atribuir importância à interpretação dos fenômenos urbanos contemporâneos a partir do estudo da
memória coletiva, das lembranças históricas de seus habitantes e do ordenamento espacial das
formas de vida social por eles apresentadas em seu cotidiano ao longo do tempo. Trata-se, então,
de dimensionar o estudo das práticas cotidianas de grupos sociais como forma de acessar a
compreensão da lógica interna que orienta a vida dos habitantes, deslocando o foco da análise de
uma descrição realista da cidade na história, para um conhecimento compreensivo de acordo com
os acontecimentos que têm lugar na cidade e com que intensidade regem a vida cotidiana de seus
habitantes.
Mais próximo de uma abordagem hermenêutica, cuja ênfase encontra-se nas
interpretações, não dos textos escritos, mas sobre dos personagens centrais de tais textos, os
habitantes da cidade, cabe ainda mencionar a perspectiva de reconstrução de trajetórias urbanas
como forma de descrição da cidade apresentada por Telles (2006), visto que é um enfoque que
privilegia as biografias articuladas a um tempo social e configurando, de certa maneira, uma
espacialidade. Telles (2006) menciona que as formas de mobilidade urbana circunscrevem
trajetórias habitacionais, percursos ocupacionais e deslocamentos cotidianos em torno do
trabalho, da moradia e dos serviços urbanos e, dessa forma, constituem dimensões que se
entrelaçam nas trajetórias individuais e familiares. Os acontecimentos que têm lugar na vida dos
atores sociais em torno da mobilidade urbana precisam ser situados no tempo e no espaço em que
suas histórias ocorrem e figuram como “(...) pontos de condensação de tramas sociais que
articulam histórias singulares e destinações coletivas. Tempos biográficos organizam trajetórias
que individualizam histórias de vida e estão inscritos em práticas situadas em espaços que as
colocam em fase com tempos sociais e temporalidades urbanas.”(TELLES, 2006, p. 69) Partindo

62
dessa perspectiva, a autora assinala que espaço e tempo estão entrelaçados nos eventos de
mobilidade e, assim sendo, seguir mobilidades urbanas não coincide com a realização da
cartografia física dos deslocamentos demográficos, visto que os tempos biográficos e os tempos
sociais se articulam e supõem uma espacialidade demarcada pelos tempos urbanos que aparecem
corporificados nos territórios da cidade. É a partir da identificação dos eventos e seus
entrecruzamentos, mais do que a definição de seus pontos de partida e de chegada, que é possível
perceber a tessitura urbana por meio das relações, práticas, conflitos e tensões dos atores sociais.
Segundo Telles (2006) as mobilidades urbanas podem ser demarcadas e seguir o ritmo
dos acontecimentos que, por sua vez, são atravessados por três linhas distintas de intensidade:
linha vertical das cronologias, linha horizontal das espacialidades e uma linha perpendicular que
demonstra como os eventos políticos se materializam e aparecem como referências de práticas no
território urbano. A primeira linha assinala a articulação entre as biografias cujos tempos se
sucedem em relação ao tempo social-histórico. Já na segunda linha é como se os tempos se
corporificassem no espaço, visto que as práticas urbanas imprimem marcas no espaço e permitem
que ocorram entrecruzamentos de histórias no cenário urbano. Por fim, a linha perpendicular
apresenta a cronologia dos eventos que conectam espaços com os tempos políticos da cidade,
como por exemplo, os investimentos públicos, os conflitos sociais e sua materialização nos
espaços citadinos.
Essa abordagem aqui interessa pelo fato de enfatizar os percursos traçados pelos
indivíduos e suas famílias no cenário urbano. Segundo Teles (2006), seguir os percursos de tais
sujeitos permite realizar a conexão, a reconstituição dos territórios a partir das redes de prática
social presentes no seu cotidiano. Permite também trabalhar com a noção de território como
constituído por práticas que articulam espaços diversos da cidade, sem fronteiras fixas,
desenhando traçados distintos daqueles estabelecidos pela cartografia, pois retratam as situações
de vida e os tempos sociais experimentados pelos seus habitantes.
no plano dos tempos biográficos, é toda a pulsação da vida urbana que está cifrada nos espaços e circuitos por onde as histórias transcorrem. Na contraposição entre histórias e percursos diversos, são as modulações da cidade (e história urbana) que vão se perfilando nas suas diferentes configurações de tempo e espaço. E isso remete igualmente ao plano de composição da descrição do mundo urbano. (TELLES, 2006, p. 72)

63
Isto implica pensar em como a cidade pode ser vista como um espaço que faz convergir
práticas, hábitos, não necessariamente implementados no presente, mas também aqueles que
ficaram no tempo passado, nas histórias, biografias dos habitantes de determinados lugares27,
sejam eles referentes aos locais de moradia, aos locais de trabalho e ainda aos locais referentes
aos trajetos realizados cotidianamente. É como se o tempo e o espaço fossem marcados pelas
biografias dos citadinos que tecem uma diversidade de tramas pelos fios de suas práticas, de seus
hábitos e comportamentos que são implementados e vivenciados ao longo de suas vidas,
constituindo, para além das tramas ou no seu interior, um conjunto de nós que pode revelar as
tensões e conflitos que marcaram suas histórias.
A cidade não dissocia: ao contrário, faz convergirem, num mesmo tempo, os fragmentos de espaço e os hábitos vindos de diversos momentos do passado. Ela cruza a mudança mais difusa e mais contínua dos comportamentos citadinos com os ritmos mais sincopados da evolução de certas formas produzidas. A complexidade é imensa. A cidade é feita de cruzamentos. [...] A cidade [...] nunca é absolutamente sincrônica [...] ela é inteiramente presentificada por atores sociais nos quais se apóia toda a carga temporal. (LEPETIT, 2001, p. 141)
É a materialidade da cidade, marcada pelas trajetórias dos seus habitantes por meio de
suas mobilidades nos territórios urbanos, é a história passada que não é resgatada apenas pelo
trabalho da memória, mas se corporifica nos espaços, pois segundo Telles (2006, p. 77) “[...] está
corporificada e incorporada nos espaços e seus artefatos – traços materiais da vida social que são
vetores e referências de práticas e relações sociais atuais.”.
Tais considerações podem dialogar com a perspectiva que aborda a cidade a partir de uma
percepção de seus espaços não apenas como o locus privilegiado da produção e de suas relações
sociais, mas como um espaço que propicia a reflexão em torno das representações sociais que são
produzidas sobre ela por seus atores sociais e que se objetificam em suas práticas sociais. Isto é, a
cidade é pensada como um espaço sobre o qual são produzidas imagens e discursos, é como um
fenômeno cultural e, por isto, implicaria na percepção dos significados e dos sentidos atribuídos
ao mundo urbano, bem como dos sentimentos e emoções experimentados no cenário urbano. De
acordo com Pesavento (2007), essa dimensão de sensibilidade diz respeito à cidade como fruto do
pensamento, “[...] como uma cidade sensível e uma cidade pensada, urbes que são capazes de se
apresentarem mais ‘reais’ à percepção de seus habitantes e passantes do que o tal referente
27 Cf. Tuan ( 1980).

64
urbano na sua materialidade e em seu tecido social concreto.” (PESAVENTO, 2007, p. 14) A
cidade sensível seria, então, aquela do imaginário que atribui sentido e significado tanto ao
espaço quanto ao tempo, pois identifica, qualifica e classifica o traçado das ruas, o volume das
edificações, os atores sociais e suas práticas e, dessa forma, possibilita que se tenha uma
determinada experiência da realidade. É a partir dessa experiência de atribuição de sentido que o
espaço se transforma em lugar, visto que pode ser percebido como recoberto de sentidos e de
memória. Estudar a cidade sob esta perspectiva é estar envolto na recuperação de discursos,
imagens e práticas sociais de representação da cidade; é fazer uma leitura do tempo e de sua
materialização no espaço. “A cidade é sempre um lugar no tempo, na medida em que é um
espaço com reconhecimento e significação estabelecidos na temporalidade, ela é também um
momento no espaço, pois expõe um tempo materializado em uma superfície
dada.”(PESAVENTO, 2007, p. 15) É possível, então, vê-la pelas suas construções arquitetônicas
e paisagens, pelo que contém de seu passado, pelo traçado das ruas que ainda é preservado ou
pelo que é retido na memória de seus habitantes.
As perspectivas da cidade apresentadas até aqui sugerem uma possibilidade de leitura da
cidade por meio dos sentidos e significados atribuídos às práticas dos atores sociais e suas
representações em torno do viver na cidade. Tal interpretação pode ser viabilizada pela
reconstrução de trajetórias urbanas, pelo resgate de biografias que podem fazer vir à tona uma
cidade pensada, imaginada por meio das representações sobre um passado que se materializa no
presente pela memória. O resgate de tais trajetórias e biografias pode ser revelador dos acessos e
interditos, dos muros, das calçadas, das edificações, dos trajetos, dos lugares de entretenimento e
de sociabilidade desenhados na memória de pessoas que cotidianamente, mesmo que de forma
microscópica, contribuíram para a escritura do mapa da cidade. Como assinala Canevacci (1993,
p. 22),
Uma cidade se constitui também pelo conjunto de recordações que dela emergem assim que o nosso relacionamento com ela é restabelecido. O que faz com que a cidade se anime com as nossas recordações. E que ela seja também agida por nós, que não somos unicamente espectadores urbanos, mas sim também atores que continuamente dialogamos com os seus muros, com as calçadas de mosaicos ondulados, com uma seringueira que sobreviveu com majestade monumental no meio da rua, com uma perspectiva especial, um ângulo oblíquo [...] As memórias biográficas elaboram mapas urbanos invisíveis.

65
Inspirando-me nas considerações de Simmel, dos autores da Escola de Chicago e das
abordagens mais contemporâneas sobre possíveis leituras da cidade grande e urbana, o próximo
passo será apresentar Belo Horizonte, cidade onde se localiza o bairro Cachoeirinha, objeto desta
investigação. O objetivo é identificar em que medida a história da construção e do crescimento da
nova capital mineira são reveladores de alguns dos aspectos que caracterizaram e ainda
caracterizam o cotidiano dos moradores do Cachoeirinha. Como primeira cidade planejada da era
republicana brasileira, Belo Horizonte pode ser pensada como a expressão e materialização de
um novo tempo: a racionalidade e a técnica orientando o planejamento da cidade. Entretanto, o
crescimento da cidade foi revelador de uma ambigüidade entre a modernidade de sua construção
e o provincianismo dos modos de viver de seus moradores, em grande parte de origem
interiorana, como por exemplo, da antiga capital das Minas Gerais a barroca Ouro Preto. Como
uma marca da história da cidade, a ambiguidade entre o projeto, a materialização dos espaços
urbanos da nova capital mineira e os modos de viver de seus moradores será objeto de reflexão
para identificar em que medida essa ambiguidade não esteve circunscrita aos espaços centrais da
cidade, podendo também ser identificada nos bairros populares como uma de suas marcas atuais
que os faz, inclusive, não serem imediatamente identificados como locais conhecidos na cidade,
guardando, por assim dizer, certo grau de invisibilidade. Isso implica dizer que a ambigüidade
entre tradição e modernidade foi marca da história do nascimento e crescimento de Belo
Horizonte, se fez e ainda se faz presente em vários de seus espaços urbanos como forma de lhes
conferir particularidades e fornecer elementos de forte pertencimento e enraizamento de alguns
de seus moradores, mesmo que o restante da cidade nem sequer identifique sua existência.

66
3 Paisagens de uma Capital: Belo Horizonte, sua origem e seu crescimento como expressão
da ambivalência do moderno
Este capítulo tem como objetivo recuperar parte da história de Belo Horizonte como
forma de apresentar o espaço mais amplo onde localiza-se o bairro Cachoeirinha. A ideia é
remontar alguns momentos da história da cidade com ênfase nas primeiras décadas (1897 – 1930)
e o aspecto “modernizante” que foi impresso nos espaços citadinos. As décadas seguintes terão
como destaque o momento de recuperação da ideia de modernidade a ser materializada em Belo
Horizonte (década de 1940) e desenvolvimentos posteriores que imprimiram marcas no bairro
Cachoeirinha.
As ideias simmelianas e alguns autores da Escola de Chicago aparecerão aqui como
inspiração para a análise dos espaços de Belo Horizonte que foram recobertos pela
ambiguidadeda ideia de moderno expressa no cotidiano dos cidadãos de uma cidade planejada e
construída para ser capital do estado. O crescimento e adensamento de Belo Horizonte não foram
condizentes com o previsto no projeto de sua construção o que, consequentemente, fez com que a
cidade que almejava a materialização da ideia do moderno nos seus espaços fosse palco para a
constituição de espaços segregados. A área interna à Avenida do Contorno, denominada zona
urbana, compunha o cenário por excelência do planejamento e fora definida como lugar para o
desenvolvimento das atividades administrativas de uma capital de estado e para abrigar os
funcionários desse aparato burocrático. Frente a essa definição, seu adensamento ocorreu de
forma lenta nas primeiras décadas de existência da cidade. Já as áreas situadas fora da Avenida
do Contorno encontravam-se nesse mesmo período adensadas e convivendo com problemas no
abastecimento de energia, de água e inexistência de serviços de saneamento. Isto demonstra que o
plano de construção de uma cidade que fosse a representação dos valores republicanos de
liberdade, ordem, ciência e progresso, expressões da modernidade, não necessariamente se
concretizou e é exatamente essa face da história da cidade de Belo Horizonte que aqui se
apresentará como forma de apreender como ocorreu a constituição de seus espaços situados além
da zona urbana que tinha a Avenida do Contorno como seu limite. O bairro Cachoeirinha é um
desses espaços que cresceu em “desobediência” ao planejamento da cidade e que expressa a
ambigüidade do ideal de modernidade, visto que pela própria descrição de seus moradores,

67
antigos e atuais, o bairro foi constituído a partir de um formato de vida coletiva e de relações de
sociabilidade marcadas não por características de um ambiente urbano, mas por um cotidiano
pautado por relações de vizinhança e de intimidade, bem como pelas festas religiosas, pelos jogos
de futebol do bairro e pelo apito da fábrica que contava o tempo diário tanto dos trabalhadores
como dos moradores.
A Belo Horizonte da primeira década do século XXI pode ser definida como o resultado
de um processo de crescimento e expansão que buscou materializar a modernidade nos seus
espaços, em especial, a área central da cidade. O desenvolvimento do seu espaço físico reflete,
evidentemente, marcas de sua história que contém um ideário moderno como vetor de seu
crescimento, tendo implícito o desejo de expressar uma cidade da era republicana, moderna,
planejada.
A noção de cidade que aqui tomo como referência diz respeito a uma concepção que a
compreende como uma “paisagem urbana” que se constrói cotidianamente. Nesse cenário
múltiplos acontecimentos influenciam as transformações do espaço físico, político, econômico,
social e cultural da cidade, conferindo-lhe novo formato, novo contorno. De acordo com Ferrara
(1993, p. 202), “as transformações econômicas e sociais deixam, na cidade, marcas ou sinais que
contam uma história não verbal pontilhada de imagens, de máscaras, que têm como significado o
conjunto de valores, usos, hábitos, desejos e crenças que nutriram, através dos tempos o cotidiano
dos homens.”
Assim, buscando não uma análise diacrônica que recubra toda a história da cidade, caberá
aqui apenas pontuar algumas marcas e sinais da história de Belo Horizonte que ficaram inscritos
em seu formato inicial, à época da sua construção, bem como as transformações ocorridas em
virtude de sua expansão e crescimento. O propósito é selecionar alguns fragmentos dessa
trajetória histórica para elucidar, por meio da forma de ocupação de seus espaços, como a cidade
foi sendo palco de expressões da modernidade e como, concomitantemente, se fizeram presentes
aspectos de um provincianismo que também marcou o crescimento da capital de Minas Gerais.
Partindo desses fragmentos serão observados os movimentos de ocupação dos espaços da cidade
em sua área demarcada como urbana e as ocupações dos seus espaços situados fora dessa área,
para identificar os aspetos de modernidade e provincianismo presentes no crescimento e
expansão da cidade.

68
3.1 Os Ecos da República nas Minas Gerais: a construção da nova capital do estado
Apesar de todas as tentativas anteriores de mudança da capital28 do estado de Minas
Gerais, foi a proclamação e instalação da República no país que revigorou a discussão e colocou
fim àqueles argumentos que eram contrários ao investimento de tal envergadura, visto que cabia
aos Estados “[...] zelar pela posição que deveriam ocupar na Federação, naturalmente com
destaque para os seus centros políticos administrativos, suas capitais.” (BOMENY, 1994, p.51)
Sendo assim, com a Proclamação da República, em 1889, e a instauração do regime federalista,
implantado, em 18912, o Estado passou a ter grande importância e destaque político frente à
União e aos Municípios e, consequentemente, arrebanhou encargos e atribuições que
anteriormente não eram relativos à sua esfera de ação.
Além de instalar uma nova forma de estruturação e organização do país, a República
trazia implicitamente um desejo de renovação da sociedade que implicava o rompimento com o
passado e a projeção para o futuro. “Era como se a República tivesse dissipado uma certa inércia
do tempo, abrindo horizontes para a integração do País no mundo civilizado e acelerando o
próprio ritmo da sua história.” (JULIÃO, 1992, p.17) A ideia da construção da nova capital
encontrou ressonância nessa imagem da República e deveria imprimir valores em seus espaços.
O projeto republicano continha então, no seu interior, um conjunto de valores que
coadunavam com o ensejo de construção da capital mineira. Como assinala Julião (1992) a
construção de uma nova capital para Minas Gerais tornou-se bandeira da elite que, naquele
momento, possuía grande identificação com as ideias republicanas. As elites brasileiras do final
do século XIX defendiam a República como sendo portadora de um novo tempo. Com efeito, o
ideal republicano é que perpassava as imagens produzidas no debate sobre a futura capital entre
1891 e 1893. O que se pensava é que a nova capital pudesse ser “... um centro de
desenvolvimento econômico e intelectual, foco da civilização e progresso, moderno, higiênico e
elegante.” (JULIÃO, 1992, p.10)
Após a implantação da república no Brasil, o país aspirava a modernidade, o que
implicava a realização de grandes transformações como, por exemplo, romper com o formato de
28 Até 1851, houve cinco tentativas de mudança da capital mineira, as quais alegavam que Ouro Preto não era uma cidade que correspondia às necessidades de um centro político, administrativo e econômico do estado de Minas Gerais. 2 Cf. COELHO (1972).

69
estrutura de relações de uma sociedade tradicional para iniciar um novo momento de
desenvolvimento nacional. Ao final do Império, as mudanças já enunciavam a possibilidade de
instituição de uma nova ordem social inspiradas nos ecos da modernização européia.
O processo de desenvolvimento econômico europeu, resultante da expansão do
capitalismo na segunda metade do século XIX, era fonte de inspiração para que as elites
brasileiras defendessem o progresso a partir do tema da modernização. De acordo com Ianni
(1994) as mudanças que ocorreram na estrutura do país – a abolição da escravatura, a extinção da
monarquia e a Proclamação da República – foram concomitantes com o início das atividades
fabris, com a intensificação do comércio e o desenvolvimento dos transportes. Isso foi
considerado um sinônimo de modernização tanto no que diz respeito aos aspectos materiais
quanto aos acontecimentos culturais, mesmo que ainda incipientes. Entretanto, é importante
salientar que, assim como outros países periféricos, a modernização brasileira teve um
desenvolvimento peculiar, visto que sua presença no cenário nacional era resultado do esforço
das elites que consideravam que o país vivia uma situação de atraso. (JULIÃO, 1992) Sendo
assim, a trajetória do almejado progresso no Brasil ocorreu de forma contraditória, pois as
condições materiais desenvolviam, mas travando um embate com um modelo econômico
dependente, predominantemente agrário, e uma estrutura política conservadora. Segundo Ianni
(1994) o final do século XIX no Brasil ainda lembrava muito os formatos institucionais típicos do
século XVIII.
Mas ao fim do século XIX o Brasil ainda parecia viver no fim do século XVIII. As estruturas jurídico-políticas e sociais tornaram-se cada vez mais pesadas. (...) Eram evidentes os sinais de uma mentalidade formada nos tempos do colonialismo português. A relação dos setores dominantes e do próprio governo com a sociedade guardava os traços do colonialismo.” (IANNI,1994, p. 19)
O debate em torno da construção da nova capital do estado de Minas Gerais foi
influenciado pelas ideias de modernização defendidas pela chamada “burguesia do café” que,
após a proclamação da República, significava o grupo econômico emergente. Este grupo estava
empenhado no projeto de mudança da capital, pois seus membros acreditavam que esta era uma
das formas de rompimento com a antiga estrutura colonial impregnada em Ouro Preto e na
decadente mineração, colaborando, assim, para o fortalecimento do café como nova atividade
econômica no Estado e, além disso, para o alijamento da elite aristocrática ouropretana. Segundo

70
Julião (1992), os cafeicultores buscavam um espaço para abrigar a nova força econômica que
representavam.
Foi nesse cenário nacional da recém proclamada república que as ideias modernas de
desenvolvimento econômico, político e social ecoaram como ensejo de construção de uma nova
capital para o Estado de Minas Gerais. O nascimento de Belo Horizonte em um sítio que se
chamava Curral Del Rey foi, então, considerado o lugar da república nas Minas Gerais. Bomeny
(1994) assinala que Belo Horizonte traria a marca de ser “[...] o primeiro espaço republicano, no
sentido preciso de que nascia a cidade-filha-única da proclamação da igualdade política.”3
(BOMENY, 1994, p. 49) A ideia era, então, materializar os ideais republicanos no espaço
citadino da nova capital mineira.
É sintomático que a decisão da transferência da Capital coincidisse com a convicção de que se vivia uma era inaugural. A instituição de um novo tempo pressupunha uma nova espacialidade, capaz de dar um sentido material e simbólico à ideia de ruptura. A necessidade de distinguir-se da antiga ordem impunha um deslocamento, uma mudança de lugar, capaz de demarcar a emergência de um tempo de alteração social. Se o advento da República era o elemento chave na concepção dessa temporalidade, a cidade foi, por excelência, o espaço da sua representação. Opondo-se à sociedade rural e arcaica, ela sugeria uma vida cosmopolita, racional, em incessante transformação. Sobretudo, constituía o espaço público legitimador do novo poder, adequado à sociedade formada por indivíduos emancipados.” (JULIÃO, 1992, p. 19)
Após a decisão de construção da nova capital do estado, em 1894, formou-se uma
Comissão Construtora que foi responsável pela elaboração da planta geral da cidade. Como
Aarão Reis já havia participado da Comissão de Estudos que se dedicou à avaliação das cinco
possíveis localidades para a transferência da capital, ficou encarregado pela elaboração do projeto
da nova cidade a ser construída onde situava o arraial chamado Curral Del Rei.
Transferir a capital mineira de Ouro Preto para Belo Horizonte significou a cristalização
do esforço de construção de uma imagem de cidade vinculada aos valores da modernidade, na
racionalidade técnica da organização e do planejamento das cidades. Por isso o projeto da nova
capital significou, além de uma nova forma de se conceber uma cidade, o rompimento com a
velha ordem, não só em termos de regime político, quando então era deixado para trás o país
3 É importante ressaltar que Belo Horizonte foi a primeira cidade construída na República, tendo sido criada para ser o centro político-administrativo do Estado. Le Ven (1977) assinala que em estudos urbanos é comum estabelecer categorias que classificam as cidades a partir de suas funções. As cidades-capitais teriam como função “... abrigar a sede do Poder Público e desempenhar um papel controlador, em relação à região administrativa legalmente a ele submetida.”(LE VEN, 1977, p.18) Estas cidades seriam, por definição, cidades-administrativas.

71
colonial, mas no que diz respeito à implantação de novos marcos de construção e concepção de
um espaço citadino.
Uma das características mais marcantes e mais discutidas em torno da Planta Geral
elaborada por Aarão Reis foi o fato de a cidade ter sido pensada a partir de três zonas
concêntricas: zona urbana central, zona suburbana e zona rural. A primeira delas foi planejada
para abrigar ruas e avenidas amplas e destinava-se ao aparato burocrático-administrativo do
governo e às residências de funcionários públicos, de proprietários de Ouro Preto (antiga capital)
e de ex-proprietários do Curral Del Rei. Sua fronteira com a próxima zona era a atual Avenida do
Contorno4. A zona suburbana possuía ruas mais estreitas e menos regulares, visto que abrigaria
sítios e chácaras. Já a zona rural seria o local destinado aos Núcleos Agrícolas e constituiria o
cinturão verde. Esse zoneamento da cidade previsto na sua planta geral pode ser pensado como
enunciador de uma representação fragmentada do espaço citadino que impõe, por meio da
delimitação física, as atividades e os tipos de moradores que devem ocupar cada parte da cidade.
As regras eram diferentes para a ocupação dos espaços da cidade e estava previsto que a zona
urbana abrigasse o centro administrativo com seus edifícios públicos, bem como os funcionários
envolvidos na burocracia estatal e municipal, em geral oriundos de Ouro Preto, separando-o dos
subúrbios que localizavam-se nas zonas suburbana e rural. A intenção de Aarão Reis era
construir uma cidade protótipo do modelo urbano do futuro, cuja concepção seria a base e o limite da sociedade que se desejava fazer existir − moderna, organizada, com funções definidas e espacialmente localizadas. Deveria exaltar a grandeza do governo que, em sua demonstração simbólica de força, desencadearia um importante efeito político captando confiança e provando a solidez do poder. Ao Estado caberia não só a responsabilidade pela construção da cidade, como também pelo processo de ocupação do solo e pelo seu desenvolvimento. (GUIMARÃES, 1991, p. 44 e 45) (Grifos meus)
O traçado geométrico do mapa da cidade continha ruas e avenidas largas como expressão
do moderno que além de materializar o ideário do progresso e do “modelo urbano de futuro”, tal
como enuncia Guimarães (1991), significava também um contraponto à antiga capital. As ruas
estreitas e curvas de Ouro Preto foram definidas, ao longo do tempo, pela disposição das
construções, diferentemente do que se pretendia com a nova capital. Ouro Preto, naquele
momento, figurava, então, como a imagem-antítese do progresso (SALGUEIRO, 1988). O
surgimento daquela cidade ocorreu espontaneamente e teve uma ligação direta com a mineração.
4 Inicialmente denominada como Avenida 17 de dezembro.

72
A topografia da região era difícil e, segundo os grupos favoráveis à mudança da capital, era
considerada inadequada ao assentamento humano. Além disso, Bomeny (1994) ressalta que o
plano da nova capital significava também um contraponto às fazendas, sítios e roças
características da região na qual Belo Horizonte iria se instalar. Belo Horizonte como cidade
planejada sob o ideário da república, significava a necessidade da ruptura com o passado, com a
tradição colonial impressa em Ouro Preto para expressar o desejo de alcançar a modernidade.
Romper com os escombros da antiga ordem figurava como alvo primeiro e por isso a nova capital
concebida pelos republicanos deveria ter um desenho moderno que atestasse a mentalidade dos
novos tempos republicanos. Dessa maneira, a forma de ordenamento do espaço seria a oposição
ao desenho da cidade de Ouro Preto.
É importante, então, assinalar que Belo Horizonte, mesmo antes de seu nascimento já se
configura como um espaço a ser construído para materializar a oposição com o antigo que tinha
como espaço materializado a cidade de Ouro Preto. A noção de antigo estava impregnada em
Ouro Preto desde o formato de suas ruas, a construção de suas edificações, bem como a
representação do poder. A cidade era sinônimo de uma velha hierarquia relacionada aos
resquícios do Brasil colonial e Belo Horizonte, a partir de seu plano geral, já buscava enunciar
um novo modelo hierárquico, expresso pela ideia de zoneamento, da localização das atividades e
dos habitantes. Entretanto, é importante mencionar que antes de contrapor o novo com o velho, o
moderno com o antigo, Mello (1996) assinala que a construção da nova capital significou “[...]
uma recomposição do tempo histórico dentro de uma legitimação da justaposição
tradição/futuro.” (MELLO, 1996, p. 13) Parece que se fala da mesma oposição, mas essa
oposição traz elementos novos para a reflexão em torno do novo espaço republicano que foi
materializado em Belo Horizonte, visto que o futuro, a construção não só de uma nova capital
mineira, mas também um sentido de nação e de identidade nacional necessários a uma república,
deveria conter como referência a história mineira de busca de liberdade e autonomia frente ao
poder colonial, ou seja, significa um resgate histórico da tradição de lutas libertárias dos mineiros
como fonte de identificação da república com a nação. De acordo com Mello (1996, p. 16) “o
sangue e a liberdade serão os substantivos comuns do discurso republicano do resgate das origens
mineiras, tornadas brasileiras [...]”. O receio do fracasso do novo regime para o Estado fez com
que se acreditasse na construção de uma cidade como forma de ligar origens e tradição com

73
progresso e república. É como se o mito de origem da nova cidade estivesse vinculado aos feitos
históricos e heróicos de momentos anteriores, como por exemplo, a Inconfidência Mineira.
De volta aos aspectos físicos do plano de Aarão Reis é possível perceber uma
preocupação com o quadro de funcionários administrativos que seriam oriundos da antiga capital,
pois para eles ficou reservado como área residencial o interior da zona urbana, uma área nobre da
cidade. Para os trabalhadores agrícolas, responsáveis pela constituição do cinturão verde da
cidade, foi prevista a construção de alojamentos nos Núcleos Agrícolas, enquanto os
encarregados da construção de Belo Horizonte − os trabalhadores da construção civil, artífices da
cidade − não foram incluídos em nenhum tipo de planejamento referente à moradia. Havia apenas
uma hospedaria destinada aos trabalhadores que era insuficiente para abrigar a todos, o que
contribuiu diretamente para o surgimento de cafuas e barracos, denotando uma clara exclusão
deste segmento social do plano original. Isso porque, para estes trabalhadores a imagem de
cidade que começa a ser gerida é aquela que impõe limites, estabelece barreiras, ao invés de
propiciar um livre acesso.
As cafuas eram casas de barro cobertas de capim e os barracos eram feitos de tábuas,
cobertos de capim ou zinco. Assim, na época da sua construção, Belo Horizonte assemelhava-se a
um grande acampamento com barracas para os trabalhadores. Dois anos antes da inauguração já
havia dois núcleos de aglomeração de cafuas na zona urbana: o Córrego do Leitão, no Barro
Preto, e a Favela ou Alto da Estação, em Santa Teresa. Segundo descrição de Barreto (1995, p.
350), esses bairros eram “aglomerações humanas justamente consideradas a suburra5 da futura
cidade.” Ao discorrer sobre habitação e produção do espaço em Belo Horizonte, Costa (1994)
assinala que os discursos da época da construção refletiam como o acesso à cidade era
diferenciado para os vários segmentos da população em função da preservação da imagem de
cidade que se buscava construir. Tais discursos faziam
referência ao tipo de população que seria considerada adequada e condizente com a imagem de cidade que se queria cunhar. Assim, por exemplo, os habitantes do Curral Del Rey, bem como os que trabalhavam na construção da cidade, ou os pobres em geral não se enquadravam na categoria acima. Já aos funcionários públicos seriam doados e vendidos lotes, e para eles seriam desenvolvidos projetos habitacionais segundo uma tipologia que variava de acordo com a própria hierarquia do funcionalismo. (COSTA, 1994, p. 51,52)
5 Suburra significa bairro a que se relegam bordéis e casas de prostituição.

74
Com efeito, a cidade já podia ser vista como um local de usos e apropriações
diferenciadas de seu espaço antes mesmo de sua inauguração. Ao optar pela construção de uma
cidade que espelhasse a organização a partir da definição de funções e da delimitação espacial
para a realização de determinadas atividades, Aarão Reis predeterminou o formato dos espaços
de Belo Horizonte a partir das atividades priorizadas e do tipo de moradores a elas associados.
Enquanto isso, os seus reais “construtores” − os trabalhadores da construção civil envolvidos na
edificação da cidade ─, sem terem sido contemplados na planta geral com áreas específicas para
moradia, passaram a formar aglomerações de habitações precárias como estratégias para
sobreviverem na cidade onde trabalhavam.
Isso contribui para que se possa compreender o processo de ocupação de Belo Horizonte
que, apesar de idealizado e planejado, começou a manifestar, no momento mesmo da construção
da cidade, uma falta de controle do poder público, visto que um segmento social não previsto
para ocupar a área central da cidade estava ali constituindo, mesmo que precariamente, suas
moradias. Pode-se perceber que nesse período de construção da cidade e ao longo de seu
desenvolvimento houve certa distância entre o que foi pensado e idealizado e o que efetivamente
experimentaram seus construtores e moradores, ou seja, uma distância entre o planejador e os
usuários do espaço planejado.
A figura de “cidade espetáculo” é utilizada por Bomeny (1994) para enfatizar o aspecto da
segregação físico-espacial presente já no projeto da cidade, que enunciava a criação de barreiras
ao uso e participação do ambiente urbano para algumas camadas da população. Segundo a
autora, a rigidez da planta elaborada por Aarão Reis a partir de critérios técnicos e rigorosos, a
preocupação com a área central e seu desenvolvimento e a posterior emergência da cidade oficial
e da real, são aspectos que reforçam a ideia de que Belo Horizonte seria uma cidade para “ser
vista”.6
Ao discutir o signo contextual, Ferrara (1986) afirma que o ambiente urbano é o campo
constante de luta entre o projeto e o uso. Isto porque o projeto seria “[...] o arauto de uma
6 Cabe aqui uma referência a Brasília, cidade planejada, também caracterizada pela segregação físico-espacial, inaugurada em 21 de abril de 1960. Além de efetivar a transferência da capital federal, seu projeto modernista buscava servir de modelo de progresso para o resto do país, pois almejava ser a propulsora de uma nova era no Brasil que experimentasse mudanças não somente em termos da construção física de uma cidade, mas também em termos das relações sociais que ali seriam engendradas. Para Brasília também se poderia usar a figura da “cidade espetáculo”, visto que o Plano Piloto, assim como a área central de Belo Horizonte, constituiu uma barreira. Os espaços centrais da cidade, onde a ordem tem lugar, também ficam restritos a setores privilegiados da sociedade. Aos demais, entre os quais estão os trabalhadores, restam as áreas periféricas onde a desordem, em termos de planejamento urbano, prevalece.

75
ideologia dominante e institucionalizada [...] e o uso “[...] cotidiano, simples [...] denuncia, no
interior do ambiente urbano, a representação do próprio antagonismo social.” (FERRARA, 1986,
p.186) Além disso, a autora também assinala que “[...] o uso não se amolda a normas, estatutos
ou códigos, mas é, antes, fala subversiva e marginal pela maneira como compreende o espaço
urbano de inusitados significados e gera a imprevisibilidade de outros usos [...]” (FERRARA,
1986, p.12). Essa oposição projeto/uso, analisada a partir das noções de Lefebvre (1986) pode ser
pensada em relação às ideias de representação do espaço e espaços de representação. A primeira
refere-se ao espaço concebido, aquele dos urbanistas, dos planejadores, que ao fazerem um
recorte arbitrário do espaço, buscam ajustá-lo às suas concepções, tal como o feito por Aarão
Reis, no caso de Belo Horizonte e Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, no caso de Brasília. A segunda
noção refere-se ao espaço vivido, sendo, pois, o espaço dos habitantes das cidades, dos usuários
dos espaços construídos. São esses os espaços que se aproximam de sistemas de símbolos e
signos não verbais e, segundo Harvey (1993), esse aspecto está relacionado com as invenções
mentais que imaginam novos sentidos ou possibilidades para as práticas espaciais.
3.2 A Inauguração de Belo Horizonte e seus primeiros vinte anos
A inauguração oficial de Belo Horizonte ocorreu no dia 12 de dezembro de 1897 e no ano
seguinte foi elaborado o primeiro Código de Posturas, que deixava claro uma característica básica
do processo efetivo de desenvolvimento urbano da cidade coordenado pelo poder público:
diferenciação de critérios e exigências para construção das casas na zona urbana, suburbana e
rural. Na zona urbana, configurada como objeto da legislação elitista, os preços dos terrenos eram
altos devido à especulação imobiliária e às várias exigências para a construção e a conservação
das casas. Na zona suburbana, os preços dos terrenos eram mais acessíveis à população de baixa
renda, o que contribuiu para que a maioria da população aí se instalasse.
A Prefeitura, inclusive, estimulou a ocupação da zona suburbana como forma de evitar
que áreas nobres na zona urbana fossem “invadidas” por trabalhadores de baixa renda para a
construção de “barracos”. De acordo com o Planejamento da Região Metropolitana de Belo
Horizonte (1986, p. 34),

76
o controle do Poder Público sobre a ocupação do território se faz no sentido de separar no espaço as classes sociais. (...) A cidade já nasce, desse modo, com a marca da segregação social do espaço, impressa pelo Poder Público, o que se confirma e se acentua no decorrer de seu processo de ocupação.
Dessa maneira o que Aarão Reis previu como processo de ocupação da cidade, isto é,
ocupação do centro para a periferia, não se efetiva, pois o que aconteceu foi o estabelecimento de
uma zona urbana dotada, em parte, de infra-estrutura, mas esvaziada e uma zona suburbana e
rural povoada, mas sem serviços de infra-estrutura. Ou seja, a ocupação acontecia inversamente
ao sentido previsto: da periferia para o centro.
O relatório do Planejamento da Região Metropolitana de Belo Horizonte - PLAMBEL
(1986) assinala que é como se estivesse ocorrendo o nascimento de duas cidades. A cidade
oficial, conformada pela zona urbana, que abrigava a representação do poder e seus funcionários
se desenvolveu conforme o que foi prescrito e planejado pelo poder público. A zona urbana foi,
então, ocupada pela elite e pelos funcionários transferidos de Ouro Preto; concentrou a quase
totalidade dos equipamentos urbanos da cidade, tais como escolas, órgãos administrativos,
comércio e indústrias. E, ao lado desta, desenvolveu-se a cidade real que compreendia as zonas
suburbana e rural, com carência de serviços e equipamentos urbanos e uma população
essencialmente operária.
Para evitar que a população de baixa renda se instalasse na zona urbana, as autoridades
públicas incentivaram a ocupação da zona suburbana ao adotar posturas que visavam à limpeza
da área central da cidade com a expulsão dos operários do local. A primeira iniciativa nesse
sentido foi do Prefeito Bernardo Monteiro que, em 1900, ordenou a demolição das “cafuas” e dos
barracos localizados nessa área e concedeu lotes a título provisório, principalmente na área
suburbana, para onde as pessoas deveriam se transferir. Além de ordenar a demolição, nesse
mesmo ano de 1900, dois decretos da Seção de Higiene da Prefeitura aprovaram o regulamento
da Polícia Sanitária da cidade, estabelecendo disposições relativas às habitações dos operários.
Elas deveriam localizar-se fora da zona urbana, ser individuais e isoladas umas das outras, sem
comunicação interna, e não eram permitidos domicílios coletivos. Deveriam também ter suas
paredes caiadas uma vez por ano ou sempre que aparecessem doenças transmissíveis, e possuir
condições de higiene, ou seja, água, luz e instalação sanitária. Um médico da Prefeitura faria
visitas freqüentes para exigir que essas condições de asseio e higiene fossem mantidas.

77
A partir dessas disposições referentes às moradias dos operários é possível identificar que
o poder público preocupava-se com a higiene e a moradia para o operário, mas com um enfoque
mais estético do que social. O que parece é que olhar da Prefeitura voltava-se para a ordenação, a
limpeza e a organização da cidade e não para as possíveis conseqüências da falta de higiene na
saúde dos moradores. As “cafuas” eram alvo de críticas do poder público porque comprometiam
a imagem de cidade-modelo e não porque eram um ambiente inadequado para a moradia.
Partindo dessa premissa, proibiu-se a construção de cafuas, cortiços, estalagens albergues ou
casas para moradia coletiva e construções de madeira para garantir um padrão homogêneo de
urbanização. O objetivo era preservar a área central – a zona urbana − que era exatamente o
“cartão de visitas” da cidade.
A partir do final do século XIX os higienistas voltam sua atenção para o meio ambiente.
Essa preocupação em Belo Horizonte foi expressa pelo poder público por meio das ações
fiscalizadoras da Seção de Higiene, que tentavam disciplinar atividades, usos e práticas do
ambiente urbano. Foram elaboradas leis sob a ótica sanitarista, visando regulamentar desde o
comércio alimentício e ambulante, as construções, chiqueiros e estábulos até o funcionamento do
cemitério. Legitimadas pelo saber médico, essas ações normalizavam e fiscalizavam os espaços e
as relações entre os indivíduos, buscando mais do que higienizar o ambiente urbano, pois serviam
como exercício de controle do poder público sobre os homens e suas atividades. Segundo Julião
(1992, p. 128),
A intervenção crescente na vida cotidiana visava, sobretudo, disciplinar comportamentos individuais e impedir o caos e a desordem urbana. Um projeto utópico que procurava instituir uma cidade asséptica, ocupada por homens higienizados e moralizados, cujo comportamento não oferecesse obstáculos ao progresso. (Grifos meus)
Ainda no ano de 1900, foi instituído o Decreto nº 1.435 que prescrevia o seguinte:
Todo o indivíduo que não puder ganhar a vida pelo trabalho, que não tiver meios de fortuna, nem parentes nas condições de lhe prestar alimentos nos termos da lei civil, e implorar esmolas, será considerado mendigo. Nenhum indivíduo poderá pedir esmolas, no distrito da cidade, sem estar inscrito como mendigo, no livro respectivo da Prefeitura. Feita a inscrição será entregue a cada mendigo: - Uma placa com a designação ‘Mendigo’ e o número da inscrição, para trazer no peito e por forma bem visível; - Um bilhete de identidade, contendo o número da inscrição, o nome, a idade, residência e designação do local destinado a estacionar, bilhete este que será assinado pelo Doutor Diretor de Higiene [... ] (Decreto nº 1435, 27/12/1900)

78
A racionalidade que perpassava o planejamento de Belo Horizonte regulamentava não
somente a forma de ocupação dos espaços da cidade, mas também as ocupações dos cidadãos
nesses espaços. Foram adotadas medidas discriminatórias como uma forma de evitar a presença
da pobreza e da mendicância nas ruas da cidade7. Medidas desse tipo objetivavam preservar o
modelo original de cidade, elitista e hierarquizado, com áreas bem diferenciadas para cada
segmento social.
Os dados do censo de 1912 confirmam o sucesso do poder público em seu esforço de obter a “limpeza” da área central, pois revela que a ocupação da cidade foi mais intensa fora da zona urbana onde estavam concentrados 68% da população da cidade. Este mesmo censo revela também que o atendimento de infra-estrutura não cobria grande parte das habitações o que denota o aspecto precário das mesmas. “... das 6808 construções existentes na cidade, 27% eram barracos; em termos dos níveis de atendimento de infra-estrutura, 15% das construções tinham energia elétrica, 36% eram abastecidas por água e 24% tinham sistema de esgotos (Penna, 1950). Assim, aproximadamente uma em cada quatro habitações era precária, havendo várias referências a favelas surgidas desde os primeiros anos de sua ocupação. (COSTA, 1994, p. 53)
Tabela 1
DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA POPULAÇÃO DE BELO HORIZONT E EM 1912
Zona População %
Urbana 12033 32
Suburbana 14842 38
Rural 11947 30
Total 100
Fonte: LE VEN (1977, p. 90)
Nota-se, então, que prevaleceu em Belo Horizonte desde o início de sua construção, no
final do século XIX, até os primeiros vinte anos do século XX, o esforço do poder público por
7 Cf. Guimarães (1991, p.153).

79
manter a hierarquização dos espaços urbanos mesmo com as modificações do plano geral da
cidade em virtude da saída do próprio Aarão Reis da Comissão Construtora em 1895.
Nos primeiros anos de vida de Belo Horizonte a prioridade foi a construção dos prédios
públicos, dos serviços de terraplanagem e da urbanização do centro urbano, local onde se
instalaram o centro do poder estadual, representado pela Praça da Liberdade, cujo entorno era
ocupado pelas Secretarias Governamentais e o Palácio do Governo, e o centro urbano onde se
desenvolveu o comércio e os bairros residenciais nobres. A periferia desenvolveu-se com bairros
ocupados predominantemente por uma população operária, de forma desordenada e sem controle
do poder público. Apesar da existência de normas e regulamentos para as construções nessa área,
os mesmos não eram respeitados e tampouco fiscalizados. Assim, a área da cidade, externa à
Avenida do Contorno, se caracterizava pelo desenvolvimento e ocupação desordenada. Através
desse modelo segregacionista de ocupação, é importante perceber que nessa primeira fase se
consolidou a conformação espacial da cidade que definiu o lugar para cada atividade e os seus
segmentos sociais. Como assinala Filgueiras (1992, p. 402) “[...] a segregação urbana não foi
simples produto do desenvolvimento econômico e do crescimento demográfico acelerado. Ela é
originária da fundação mesmo da cidade.”
O projeto elaborado por Aarão Reis − priorizando a ocupação e o desenvolvimento de
infra-estrutura da zona urbana, destinada aos funcionários públicos da antiga capital − estabelece
um acesso diferencial à cidade, excluindo do progresso e da modernidade, materializadas no
centro urbano, os segmentos mais pobres da sociedade mineira.
Ao invés de promessas de desenvolvimento e emancipação, a modernidade para os moradores dos bairros populares era sinônimo de exclusão, carência, controle e repressão social. Da ausência de serviços públicos básicos às barreiras que impediam o acesso às oportunidades econômicas ou políticas - tudo, aparentemente, constituía a negação do progresso. (JULIÃO, 1992, p.121)
Com efeito, a cidade encontrava-se dividida em dois territórios: de um lado, a zona
urbana; de outro, as zonas suburbana e rural, separadas simbolicamente pela Avenida do
Contorno e de fato pelas diferentes formas de ocupação e desenvolvimento. Dividida dessa
forma, a cidade ganhou uma feição dominada pelo eixo ordem versus desordem. A ordem ficou
cristalizada na zona urbana central que abrigava o poder e o modelo de desenvolvimento da
cidade planejada e a desordem estava localizada fora desse centro, no entorno da cidade, nas suas
áreas periféricas, locais que abrigavam os segmentos mais pobres da população, situados à

80
margem não só do poder, mas também do aclamado progresso que, timidamente, tomava forma
na zona urbana. A cidade não se configurava como uma extensão de espaços fluidos e
indefinidos, mas como áreas delimitadas para determinadas formas de ocupação e de cidadãos.
Entre o progresso almejado com a construção de Belo Horizonte e aquele efetivamente
constituído existiu uma lacuna referente ao descompasso no desenvolvimento da cidade. Com
algumas áreas bem equipadas em termos de infra-estrutura e outras sem esses serviços básicos, o
“progresso” não alcançava todos os seus habitantes. A almejada ruptura com os resquícios da
“antiga ordem” não estava efetivada, pois nem todos tinham plenos direitos para usufruir a
cidade.
Ao lado da racionalidade técnica que dominava o modelo arquitetônico geométrico de
cidade, a ordem esteve presente. Como uma forma de contraposição ao traçado espontâneo de
Ouro Preto e, conseqüentemente, ao símbolo do arcaico, da antiga ordem, a técnica e o
planejamento materializaram na nova capital do estado os ideais republicanos de progresso e
modernidade. Ordem essa que, naquele momento, significava seguir as regras ditadas pelo plano
da cidade. O Poder Público local era o grande responsável pela condução do processo de
implantação de uma nova concepção de cidade, da possibilidade de ordenar um espaço físico e de
inscrever nele as marcas de uma nova ordem social. De modo a indicar isso, Balandier (1982, p.
10) assinala que
O poderio político não aparece unicamente em circunstâncias excepcionais. Ele se quer inscrito duravelmente, imortalizado em uma matéria imperecível, expresso em criações que manifestem sua “personalidade” e seu brilho. (...) Cada “reinado”, mesmo que republicano, marca de um modo novo um território, uma cidade, um espaço público. Ele arranja, modifica e organiza, segundo as exigências dos proveitos econômicos e sociais de que é guardião, mas, também, para não ser esquecido e para criar condições para suas comemorações futuras. (Grifos meus)
Em suma, a antiga capital mineira, Ouro Preto, trazia consigo a marca do absolutismo
português o que era, por um lado, incompatível com a era republicana. A nova capital procurava,
então, imprimir uma imagem oposta no que se refere à ordenação das relações sociais e políticas:
moderna, vigorosa e emblemática do poder emergente que buscava se consolidar não apenas a
partir do poderio econômico, mas também do uso da técnica, da implantação da ordem no novo
espaço da capital mineira como forma de impulsionar o progresso na era republicana.
Belo Horizonte, a nova cidade do final do século XIX significou, então, novidade não só
para as Minas Gerais que inaugura sua nova capital, mas também para o país visto ser a primeira

81
cidade planejada. O projeto de Aarão Reis foi influenciado por Haussmann, responsável pela
reforma de Paris implementada por Napoleão III por volta de 1850. Interessante ressaltar que o
objetivo, tanto de Napoleão quanto de Haussmann, era fazer desaparecer a imagem de Paris como
uma cidade antiga, velha, que convivia com a insalubridade, fazendo com que as grandes vias
impusessem a toda a cidade a imagem de uma capital moderna.8 A inspiração de Aarão Reis
também denotou por meio do traçado geométrico da cidade a intenção de romper com o passado
barroco e colonial de Ouro Preto, entretanto há que se ressaltar que a tradição não foi rompida
com o planejamento que almejava materializar a modernidade na nova cidade. Como assinala
Bomeny (1994, p. 55)
Acreditava-se poder fazer pela demolição/construção urbana, com largas avenidas, amplas praças e grandes edifícios, mais do que arquitetura: transformar a mentalidade da população, acordando-a para o gosto estético e as realizações concretas, para o valor das ações em lugar do platonismo retórico.
O planejamento da construção de Belo Horizonte e as reformas urbanas brasileiras
buscaram sanear não somente ambientes insalubres para se viver, mas sanear hábitos, depurar
costumes, embelezar não somente por uma questão estética, mas para imprimir no espaço uma
visão distante do passado que considerava-se vergonhoso e inferior ao mundo europeu. Esses
projetos, tanto os de reforma urbana quanto a própria construção de Belo Horizonte, tomaram
como fundamentos para a decisão política de implementá-los as análises e justificativas que nossa
elite julgava corretas por serem produtos de autoridades técnicas oriundas de grande centros
produtores de cultura.
A construção da nova capital mineira foi fruto de uma decisão política ao enunciar a ideia
de que o plano da cidade deveria esculpir a imagem do moderno em suas edificações. No intuito
de contrapor a antiga capital, a tentativa era definir o novo sem se referenciar ao passado.
Partindo da concepção de moderno como diferenciação do antigo, vale aqui uma menção à ideia
de moderno defendida por Schorske (1989, p.13),
[...] o moderno serve-nos para diferenciar nossas vidas e nossos tempos de tudo o que o precedeu, de toda a história enquanto tal. A arquitetura moderna, a música moderna, a
8 Segundo Guimarães (1991, p. 47), em geral a associação da entrada da influência de Haussmann no Brasil é feita à reforma de Pereira Passos no Rio de Janeiro no início do século (1902-1906) visando a remodelação e urbanização da cidade buscando modernizar a capital federal. Entretanto, a autora ressalta que com Aarão Reis já foi possível perceber tal influência, apesar de Haussmann transformar um espaço construído e Aarão Reis construir um novo espaço.

82
filosofia moderna, a ciência moderna – todas se definem não a partir do passado, e na verdade nem contra o passado, mas em independência do passado.
Essa ideia traz um novo elemento para interpretação de Belo Horizonte em seus primeiros
anos: a carência que a cidade vivia de uma identidade (Andrade, 2004). Romper com o passado,
ou ser um novo espaço citadino independente do passado ouropretano, trazia impactos no que diz
respeito à identificação que os habitantes da cidade vertiam por ela, a representação que faziam
dela. Um primeiro elemento a ser destacado relativo a essa questão diz respeito ao fato de que
ainda não havia nativos de Belo Horizonte, pois seus primeiros moradores foram os construtores
da cidade, após a inauguração os funcionários da burocracia estatal originários de Ouro Preto e
nativos de outras cidades mineiras que vinham para a capital (BOMENY, 1994, BUENO, 1982).
Isto fazia com que fosse chamada de cidade de funcionários ou cidade burocrática, o que também
tem relação com o projeto de ser a nova capital mineira e porque abrigou os funcionários
públicos e dedicou a eles tratamento diferenciado no que se refere à localização de suas moradias
em uma área nobre no interior da zona urbana. Andrade (2004) ressalta que talvez a razão mais
importante para que tenha sido difundido esse título se deva aos escritores da impressa local que,
em grande parte, eram funcionários públicos9 e acabaram por privilegiar o modo de vida dos
moradores da área mais central da cidade, aquela que habitavam. De acordo com o senso de 1912
essa área da cidade abrigava por volta de 30% da população total e Andrade (2004) salienta que
em se tratando dos funcionários públicos, eles representavam apenas 4,9% da população total da
zona urbana. Isto implica dizer que a representação de Belo Horizonte como cidade de
funcionários não era condizente com a quantidade de pessoas compondo esse estrato em relação à
população total e economicamente ativa.
Outro traço importante referente à identidade da cidade diz respeito à formação do
cidadão urbano. Belo Horizonte teve aumento populacional nas duas primeiras décadas, expansão
de seus espaços ocupados, principalmente na área periférica, entretanto o individualismo,
característico da modernidade, que implicava reserva, anonimato, independência de segmentos e
a construção de uma identidade a partir da noção de cidadão urbano não acontecia. Segundo
Bomeny (1994, p. 61)
9 De acordo com Bueno (1982, p. 41) “não havendo mercado para a produção escrita, surge o Estado como mediador, abrigando o intelectual na burocracia, dispensando-o de qualquer tarefa na produção.”

83
Os laços pessoais, os vínculos familiares, a lógica tradicional de relações de poder e influência transferiram-se dos redutos rurais, pouso das oligarquias, para as burocracias urbanas, redes políticas de preservação do poder. Era cidade, capital, mas não seria metrópole.
Dessa forma, Belo Horizonte não correspondia ao ambiente de uma cidade moderna,
individualizante, tal como preconizava Simmel, ao discorrer sobre a metrópole e a forma de vida
se seus habitantes. A nova capital mineira continha as marcas da tradição de um estado
centralizador da máquina política partidária se valendo de procedimentos oligárquicos de
favorecimento pessoal e local. Sendo assim, torna-se incompatível refletir no seu território e nas
relações sociais que nele se engedram os aspectos de um novo modo de viver dos indivíduos que
habitam as grandes metrópoles: autonomia, anonimato, reserva.
3.3 As Primeiras Indústrias em Belo Horizonte
As primeiras atividades industriais da cidade tiveram início a partir de pequenas empresas
produtoras de materiais de construção, afinal não se pode esquecer que a cidade à época de sua
construção já havia atraído este ramo de atividades. Como características dessas primeiras
indústrias deve-se destacar o fato de terem uma produção voltada para o mercado local, a
utilização de matéria-prima oriunda do setor primário e possuírem um baixo grau de mecanização
e, por este último aspecto, configurarem-se mais como manufaturas do que como indústrias
propriamente ditas. Os estabelecimentos industriais daquela época eram voltados para a produção
de cerâmicas, bebidas, cartões postais, processamento de fumo, fabricação de balas e bombons.
As empresas Lunardi & Machado, o Estabelecimento Industrial Mineiro, de Paulo Simoni, e o
Empório Industrial, de Antônio Teixeira Rodrigues, Conde de Santa Marinha, são os grandes
representantes das atividades industriais dessa primeira década de Belo Horizonte. (IGLÉSIAS,
1987)
Foram também importantes os pequenos empreendimentos industriais voltados para o
consumo popular que objetivavam atender as demandas da população que chegava à nova capital
atraída pelas possibilidades econômicas. Tais fábricas dedicavam-se aos artigos de vestuário, à
fabricação de carroças, padarias, fábricas de arreio, curtumes, tipografias, caldeirarias, funilarias,
cervejarias, ou seja, tudo aquilo que fosse necessário à população. Belo Horizonte constituía-se

84
naquela época como um mercado consumidor promissor, visto que foram transferidos de Ouro
Preto os funcionários públicos e suas famílias da antiga capital que possuíam um nível salarial
relativamente alto e garantido pelo erário público.
À medida que a cidade foi se estruturando em termos de infra-estrutura viária,
favorecendo o desenvolvimento dos meios de transporte e comunicações, o intercâmbio com as
outras regiões do estado mineiro e do país, o setor industrial desenvolveu-se com base no
pequeno capital reunido pelos imigrantes (italianos e espanhóis, em sua maioria), bem como nos
incentivos oferecidos pela prefeitura municipal. Em maio de 1902, o então Prefeito Bernardo
Monteiro baixou o decreto 1.516 que regulava a concessão de terrenos a indústrias, associações e
a venda a particulares. O intuito era incentivar o estabelecimento de indústrias para que a
economia da cidade fosse fortalecida com vistas a alcançar o objetivo do governo de Minas
Gerais a transformar a nova capital em um centro dinâmico da economia do estado. Esse decreto
foi precedido pelas seguintes palavras do prefeito Bernardo Monteiro:
A necessidade de desenvolver industrias incipientes e de crear novas, impõe-se ao espírito dos que desejam o engrandecimento da capital, e assim obedecem ao pensamento de legislador, que decretou a sua edificação, desejoso de abrir um novo centro de trabalho, onde o commercio e a industria encontrassem campo vasto, para se auxiliarem numa reciprocidade de favores, que offerecesse garantias efficazes de futuro certo e seguro. Além do concurso permanente que nella mora – o funcionalismo publico – para o seu aformoseamento e valorização, entendi de meu dever attrahir o capital extrangeiro, para isso fazendo concessões, que surtindo o desejado effeito, me permittem annunciar o próximo estabelceimento de uma importante fabrica, o inicio portanto de um novo período de esforços e engrandecimento da cidade, que com verdadeiro prazer, verifico todos os dias. Embora não seja a capital um núcleo bastante populoso, a sua situação em relação a diversas zonas do Estado, já consideráveis mercados de consumo, legitima a possibilidade de ser ella um centro industrial. Collocada de feição a se tornar , em breve, o ponto de partida de linhas férreas, ajudada por clima amenissimo, por demais servera quanto ás suas condições hygienicas,e nesse assumpto desafiando mesmo o confronto com quaisquer outras cidades da Republica, ella tem em si o irresistível convite, que, h de chamar quantos lá fora tiverem os seus capitaes mal empregados, ou sem o benefício que delles podem aqui usufruir. É preciso, entretanto, ponderar, que das industrias devem ser tentadas de preferência aquellas que encontram matéria prima nesta região. (PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, 1902, p. 19, 20)

85
O discurso do prefeito Bernardo Monteiro coaduna com a ideia de modernizar a cidade a
partir do seu crescimento, por meio das indústrias. Nesse cenário surgiu a Companhia Industrial
Belo Horizonte – CIBH –, empresa tradicional do ramo da fiação e tecelagem e uma das fábricas
instaladas na capital em virtude dos incentivos municipais do decreto de 1902. Esse decreto
concedia isenção de
Figura 1: CIBH Fonte: Federação da Indústrias de Minas Gerais (1998, p.18)
impostos por cinco anos, fornecimento de energia elétrica por um período de dez anos e o terreno
para a construção de suas instalações. A Companhia Industrial de Belo Horizonte – CIBH foi
fundada em 28 de agosto de 1906 e configurou-se como o primeiro empreendimento de grande
porte da nova capital tendo à frente nomes já importantes no cenário econômico mineiro: o Sr.
Américo Teixeira Guimarães, Sr. Inácio Magalhães e Manoel Gonçalves de Souza Moreira.
Em 1906 foram iniciadas apenas as obras da fábrica que se localizava na Praça da
Estação, no interior da Avenida do Contorno. Somente em 1908 é que as primeiras experiências
com o maquinário de fiação e tecelagem tiveram início. As instalações da fábrica eram compostas
de dois prédios com aproximadamente 90 metros de comprimento por 30 de largura. Em um
deles ficava a seção de fiação e tecelagem e no outro a de tinturaria e estamparia. Inicialmente
possuía cem teares e tinha capacidade de produzir 400.000 metros de tecido. Em 1908, Belo
Horizonte já figurava como o segundo centro de produção têxtil do estado, sendo ultrapassado
somente por Juiz de Fora “(...) que possuía 7 fábricas, com 726 operários e 226 teares, enquanto a
Nova Capital operava 4 empresas, com 407 trabalhadores e 270 teares.” (Iglesias, 1987, p. 26)
Sete anos após a sua fundação, em 1915, já contava com 220 empregados. Sua produção era em
grande parte absorvida pelo mercado carioca que também demandava da fábrica o

86
beneficiamento de tecidos que era realizado pela seção de estamparia. Em 1920 teve como
resultado de sua produção um volume de 3.600.000 metros de tecidos acabados.
Em virtude da restrição de energia e do espaço limitado de suas instalações, que acabavam
por comprometer sua expansão, foi adquirida a Companhia Fabril Cachoeira Grande que estava
localizada no município de Pedro Leopoldo. Assim, em 1925 as duas unidades tiveram uma
produção de 5.257.877 metros de tecido crus, destes 2.872.175 metros foram produzidos em Belo
Horizonte.
Com vistas à expansão de suas atividade, a empresa comprou, em 1931, a Companhia
Mineira de Fiação e Tecelagem, situada no bairro da Cachoeirinha, pois esta dispunha de energia
elétrica própria e de uma área para ampliar a unidade da Praça da Estação. Esta expansão
traduziu-se em uma produção anual de 10.000.000 metros de tecidos. Em 1938, toda a produção
foi transferida para a unidade do bairro da Cachoeirinha, frente aos problemas de uma fábrica
localizada na região central da cidade. Na unidade da Praça da Estação, foram mantidas as
atividades administrativas até o ano de 1960, quando também foram transferidas para o bairro da
Cachoeirinha.
Durante o período da Segunda Guerra Mundial, a Companhia Industrial Belo Horizonte
foi favorecida pelo crescimento das exportações de tecidos e pela melhoria dos preços de seus
produtos. Entretanto, mais uma vez as limitações referentes aos recursos energéticos vieram a
comprometer seu crescimento. Para solucionar este problema foi construída uma usina
hidrelétrica em Santana do Riacho que recebeu o nome de um de seus fundadores, Usina Coronel
Américo Teixeira. Então, a partir de 1952, a usina entrou em operação para atender as unidades
de Belo Horizonte e Pedro Leopoldo. O investimento na construção da usina permitiu que
houvesse ampliação e modernização de suas fábricas, bem como o aprimoramento de seus
produtos e o aumento da sua capacidade de produção.
O resultado dos investimentos para modernização e ampliação das fábricas teve como
resultado um alto índice de sua produção, que atingiu em 1976 o montante de 36.500.000 metros
de tecidos. Foi neste mesmo ano que a Companhia adquiriu a Fiação Brasileira de Algodão –
FIBRAL −, localizada em Pará de Minas, com o intuito de voltar a produção dessa unidade para
o mercado externo. As atividades da Companhia Industrial Belo Horizonte foram encerradas em

87
junho de 199510, quando a falência foi decretada. Nesse mesmo ano, no mês de outubro e até o
presente momento, está em funcionamento nas antigas instalações da CIBH a Horizonte Têxtil,
atuando no setor de estamparia e tinturaria.11
3.4 Os anos 1930, 1940 E 1950: a ideia de modernização volta aos discursos oficiais da capital
Devido ao aumento da população nas décadas de 1920 e 1930, principalmente na zona
suburbana, a desordem na cidade de Belo Horizonte passa a ser identificada com a falta de infra-
estrutura em alguns bairros e vilas. O abastecimento de água e de energia elétrica era precário, o
esgotamento sanitário praticamente inexistente e a falta de equipamentos urbanos tais como
escolas, hospitais, entre outros, também contribuíam para completar o quadro de carência da zona
suburbana.
A leitura desse quadro de insuficiência de serviços urbanos para a população na sua
totalidade pode ser feita pelo viés da desordem no cenário urbano, o que contribuiu para reforçar
a necessidade de ordenação advindas do poder público, entretanto, as medidas efetivadas com tal
objetivo não foram eficazes para equacionar os problemas de infra-estrutura, pois as ações
públicas implementadas continuaram privilegiando a realização de obras na zona urbana − o
cartão postal da cidade. Essa diferenciação, referente à realização de obras em determinadas áreas
da cidade, reforçou a segregação do espaço urbano de Belo Horizonte e diante desse cenário o
poder público e a população, especialmente aquela carente de moradia e de serviços urbanos,
enfrentaram-se. De um lado, o poder público, com o discurso da limpeza e do embelezamento da
cidade, realizou remoções e expulsões das favelas localizadas nas áreas mais centrais à medida
que Belo Horizonte se expandia. De outro, uma parcela da população atuou em movimentos
reivindicativos buscando, além da realização de obras de infra-estrutura, o reconhecimento das
10 Dados referentes ao histórico da Companhia Industrial de Belo Horizonte foram encontrados no site da Federação das Indústrias de Belo Horizonte (acesso em out. 2007) e consulta ao Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte, em especial a obra da Federação das Indústrias de Minas Gerais: 100 anos da Indústria em Belo Horizonte, 1998. 11 Informações obtidas com um ex-funcionário da Cooperativa de Consumo da Companhia Industrial de Belo Horizonte, sediada no Bairro da Cachoeirinha (Julho, 2007), com o Sr. Leonardo Bahia Machado, ex-diretor presidente da Cia. Industrial de Belo Horizonte (Fevereiro, 2009) e com um funcionário da Horizonte Têxtil (Maio, 2010).

88
áreas ocupadas como um direito que deveria lhes ser conferido, na medida em que ao longo da
história da cidade foram expulsos de outras áreas. Ou seja, desejavam que a ocupação e a
apropriação por eles realizada, fosse reconhecida dentro dos padrões da ordem estabelecida para
o espaço urbano de Belo Horizonte.
Não se deve perder de vista o fato de que a década de 1920 também caracterizou-se como
portadora de novos valores nos campos artístico, cultural, social e político. O ano de 1922, com a
Semana de Arte Moderna em São Paulo, foi um marco de novos temas e novas formas de
expressão para as artes como também para o pensamento social no país; o tenentismo, também de
1922, buscou alterar as estruturas oligárquicas prevalecentes. Segundo Ianni (1994, p. 24):
“ Parece que o Brasil começa a ingressar no século XX nesse ano. Os acontecimentos de 22
sugerem os prenúncios de outra época, outro ciclo da história.”
Em Belo Horizonte, os anos 1920 ecoaram no espaço urbano por meio de um crescimento
acelerado da cidade, quando se observou uma taxa de crescimento de 7,7% ao ano12, mas a
característica mais marcante do período foi o processo de ocupação desordenado. A ordem como
orientadora do processo de crescimento, desenvolvimento e expansão da cidade − tão enfatizada
e perseguida à época da sua construção e em seus primeiros anos − nesse momento, torna-se um
imperativo pelo fato do poder público começar a perder o controle sobre o crescimento da cidade.
Era identificado como sinônimo da desordem no cenário da Belo Horizonte dos anos 1920
era a ausência de investimentos em infra-estrutura, principalmente nas áreas localizadas fora da
Avenida do Contorno onde estavam as vilas e os bairros populares e onde ocorriam as invasões,
formando novas favelas ou expandindo as já existentes. Evidentemente, isso denota que o modelo
segregacionista de ocupação da cidade persistiu nessa década, pois se observa que a zona urbana
consolidou-se como a melhor região da cidade em termos de condições de habitabilidade e
equipamentos urbanos. Ao final dos anos 1920, com o “boom” imobiliário, ocorreu uma
expansão dos loteamentos sem infra-estrutura, agravando o problema dos novos bairros
desassistidos pelo poder público no atendimento aos serviços urbanos básicos.
A crise econômica, enfrentada pelo país em virtude da Primeira Guerra, fez com que
houvesse uma desaceleração no processo de crescimento da cidade. Então, foi a partir do início
dos anos 1920 que a retomada do crescimento urbano e econômico da cidade ganhou novo
12 Segundo Guimarães (1991, p. 129) essa foi a maior taxa registrada entre 1900 e 1990. No espaço de 10 anos (entre a década de 1920 e a de 1930) a população passou de 55.563 para 116.981 habitantes.

89
impulso13. Essa retomada tinha, por um lado, a força incipiente do desenvolvimento industrial
aquecendo a economia mineira e, por outro, a intensificação do processo de “ocupação
desordenada” do espaço da cidade. Em razão do desenvolvimento industrial, Belo Horizonte
tornou-se um mercado de trabalho atrativo, principalmente para a população rural, pois a década
de 1920 demonstrava sinais de decadência da agricultura local. Assim, processos migratórios
campo-cidade contribuíram para aumentar a população da capital mineira, como também para
intensificar o processo de formação da periferia e das favelas, pois aqueles que não eram
absorvidos pelo mercado de trabalho insistiram em permanecer na cidade, instalando-se em suas
zonas periféricas que naquele momento já estavam formadas. Nesse caso, cabe mencionar a
asserção de Meyer (1978) em relação às favelas que podem ser consideradas como resultado de
um duplo processo: a não absorção da mão-de-obra e a determinação desses trabalhadores em
permanecer nas cidades para a qual emigraram.
Na intenção de conter a desordem da ocupação urbana, bem como preservar a imagem de
cidade limpa e higiênica em 1922, o poder público proibiu a existência de casas sem esgoto na
zona urbana e suburbana, estando o infrator sujeito à aplicação de multa. Nesse momento houve
também a suspensão de concessão de alvará de licença para construção de casas em áreas na zona
urbana que ainda não fossem servidas de rede de esgoto e o aforamento de terrenos foi proibido,
podendo os mesmos serem vendidos somente por meio de hasta pública. Somente os terrenos
suburbanos das vilas proletárias e militares poderiam ser vendidos, independentemente de hasta
pública.
Mesmo com o poder público adotando medidas para conter a desordem urbana provocada
pela ação de especuladores14, a prática das invasões continuava em virtude:
1) da especulação de lotes na zona urbana, tornando-os inacessíveis ao trabalhador;
2) da falta de infra-estrutura e da inexistência de serviço de transporte na periferia para facilitar o
acesso ao trabalho.
13 Reflexo da melhoria da situação econômica nacional, parcialmente expresso com a instalação de siderurgias próximas à cidade e com a expansão da malha viária ligando a capital a várias regiões do Estado. As siderurgias trouxeram um aumento de empregos e de salários, crescimento industrial e certo ar cosmopolita. Com a expansão industrial, o comércio também cresce, aparecem os bancos mineiros (Banco Comércio e Indústria -1923, Banco da Lavoura -1925, Banco Mineiro S/A -1928), os hotéis de luxo, as universidades e colégios propiciando a expansão das atividades de prestação de serviços. Cf. Coelho, (1972), Planejamento da Região Metropolitana de Belo Horizonte (1986), Iglésias (1987). 14 12 O ano de 1922 também é marcado por uma crise do café, abalando parte da economia agrícola mineira, e pela desvalorização da moeda. Com esses fatos novos no cenário das Minas Gerais, houve um redirecionamento nos investimentos, os quais se voltaram para a compra de terrenos em Belo Horizonte. Consequentemente, aumenta o valor da terra urbana e a especulação imobiliária ganha maiores proporções.

90
A aprovação de bairros e vilas foi uma das conseqüências das invasões das áreas
periféricas da cidade, o que fez com que Belo Horizonte apresentasse um crescimento acelerado.
Além da aprovação dos bairros e vilas, o mercado imobiliário realizou investimentos, mesmo que
tímidos, na construção de casas de baixo custo. Entre os anos de 1924 e 1930, a Prefeitura
aprovou 53 novos bairros e vilas, mas a ocupação da cidade ainda continuava desordenada e sem
controle do poder público, apesar das medidas adotadas para combater tal crescimento
desordenado. Também continuavam as invasões de terrenos e o adensamento das favelas15. Em
1926, 10% da população da cidade morava em favelas sujeitas às remoções. O poder público
permitia a ocupação temporária de uma área até o momento em que fosse necessária sua
desocupação, seja pela valorização do terreno ou pelo crescimento da cidade. Na remoção, a
Prefeitura auxiliava com o transporte e na reconstrução dos barracos em outro local.16
Eram realizados protestos contra as remoções das moradias improvisadas, mas, ao mesmo
tempo, elas eram consideradas pelo poder público municipal e por segmentos da população a
favor do progresso como necessárias, face ao acelerado crescimento da cidade. Isso é possível
perceber nos jornais da época:
[...] exigência fatal do progresso. Não é um capricho de um administrador, como aventuram os que, incapazes de fazer por si alguma cousa pelo povo, deturpam a significação dos gestos alheios. A Barroca porém, comprehende a necessidade de seu sacrifício. Ella bem sabe que as suas cafuas cobertas de latas não poderiam teimosas ficar ao lado das construções modernas. (Diário Mineiro, 12/06/1929. p. 1)”17
As vésperas dos anos 1930 Belo Horizonte era então definida como uma cidade que tinha
a “desordem urbana” como o retrato mais fiel de seu crescimento. A cidade contava com vazios
de ocupação na zona urbana e uma zona suburbana adensada que não era contemplada, em
grande parte, com serviços de infra-estrutura, tais como abastecimento de água e energia elétrica,
rede de esgoto e pavimentação de vias, além da deficiência do sistema de transporte coletivo.18
“O mapa de cadastramento realizado pela Prefeitura em 1929 revelou que, em Belo Horizonte,
menos da metade das casas da zona urbana tinha água e menos de 1/3, esgoto sanitário. Somente
a partir de 1930, é que a água chega a algumas seções suburbanas.” (GUIMARÃES,1991, p. 60)
15 A Pedreira Prado Lopes já possuía 600 barracos e a Barroca, 300. 16 Processo usual desde 1902. 17 Cf. Guimarães (1991, p. 159). 18 O serviço de ônibus é inaugurado em 1928. (Guimarães,1991, p. 160).

91
As construções fora da zona urbana não eram erigidas com a fiscalização e controle do
poder público sobre a quantidade e a qualidade, o que dificultava a arrecadação de impostos e,
consequentemente, a resolução dos problemas urbanos. Estes, por sua vez, ainda não
representavam obstáculos para o crescimento e expansão de Belo Horizonte, pelo contrário,
existiam em função da desordem impressa no seu crescimento e expansão. Entretanto, para o
objetivo de transformar a cidade em um centro industrial moderno, a desordem do crescimento
significava um grande obstáculo, pois entre os pré-requisitos exigidos para tal transformação
estavam um espaço físico com infra-estrutura urbana, principalmente água e energia, mão-de-
obra disponível e sistema de transporte eficiente para o escoamento da produção e acesso às
matérias-primas.
A ideia de transformar a cidade num centro industrial moderno estava no fato de que
assim Belo Horizonte não seria somente a sede político-administrativa do poder, mas também a
sede econômica do estado. Entretanto, para a consecução desse objetivo era necessário não
somente vencer os obstáculos relativos ao crescimento desordenado, pois era necessário ir além
das características de uma cidade administrativa e dos valores que propagavam seus moradores.
Esses eram, na maior parte, oriundos de cidades interioranas ou áreas rurais e traziam marcas e
influências de suas formas de viver anteriores, mesmo que já tivessem experimentado o processo
de urbanização de Belo Horizonte, o que implica dizer que não absorveram de imediato os
valores da cidade grande, urbana e “moderna”. De acordo com Bueno (1982), os sinais de
renovação da década de 1920 em Belo Horizonte não ultrapassaram o plano intelectual e o campo
institucional. A cidade modernizou seus edifícios públicos, sua forma de conduzir os
procedimentos relativos aos novos deveres de um estado da federação, bem como constituiu uma
elite pensante sobre e em seu território, apesar de toda uma tradição política ainda mantida.
Entretanto, mesmo com as mudanças ocorridas, os ares de renovação trazidos pela Semana de
1922 não repercutiram no cenário urbano da cidade onde a modernidade, o progresso e o
desenvolvimento ainda não eram acessíveis a todos os segmentos sociais.
Segundo Ianni (1994), a Revolução de 1930 pode ser compreendida como o momento em
que o Brasil torna-se contemporâneo de seu tempo, organizando-se de acordo com os interesses
dos seus setores mais avançados. O que vinha sendo germinado antes da Revolução torna-se mais
explícito e se desenvolve. Como repercussão da Revolução em Belo Horizonte, o que se
observou foi o declínio das oligarquias agrário-exportadoras e a entrada em cena da emergente

92
elite industrial, o que, por sua vez, impactou a dinâmica do crescimento da cidade. Os anos de
1930 foram marcantes no que se refere à dinâmica do processo de crescimento da capital de
Minas Gerais que entre outras alterações, recebe a atribuição de ser o centro industrial do Estado.
Nesse momento teve lugar o objetivo de alcançar o posto de sede político-administrativa e
econômica de Minas Gerais. Assim, a capital mineira, além de configurar-se como centro político
e administrativo do Estado, foi conclamada, naquele momento, a abrigar a industrialização como
uma forma de dar “novo fôlego” ao desenvolvimento econômico de Minas Gerais. O objetivo era
formar o centro industrial do Estado.
Economicamente debilitadas após crises sucessivas que culminam com a de 1929 e politicamente divididas com o acirramento das divergências internas, as oligarquias rurais de Minas Gerais e São Paulo, bases de sustentação da República Velha, são obrigadas a ceder espaço para os novos grupos sociais que vão utilizar-se da bandeira industrialista como forma de afirmação do Estado Brasileiro. (Planejamento da Região Metropolitana de Belo Horizonte,1986, p. 57).
No intuito de acelerar o processo de industrialização19 no Estado e conter a desordem do
crescimento urbano de Belo Horizonte, o planejamento passou a ser considerado fundamental.
Foi nesse momento que se tornou efetivamente clara a necessidade de superação do plano de
Aarão Reis e, pela primeira vez, se observou na cidade a remoção de favelas motivada não pela
preservação da imagem da cidade, mas pela necessidade de realização de obras urbanísticas
ditadas pelo planejamento. De acordo com o projeto de desenvolvimento industrial, a Prefeitura,
apesar de manter o padrão diferenciado de urbanização entre a zona urbana e as demais, imposto
pelo planejamento de Aarão Reis, voltou mais atenção para as zonas suburbana e rural, revelando
ter uma visão mais integrada de cidade.
Entre as medidas adotadas para ordenar o processo de expansão e ocupação da cidade
estavam:
− a elaboração de um novo plano geral da cidade, quando foram redefinidas as zonas urbana,
suburbana e rural. Isso ocorreu em 1933 com o objetivo de estimular o adensamento da área
central;
19 Importante deixar claro que o processo de industrialização da cidade necessitava naquele momento de expansão, o que não significa que não existissem indústrias em belo Horizonte até então. Em 1912 já existia na capital mineira noventa e um estabelecimentos industriais dos ramos alimentício (26 unidades), vestuário (36 unidades), minerais não-metálicos (11 empresas), madeira (7 unidades) os outros onze estabelecimentos eram de ramos diversos. (IGLÉSIAS, 1987).

93
− a criação, em 1934, de uma Comissão Técnica Consultiva subdividida em cinco comissões
(higiene, engenharia, arquitetura e urbanismo, indústria e comércio, jurídica) para elaborar um
plano urbanístico para Belo Horizonte;
− o Decreto Municipal nº 54 (4/11/35) ordenando que os loteamentos deveriam realizar os
serviços de infra-estrutura urbana para que a escritura dos lotes fosse aprovada.
Entre as medidas adotadas pelo poder público com o objetivo de contribuir para a
expansão econômica da capital mineira, vale destacar a criação da Zona Industrial de Belo
Horizonte20. A localização da zona Industrial de Belo Horizonte dos anos 1930 era próxima às
linhas da Estrada de Ferro Central do Brasil e da Oeste de Minas, margeando o Ribeirão Arrudas,
limitada pela Estação Carlos Prates e o Matadouro Municipal, aproveitando a proximidade do
transporte ferroviário e a descarga industrial no Ribeirão. Esta localização justificou-se pela
proximidade do transporte ferroviário e pelas facilidades de descarga industrial no Ribeirão. Lá
se instalaram mais de 20 empresas, entre elas a Fábrica de Tecidos finos da Cia Industrial
Renascença e a Cia de Cigarros Souza Cruz. Como forma de favorecer a instalação de indústrias
na cidade a Prefeitura Municipal, por sua vez, propôs a isenção de impostos e taxas e o
fornecimento de energia elétrica.21 (GUIMARÃES, 1991)
Outra ação importante foi a elaboração de um novo plano urbanístico para Belo
Horizonte. O poder público passou a tratar a cidade de forma mais integrada, pois deteve atenção
para com todas as suas zonas e não somente com a área central. Entretanto, ainda priorizou a
manutenção de uma zona urbana limpa e bela, expulsando dela tudo que viesse a comprometer
essa imagem. Os mendigos, por exemplo, no final dos anos 1930 não podiam mais circular pelas
ruas, por isso foi construído um lugar específico para alojá-los − a Cidade de Ozanan.
A intervenção do poder público no processo de crescimento e ocupação da cidade ocorreu
no momento em que a chamada desordem se impôs como presença no cenário belo-horizontino.
Parece que tal ação começa a fugir ao controle do poder público. Desordem que contrastava com
a imagem de cidade limpa, asséptica e higiênica e era interpretada, por exemplo, pela presença
dos barracos e cafuas que ameaçavam a limpeza, a higiene e a beleza do projeto original. Com
efeito, a desordem pode, então, ser pensada aqui não apenas como o oposto da ordem, mas como
um imperativo para a retomada do controle sobre o crescimento e as formas de ocupação dos
20 Através da Lei nº 98 de 10/10/36. 21 Através do decreto nº 104 (25/07/1936) e da Resolução nº 30 (18/11/1936). (Cf. IGLÉSIAS, 1987, p. 34).

94
espaços da cidade. Entretanto, a ordem como orientadora do processo de uso e ocupação dos
espaços da cidade e, conseqüentemente, de seu crescimento e expansão não foi “abandonada”
pelo poder público, mas é como se tivesse sido recolocada com mais intensidade e vigor nas
ações públicas. Como assinala Balandier (1982, p. 41),
A ordem e a desordem da sociedade são como o verso e o anverso de uma moeda, indissociáveis. Dois aspectos ligados, dos quais um, à vista do senso comum, aparece como a figura invertida do outro. Esta inversão da ordem não é sua derrubada, dela é constitutiva, ela pode ser utilizada para reforçá-la. Ela faz a ordem com sua desordem. (Grifos meus)
As noções de ordem e desordem, em seu antagonismo intrínseco, estiveram, então,
presentes no desenvolvimento da capital mineira nas primeiras décadas, sendo que a necessidade
de controlar a expansão do espaço urbano foi, exatamente, no sentido de controlar sua ocupação,
retirando dele a “desordem” por meio da instalação da “ordem”, ou seja, a partir de ações
devidamente planejadas.
O início dos anos 1940 tem como característica a recuperação da “[...] imagem de Belo
Horizonte como uma cidade moderna [...]” (Planejamento da Região Metropolitana de Belo
Horizonte – PLAMBEL, 1986, p. 59). Sendo assim, o poder público elegeu novas prioridades.
Data dessa época a construção das grandes obras: o complexo urbanístico da Pampulha, iniciado
em 1938, o alargamento e abertura de vias e a ampliação do mercado municipal. O espaço foi
sendo remodelado como condição da modernidade.
A década de 1940 foi caracterizada pela retomada do ideário republicano, quando então o
progresso e a modernidade voltaram a ser as noções orientadoras do processo de crescimento e
expansão urbanos e das formas de uso e ocupação dos seus mais variados espaços. Em 1940
Juscelino Kubistchek toma posse na Prefeitura de Belo Horizonte e com ele a frente do poder
municipal o ideal modernizante e desenvolvimentista ganhou impulso. Com o desejo de
transformar a represa da Pampulha em um lago artificial com belas residências e casas de
diversão ao redor, o arquiteto Oscar Niemeyer foi convocado para elaborar o projeto paisagístico
da região composto pelo Iate Clube, Igreja de São Francisco, Cassino e Casa do Baile. As obras
foram iniciadas em 1945. Nesse momento o lazer começou a fazer parte do ideal de modernidade
e progresso. Mesmo não estando localizada na área central da cidade, a Pampulha recebeu o
aporte de investimentos do poder público, não só no intuito de efetivar o projeto de
embelezamento como expressão da modernidade, mas também com o objetivo de adensar a

95
região norte da cidade que teve seu crescimento e adensamento aumentado em virtude da
implantação do complexo urbanístico da Pampulha e da abertura da Avenida Antônio Carlos22.
O poder público municipal, representado por Juscelino Kubistchek, tornou-se, naquele
momento, o executor de grandes obras, dando forma ao imaginário social da beleza, limpeza e
higiene. Dessa forma, em termos de urbanização, a cidade iria “adentrar” o mundo do progresso e
da modernidade. Essa “revisitação” ao ideário republicano, pensada a partir do imaginário social,
tal como Baczko (1985) o concebe, permite dizer que a população de Belo Horizonte estava,
naquele momento, resgatando sua identidade e elaborando uma determinada representação de si:
eles eram os habitantes de uma cidade que se caracterizava como modelo do progresso e da
modernidade, expressos num espaço urbano belo, limpo e higiênico. Mas, esse mesmo ideário
não foi partilhado e tampouco desejado pelo conjunto da população belo-horizontina, foi a
expressão de uma parcela desse conjunto que, dessa forma, pretendia exercer o controle sobre a
cidade e seu processo de crescimento. Previa-se que assim a ordem voltaria ao cenário urbano de
Belo Horizonte.
As grandes obras do período marcaram o esforço do poder público para modernizar a
cidade. A modernização como símbolo de progresso, de instauração de uma “nova ordem”,
porém não atingiu toda a população, pois parte dela encontrava-se excluída das condições
mínimas de habitabilidade, vivendo nas favelas e contribuindo para o processo de expansão
desordenada da cidade.
Em relação ao problema da habitação popular, o poder público teve atuações restritas,
pois a construção de casas para a classe trabalhadora ocorria, basicamente, por meio dos
Institutos de Aposentadorias e Pensões. A construção do conjunto IAPI (1942), financiada pelo
Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Industriários23, demonstra características modernizantes
pelo fato de ser moradia multifamiliar,24pelas inovações introduzidas por suas formas
arquitetônicas e por sua localização próxima à área central. Juscelino Kubistchek, Prefeito de
Belo Horizonte em 1940, justificou essa ação da seguinte forma:
22 Naquele momento tinha como denominação Avenida Pampulha. 23 Cf. Andrade & Azevedo (1982). 24 Vaz (1991) em seu artigo sobre moradia nos tempos modernos aponta a habitação coletiva ou multifamiliar como a moradia dos tempos modernos, surgida e desenvolvida no bojo do processo de modernização da sociedade e da cultura. Ela “[...] surge e se expande atendendo a imposição de ordem demográfica, espacial, econômica e cultural.” (VAZ, 1991, p. 136).

96
[...] Considerando que a construção das chamadas Vilas-Operárias ou populares, com que se tem procurado resolver esse problema, não constitui a sua melhor solução, em primeiro lugar, porque dada a falta de espaço no centro urbano, tais vilas só podem ser construídas em bairros distantes, onde se consome no transporte o que se economiza no aluguel; segundo porque, mesmo em se tratando de “casa própria”, tem mostrado a experiência que as classes menos favorecidas raramente atingem a estabilidade econômica necessária para possuí-la, donde o geral fracasso das tentativas; considerando que a solução mais viável consiste em fazer grandes prédios de apartamentos, onde, pela sua construção e sistema de exploração se torne possível um aluguel módico, ao alcance de qualquer bolsa [...] (Relatório dos exercícios de 1940 e 1941 apresentado ao Exmo Snr. Dr. Benedito Valladares Ribeiro pelo Prefeito Juscelino Kubitschek de Oliveira.)
Segundo Guimarães (1991), os anos 1940 também se caracterizaram pela mudança de
enfoque em relação ao problema das favelas que, diferentemente do que ocorria nos anos 1930,
deixou de ser assunto em evidência. Entretanto,
as favelas existiam e continuavam crescendo, só que não mais constituíam matéria de interesse porque se encontravam localizadas em áreas que não “atrapalhavam” o projeto da cidade, ou seja, na periferia. As favelas passam a fazer parte do noticiário policial, pela ocorrência de crimes, havendo um alerta sobre o “ambiente de morro” que principia a se formar em Belo Horizonte. (GUIMARÃES, 1991, p. 225)
A preocupação anterior era no sentido de remoção das favelas das áreas nobres da cidade,
visto que comprometiam a ordem, a beleza e a higiene da zona urbana. Nos anos 1940 houve um
descaso em relação ao problema das favelas porque elas não estavam mais localizadas nas áreas
centrais da cidade. Situadas fora do alcance dos olhos da população mais abastada da cidade, elas
eram tratadas somente como o local da marginalidade e da desordem, mas com um diferencial:
não ameaçavam a cidade como um todo porque estavam longe das áreas comprometidas com o
planejamento. Se anteriormente a atuação do poder público local em relação às favelas era no
sentido de removê-las das áreas nobres da cidade, porque as impregnavam com a desordem,
nesse momento o que passou a ser característico na atuação do município foi a omissão no
tratamento dedicado às favelas, já que agora elas estavam localizadas fora dos espaços onde a
ordem deveria prevalecer. (ARAÚJO, 2004)
Em se tratando da zona urbana, os bairros Santo Agostinho e Lourdes foram integrados a
ela, bairros esses destinados à população de maior poder aquisitivo, assim como prescrevia o
planejamento original da cidade. Dessa forma, a zona urbana afirmou sua vocação de espaço
nobre da cidade e os operários deslocaram-se, em grande parte, no final dos anos 1940, para a
região oeste devido à instalação da cidade industrial em 1947 naquela direção. Isso confirma a

97
diferenciação espacial delineada pelo modelo segregacionista de urbanização definido desde a
fundação da cidade.
Com a retomada do ideal de progresso sob a ideologia da modernidade orientando o
desenvolvimento da cidade, foram adotadas novas medidas capazes de efetivá-lo. Os anos 1940
se caracterizaram por uma retomada do controle do desenvolvimento urbano que, até então, se
dera de forma desordenada. A técnica e a ciência, sob as quais Aarão Reis concebeu a planta de
Belo Horizonte, não foram capazes de conter um processo de ocupação desordenado,
segregacionista e elitizado. A cidade, dividida originalmente pelo seu zoneamento, nos anos
1940, com a agudização do processo de segregação, também se dividiu pelos territórios bem ou
mal equipados em termos de serviços de água, energia, esgoto sanitário, transporte etc. A cidade
necessitava urgentemente de redefinir seus padrões de desenvolvimento urbano, de integrar suas
regiões que já extrapolavam o previsto pela planta de Aarão Reis.
Os anos 1950 têm como característica marcante o aumento da população e a expansão
física da cidade. O aumento populacional foi uma das conseqüências dos impactos da
industrialização, não só em Belo Horizonte como também nos demais centros urbanos do país. A
Cidade Industrial, criada em 1947, quando contava com 10 indústrias e 1.000 trabalhadores,
atraiu, no decorrer da década de 1950, empresas ligadas ao capital estrangeiro tais como RCA-
Victor, Trefilaria Belgo Mineira entre outras, como também mão-de-obra, e assim chegou aos
anos 1960 com 82 indústrias e 14.683 trabalhadores25. Os fluxos migratórios para a Região
Metropolitana, que compreende Belo Horizonte e seus municípios limítrofes, foram responsáveis
por 59% do aumento populacional o que, conseqüentemente, contribuiu para o adensamento e a
expansão do espaço urbano da cidade.
O crescimento industrial significou também crescimento urbano, notadamente via migrações, com conseqüente necessidade de provisão de serviços para a população. Mas essa não era a área prioritária para o poder público. O importante era criar condições para a expansão da indústria. Quanto a política urbana, prevaleceu o total “laissez-faire”. (SOMARRIBA et al.,1984, p. 37)
Frente à ausência de uma política urbana, a especulação imobiliária foi uma característica
marcante da década de 1950 na cidade. A iniciativa privada era a grande controladora do
25 De acordo com Somarriba (1984, p. 37).

98
mercado de terra26. Entretanto, é importante mencionar que, desde o final da década de 1940, as
administrações municipais demonstraram uma preocupação com a falta de planejamento para o
crescimento da cidade adotando medidas que buscavam conter o crescimento desordenado.
As administrações municipais que seguiram Juscelino Kubtscheck27 se caracterizaram por
uma preocupação em repensar o processo de urbanização de Belo Horizonte e definir novos
rumos para a cidade a partir do planejamento de ações e intervenções urbanas. A cidade deveria
ter seu desenvolvimento urbano redesenhado para que o controle sobre seu crescimento pudesse
ser retomado. Com relação às favelas, presentes desde o momento da fundação de Belo
Horizonte, de 1946 a 1955, o Executivo debruçava-se sobre o problema, considerando-o como
comprometedor da imagem de cidade limpa e bela28. Dessa forma, com o intuito de embelezar a
cidade, foram realizadas muitas remoções de favelas das áreas mais centrais.
Com efeito, a capital mineira na metade do século XX contava com vários bairros na
periferia que tinham como característica problemas de falta de infra-estrutura e com as favelas
que cotidianamente eram ameaçadas de remoção29. Outra característica da década de 1950 que
complementa esse quadro de desenvolvimento urbano de Belo Horizonte, foi o acirramento da
especulação imobiliária e a intensificação do processo de metropolização. Ou seja, a ampliação
dos limites da cidade por meio da expansão urbana em várias direções, estreitou as relações com
os municípios vizinhos e dando início à formação da atual estrutura urbana da Região
Metropolitana de Belo Horizonte.
Em se tratando do processo de metropolização, a criação da Cidade Industrial foi um sinal
importante no que diz respeito a conurbação de municípios vizinhos a Belo Horizonte, pois
acentuou a ocupação em direção a Contagem (bairro Parque Industrial) e Ibirité (bairro Durval de
Barros). A região norte, com o Complexo da Pampulha induzindo os loteamentos, teve um ritmo
de expansão menos intenso e sua ocupação foi mais dispersa. Mas, o desenvolvimento para além
da Pampulha começou a tomar impulso, tendo início a conurbação de Belo Horizonte (bairro
Venda Nova) e os municípios de Ribeirão das Neves (bairro Justinópolis) e Santa Luzia (bairro
26 Nessa época, vários bairros e vilas foram aprovados sem serviços básicos de infra-estrutura. Havia também os loteamentos clandestinos à espera de legalização. E mais uma vez a população pobre da cidade era expulsa para as periferias devido ao aumento do preço da terra. 27 Negrão de Lima (1947-1951), Américo Gianetti (1951-1954) e Celso Mello Azevedo (1955-1959). 28 Cf. Somarriba (1984, p. 40). 29 Segundo depoimento do ex-presidente da Federação dos Trabalhadores Favelados (In: SOMARRIBA et al., 1984, p. 43), o Prefeito Amintas de Barros (1959/1963) como medida para acabar com as favelas cortava água e luz nas mesmas. Em repúdio a essa medida, em 1958 foi realizada uma passeata na cidade.

99
São Benedito). Entretanto, como característica dessa nova expansão periférica, o que se observou
foi “um padrão extremamente precário que traz as marcas do improviso, do inacabado e da
carência absoluta e reflete o ritmo acelerado de construção exigido pela dinâmica de crescimento
da cidade, caracterizando-se como espaço da simples reprodução da força de trabalho, totalmente
excluído da fruição do urbano.” (Planejamento da Região Metropolitana de Belo Horizonte –
PLAMBEL, 1986, p. 79)
O rápido processo de metropolização da cidade teve como consequência uma carência de
habitações e serviços urbanos. O problema da habitação era dos mais graves do período, em
virtude dos preços elevados dos terrenos e da intensificação da migração. As favelas cresceram
tanto nas áreas periféricas quanto na área central da cidade30. Segundo Costa (1994, p. 58), “a
favela passa a ser, ao longo da década de 60, uma questão policial. O conceito usado na época é
revelador: ‘erradicação das favelas’.” Os movimentos sociais nos anos primeiros anos da década
de 1960 teve forte relação com o problema habitacional, principalmente pelos moradores das
favelas. A invasão de terrenos pela população carente foi também uma prática comum dessa
época, o que deu origem a novas favelas.
O processo de urbanização de Belo Horizonte nos anos 1950 foi marcado por uma nova
tentativa de retomar o direcionamento do crescimento e da forma de ocupação dos espaços
urbanos. O projeto da cidade foi repensado para que o controle sobre seu crescimento não
escapasse às mãos do poder público que era defensor da ideia de ser ele o principal condutor do
processo de urbanização da cidade por meio da implantação da ordem. Isto porque Belo
Horizonte já se constituía como uma cidade que em muito se afastava muito do seu plano original
em termos de expansão de seu espaço físico. Isto implicava instaurar uma ordenação em um
ambiente já construído e não em construção. A desordem nesse momento era identificada pela
inexistência de serviços de infra-estrutura urbana e sua principal marca foi a segregação espacial
e a diferenciação entre as áreas da cidade, no que se refere à existência de serviços de água,
esgoto sanitário, energia elétrica, escolas, hospitais, lazer etc. Por isso se diz que a tentativa era
de ordenar um espaço que se configurava como desordenado devido à forma como se dava sua
ocupação e expansão.
30 Em 1964, de acordo com o “Levantamento da População Favelada de Belo Horizonte”, foi contabilizado um total de 79 favelas com uma população estimada em 120.000 habitantes o que correspondia a 10% da população belo-horizontina. [Cf. Planejamento da Região Metropolitana de Belo Horizonte (1986, p. 80)].

100
Assim na metade do século XX a forma que Belo Horizonte adquirira contradizia a
imagem que dela se buscou cunhar, pois definia-se como desordem o formato das construções,
das ruas, a carência dos transportes públicos enfim a falta de serviços de infra-estrutura urbana.
As áreas periféricas não se desenvolveram em consonância com o progresso, a modernidade e o
planejamento técnico, tal como se pressupunha à época de fundação da cidade. Por isso, a
necessidade de ordenar o crescimento e expansão da cidade, a partir de ações que expressassem o
desejo de construir uma metrópole, onde o progresso estivesse presente tanto na forma de
administrar a cidade, como na sua economia e nas suas manifestações artísticas. A modernização
da administração municipal foi alcançada nos anos 1930, o complexo da Pampulha foi construído
como um marco da arquitetura moderna em Belo Horizonte na década de 1940 e o crescimento
industrial foi impulsionado com a entrada de algumas empresas estrangeiras no cenário das
Minas Gerais. Por outro lado, a periferia da cidade se expandia, em grande parte, com os
loteamentos clandestinos, e a existência de serviços de infra-estrutura urbana continuava restrita a
uma pequena parcela da população. Assim, a imagem de cidade bela, limpa e moderna dominava
o discurso oficial e a área central, mas estava distante da fisionomia real do restante da cidade.
3.5 A Cidade Planejada e a Cidade Real: espaço da ambivalência do moderno?
O projeto da nova capital mineira teve origem em meio a uma crise política interna frente
à existência de facções diversas tanto contrárias quanto favoráveis a República. A tais
divergências agregavam as disputas regionais pelo poder que revelaram-se ao longo do século
XIX, inclusive, por ameaças separatistas31. A ideia de criar uma nova capital coadunava com uma
necessidade de um espaço que fosse o centro político-administrativo que garantisse a união das
elites em torno dele para evitar o separatismo e a continuidade da influência de centros como Rio
de Janeiro e São Paulo sobre algumas regiões de Minas (GUIMARÃES, 1996). Não se pode
31 Em 1843 houve a proposta de Barros Pimentel, deputado pernambucano via Minas Gerais, de dividir a Província das Minas Gerais para unir a região do sul mineiro a São Paulo. Em 1863 o deputado Evaristo da Veiga propôs a criação de “Minas do Sul” com capital na cidade de Campanha da qual o deputado era representante. Em 1868 Américo Lobo também propôs a separação da mesma região denominando o novo estado de Sapucaí. Após a Proclamação da República houve intensa luta pelo poder e direção política entre os republicanos mineiros. A integridade do território voltou a passar por momentos difíceis. Na década de 1890 novas tentativas separatistas para criar Minas do Sul ganharam força. (MELLO, 1996).

101
perder de vista, porém, que o projeto da cidade foi cunhado por questões políticas internas com
vistas a expressar o novo espaço republicano para manter como parte do passado as formas
antigas e tradicionais de exercício do poder nas Minas Gerais, bem como a arquitetura barroca e a
ocupação espontânea características de Ouro Preto. De acordo com Barros (2001, p. 29)
A criação ou reforma de cidades sempre se configurou como iniciativa fundante, marco inaugural de novas configurações de poder. Belo Horizonte não fugiria à regra, realizando uma operação simbólica de dupla face. Por um lado, opera a ruptura com o passado colonial e imperial, tomando como causa de todo o atraso do país; por outro, concretiza um futuro regido pela perspectiva modernizante, fruto da conjugação do progresso com a ordem social.
Sendo assim, a consecução do projeto político de construir uma nova capital mineira teve
como forte aliado o discurso republicano de cunho modernizante, que visava inaugurar não só um
novo tempo na história do país, rompendo com o passado, mas também uma nova forma de fazer
história, a projeção de um futuro regido pelo progresso da técnica, a começar pela impressão no
espaço dos marcos desse novo tempo. Assim como Schorske (1989) assinalou em sua análise
sobre o Ringstrasse32 em Viena, que projetou valores sociais no granito e no espaço, pode-se
fazer uma analogia com Belo Horizonte como cidade planejada para esculpir e marcar suas
edificações com valores políticos, sociais, culturais e estéticos de um novo tempo. Mas
efetivamente o que significaram as marcas desse novo tempo nos espaços de Belo Horizonte, ou
melhor, como esse novo tempo, expressão do moderno, refletido nas edificações foi
experimentado pelos habitantes da cidade?
Uma primeira possibilidade de refletir sobre esta questão recai sobre a dualidade existente
entre cidade ideal e cidade real, pois permite pensar de que forma a cidade ideal, com a
construção de edifícios e residências, também imprimiu marcas dos novos tempos em seus
funcionários e moradores e em que medida tais sujeitos tiveram seu cotidiano marcado por
imagens e experiências de outros tempos e de outros lugares, visto que todos eram nativos de
outras localidades. De acordo com Argan (1993), a cidade moderna ao configurar uma “ideologia
urbana” constitui-se exatamente da dialética entre “cidade ideal” e “cidade real”. Dialética essa
32 Ringstrasse pode ser definido como um processo de remodelação da cidade de Viena após a conquista do poder pelos liberais na segunda metade do século XIX. Essa remodelação da cidade constituiu-se da edificação de um complexo de edifícios públicos e prédios residenciais ocupando um território que deveria separar a cidade antiga interna e os subúrbios. Foram dois momentos de construção: o primeiro entre 1861-1865 e o segundo de 1868-1873. De acordo com Schorske (1989) o termo mais comumente utilizado para descrever o programa da Ringstrasse era “embelezamento da imagem da cidade.”

102
que reflete, num campo mais amplo, dificuldades referentes à cidade moderna para funcionar
independentemente da cidade antiga. Se a cidade pode ser pensada como acúmulo ou
concentração cultural, a ideologia urbana que tem sua configuração na cidade moderna deve
considerar não apenas a ideologia do poder nela contida, mas também a vivência dos indivíduos e
da sociedade. Dessa maneira, viver o ideal modernizante, o progresso como resultado da
utilização da técnica, numa cidade que em seus primeiros anos contava com vazios habitacionais,
visto que o plano de ocupação do centro para a periferia foi contrariado, não deve, simplesmente,
levar em conta os arranjos políticos e econômicos efetivados para a consecução do planejamento,
mas também a experiência dos reais moradores desse novo espaço projetado. A “ideologia
urbana” que começava a configurar-se na nova capital do estado mineiro não pode ser
compreendida somente a partir da constituição e da organização do poder local e regional, mas
também por meio dos arranjos cotidianos vivenciados pelos sujeitos que conferiram vida à recém
criada Belo Horizonte. Tais arranjos cotidianos refletiam muito da vivência dos indivíduos
relativa a outros lugares, provavelmente antigos e tradicionais, pois oriundos de processos de
ocupação espontâneos e não planejados sob o viés da ciência e da racionalidade. Daí torna-se
possível pensar como era difícil a vivência cotidiana no novo espaço citadino, desconsiderando as
experiências da (s) cidade (s) antiga (s) de onde eram, em geral, oriundos. Efetivamente, construir
um tempo novo não era suficiente apenas a partir da construção material dos espaços, mesmo que
seja inevitável, no caso de Belo Horizonte, mencionar como a modernidade esteve presente na
planta da cidade a partir do critério da técnica e racionalidade como orientadoras do ordenamento
da ocupação se destacando no cenário nacional como uma novidade. A cidade nas primeiras
décadas era expressão do “progresso”, de um tempo novo marcado pela modernidade, visto o
formato e a proporção de suas edificações, mas, ao mesmo tempo, a cidade já enfrentava
problemas relativos ao descumprimento do planejamento da ocupação ordenada, por exemplo, a
partir da instalação dos trabalhadores envolvidos na sua construção na área central com a
construção de cafuas e barracos. Isso denota uma ação contrária à “razão científica” ordenadora
do planejamento da cidade. Com os olhos no futuro e a segregação físico-espacial já impressa em
seu projeto33, Belo Horizonte, às vésperas de sua inauguração, ainda se vê presa ao passado, pois
seus habitantes, assim como ocorrera no passado colonial, foram objeto de rigorosa exclusão.
33 Guimarães (1991, p. 47,50) chama atenção para o caráter segregacionista que outros autores (LE VEN, 1977; Planejamento da Região Metropolitana de Belo Horizonte – PLAMBEL, 1979; Faria, 1985; Magalhães, 1989) atribuem ao plano de Aarão Reis. Guimarães (1991) defende outra interpretação afirmando que “O plano final

103
De acordo com Barros (2001, 24) “a cidade moderna possui um duplo e complexo
significado: transforma-se em espaço onde as contradições e o caos se realizam, motivo pelo qual
surge a necessidade de sua ordenação política e científica, e, assim, transforma-se também em
discurso da modernidade” A Belo Horizonte era, então, a configuração da dialética entre “cidade
ideal” e “cidade real” que na verdade expressava a ambivalência interna relativa ao conteúdo
modernizante que se buscou imprimir na nova capital.
Uma outra possibilidade é pensar o quão moderna era a Belo Horizonte da primeira
metade do século XX a partir das considerações de Simmel (1987) sobre a metrópole e o homem
urbano que refletem, inclusive, a sua concepção sobre a cidade como lócus do moderno e da
ambiguidade. Entre as características da individualidade que ele enuncia serem estimuladas pela
cidade grande e moderna, em oposição à cidade pequena, destaca-se a reserva, a impessoalidade e
o anonimato. Essas características estão presentes no ambiente urbano porque esse espaço se
constitui a partir da prevalência da racionalidade sobre a subjetividade. Dessa forma, os
indivíduos reagem aos estímulos recebidos, sejam eles oriundos do mercado, das relações de
trabalho ou de vizinhança a partir da indiferença, da atitude blasé (SIMMEL, 1987), uma atitude
que é consequência da intensidade de estímulos nervosos presentes na cidade grande, que se
alteram constantemente fazendo com que os indivíduos se tornem incapazes de reagir aos novos
estímulos com uma energia adequada. Ao discorrer sobre a individualidade do homem
metropolitano, o autor recobre sua análise de vários contrapontos entre a cidade grande e a cidade
pequena. A primeira se constitui pelo predomínio da economia do dinheiro que faz com que o
estilo de vida na metrópole seja regido pela racionalidade e inteligência que se sobrepõem ao que
é característico da cidade pequena: a subjetividade e o sentimento. Os homens da cidade grande
estão constantemente submetidos a uma intensidade de estímulos nervosos que os faz reagirem a
eles de forma blasé diferentemente da cidade pequena, onde os indivíduos podem responder a
praticamente todos os estímulos, visto que eles se apresentam com menor intensidade, não
requerendo do indivíduo uma atitude de reserva como forma de auto-preservação da
individualidade. É essa atitude que propicia aos indivíduos da cidade grande a liberdade pessoal e
consistia basicamente no traçado, projeto e distribuição de prédios e logradouros públicos, condições para a implantação das habitações e a indicação, na Planta Geral da cidade, da destinação dos lotes a serem vendidos, reservados e concedidos aos funcionários públicos, proprietários de Ouro Preto e ex-proprietários do arraial.” (GUIMARÃES, 1991, p. 50) Segundo essa mesma autora, a segregação que passa a caracterizar a cidade é resultado de medidas adotadas pela Prefeitura e pelo Governo do Estado que seriam os principais incentivadores da especulação de terrenos.

104
a mobilidade, dado também o alargamento dos círculos de relações sociais. De acordo com
Waizbort (2006) como o anonimato e a impessoalidade são características do ambiente urbano e
moderno, o indivíduo em meio à multidão da cidade grande se esconde por detrás do grupo.
Se a cidade grande e o ambiente urbano congregam tais características dos indivíduos e ao
mesmo tempo configura-se como o espaço da ambiguidadeque também é próprio da ideia de
moderno, como pensar a jovem Belo Horizonte do início no século XX que almejava a
modernidade não somente impressa em suas edificações, mas também presente no estilo de vida
de seus moradores?
Primeiramente é preciso situar temporal e espacialmente as considerações de Simmel em
torno da metrópole. A Berlim do início do século XX, cidade onde vivia e à qual se refere para
discorrer sobre a metrópole e a vida mental, já se configurava como um ambiente urbano com
população superior aos dois milhões34, ou seja, a metrópole a que se refere Simmel é distante da
Belo Horizonte não só geograficamente, mas também em termos de estruturação da vida urbana.
Evidentemente não se trata aqui de abordar a capital mineira dos anos 1900 como uma metrópole,
mas inspirar na forma como Simmel descreve um ambiente urbano de uma cidade grande e como
se caracterizam seus moradores, para orientar a reflexão em torno do espaço citadino de Belo
Horizonte construído como uma das formas de representação da modernidade nas Minas Gerais.
Retirando as variáveis temporais e espaciais relativas a uma cidade européia do começo do século
XX, o que permite tomar Simmel como inspiração é todo o ideário que recobriu o plano de
construção de Belo Horizonte: um novo espaço para representar um novo tempo, tempo este que
visava romper com o passado de cidade pequena, com a antiga capital, Ouro Preto, sua forma de
ordenação política e espacial, bem como as formas como seus habitantes viviam o cotidiano. As
ideias de Simmel, então, contribuíram para conduzir a reflexão no que diz respeito ao quão
moderno era o estilo de viver dos belo-horizontinos nas primeiras décadas de sua existência.
Tomando como referência os elementos constitutivos do projeto da nova capital: a
racionalidade, a técnica e a ciência como ordenadoras do planejamento material das edificações e
estruturas urbanas, tais elementos deveriam também ser condutores das formas de viver na nova
capital. Mas, como mencionado anteriormente, o fato da origem dos primeiros habitantes da
cidade ser referente à pequena Ouro Preto ou outras localidades do estado de dimensões também
diminutas, fazia com que o modo de viver em Belo Horizonte nos seus primeiros anos ainda
34 De acordo com Waizbort (2006, p. 312).

105
estivesse impregnado de valores tradicionais, quiçá provincianos, relativos às formas de viver das
cidades antigas (antigas aqui no sentido de serem as cidades de origem e, evidentemente, antigas
porque já existentes antes da nova capital). Além disso, não se pode perder de vista que Belo
Horizonte não se constituía ainda como um centro urbano devido ao fato de que até a primeira
década do século XX a construção da cidade ainda não fora interrompida. No período da Primeira
Guerra Mundial (1914-1918) a crise se instaurou na capital mineira: a construção da cidade foi
interrompida, pois havia dificuldade de importação de materiais de construção; a Prefeitura
enfrentou dificuldades financeiras, o que teve como consequência a diminuição dos incentivos
(oferta de lotes e energia elétrica, por exemplo) ofertados às indústrias que desejassem se instalar
em Belo Horizonte, prática realizada desde 1902. As construções particulares também tiveram o
ritmo diminuído35. Houve também, como reflexo da crise no período da Primeira Grande Guerra,
déficit orçamentário, desemprego que provocou o êxodo urbano, com a saída maciça de
operários, principalmente de imigrantes. (Planejamento da Região Metropolitana de Belo
Horizonte – PLAMBEL, 1986)
De acordo com Andrade (2004) somente a partir de 1915 é que Belo Horizonte ofereceu
aos seus habitantes os “ares” para experimentar a vida social e intelectual conforme prescritas
para um meio urbano, mas os anos de 1920 é que foram mais expressivos nesse sentido. A partir
de então há de se ressaltar que em comparação com suas cidades de origem, os moradores de
Belo Horizonte na década de 1920 podiam perceber a modernidade da nova capital em termos de
heterogeneidade, do anonimato e da existência de bens culturais e de lazer. Em 1923 existiam 72
hotéis, 680 casas comerciais, um teatro, sete cinemas e em 1925 a cidade tinha a circulação de
684 automóveis, número equivalente a 11,3% da frota do estado. Vale também mencionar que os
espaços dedicados à vida social e cultural são do início do século XX como, por exemplo, o
Teatro Municipal inaugurado em 1909, o Instituto Histórico Geográfico de 1907 que também se
constituía em tribuna para saudação de artistas ou visitantes ilustres, a Academia Mineira de
Letra foi transferida de Juiz de Fora para Belo Horizonte em 1915. (IGLÉSIAS, 1987) Como
assinala Andrade (2004) para os primeiros habitantes de Belo Horizonte, a mudança abalou suas
tradições e costumes ao se depararem com o novo ambiente.
Sobre a questão relativa à existência de características efetivamente modernas e urbanas
na jovem Belo Horizonte, os anos 1920 merecem ser ainda destacados porque naquele momento
35 Em 1912 foram aprovadas 393 construções particulares enquanto em 1919 foram aprovadas apenas 27.

106
a capital mineira já ocupava o terceiro lugar no estado em termos populacionais; contava com um
número bastante superior para a época no que se refere às diversões modernas, visto a quantidade
de cinemas; diferentemente de outras cidades mineiras36, que empregavam alto percentual
populacional no setor primário, Belo Horizonte se destaca pelo percentual menor em termos de
ocupação no setor primário e no que se refere ao índice de analfabetos o percentual também é
inferior às demais cidades. Essa diferenciação de Belo Horizonte em relação a outras cidades
ocorreu devido ao incremento dos investimentos econômicos e sociais após os anos de crise
relativos ao período da Primeira Guerra Mundial (ANDRADE, 2004). Segundo Coelho (1972) é
importante levar em conta como especificidade de Belo Horizonte a existência de uma classe
média numerosa, mesmo antes do processo de desenvolvimento econômico industrial, pois se
configurou como uma característica da urbanização da cidade e pode ser considerado fator
explicativo para a constituição da ordem cultural e social da cidade. Esses setores médios da
população adotaram como cenário para a vida cultural, social e intelectual a rua da Bahia.
Em meados dos anos 1920 Belo Horizonte já se encontrava equipada cultural e
socialmente para responder às demandas da vida urbana que cada vez mais se intensificava. Os
pontos de encontro e lazer já eram variados, pois além das praças e parques, a cidade já contava
com cinemas, cafés, bares, clubes privados, jornais revistas e livrarias. Dessa forma, os valores
urbanos não eram apenas difundidos pelos cronistas da cidade, mas efetivamente experimentados
pelos habitantes da capital mineira que já percebiam os atrativos da rua em oposição às formas de
lazer realizadas no ambiente doméstico. (ANDRADE, 2004) Mas os ares de modernidade da
cidade conviviam com resquícios de um tradicionalismo relativo aos hábitos e costumes de uma
parcela da população belo-horizontina. Conforme assinala Andrade (2004, p. 87) “Belo
Horizonte reunia, em 1920, aspectos modernos e tradicionais. A modernidade era mais evidente
no plano da cidade e na vida social e cultural da rua da Bahia. Já o tradicionalismo era associado
a uma parcela da população que trouxe do interior costumes e valores provincianos.”
Como já foi assinalado anteriormente, na constituição da população de Belo Horizonte
havia um grande número de pessoas provenientes de outras cidades, em geral Ouro Preto e
localidades do interior do estado mineiro, o que contribuiu para que o cenário urbano fosse
36 De acordo com Andrade (2004) as outras cidades citadas são Juiz de Fora, Ouro Preto, Montes Claros e Itabira, conforme tabela sobre a população, número de cinemas, PEA do setor primário e analfabetos.

107
permeado por modos de vida ainda marcados pelas tradições e valores das cidades interioranas.
Conforme assinala Wirth (1987, p. 92)
em maior ou menor escala, portanto, a nossa vida social tem a marca de uma sociedade anterior, de folk, possuindo os modos característicos da fazenda, da herdade e da vila. A influência é reforçada pela circunstância da população da cidade em si ser recrutada, em larga escala, do campo, onde persiste um modo de vida reminiscente dessa forma anterior de existência. Consequentemente não devemos esperar encontrar variação abrupta e descontínua entre tipos de personalidades urbana e rural. A cidade o e campo podem ser encarados como dois pólos em relação aos quais todos os aglomerados humanos tendem a se dispor.
Isso explica, em parte, o cenário de Belo Horizonte em seus primeiros anos, visto que se
constituía como urbano, mas preservava marcas de uma forma de viver referente às localidades
de onde os habitantes eram provenientes. Assim, no mesmo espaço conviviam modos diferentes
de experimentar o cotidiano da cidade grande. Esse fato também remete à questão que sempre
circundou as cidades ditas modernas: o convívio com a dicotomia tradicional/moderno. O caso de
Belo Horizonte é emblemático nesse sentido, visto que a própria mudança da capital já continha
em seu projeto a ideia de romper com o passado, com a tradição, com a antiga Ouro Preto,
entretanto ainda nos primeiros anos de sua existência Belo Horizonte contou, como característica
de sua paisagem urbana, com resquícios, traços de valores e modos de viver relativos às cidades
pequenas, interioranas.
Dessa forma, a ideia simmeliana de que a cidade grande é o lugar das transformações
aceleradas dada a quantidade de estímulos nervosos recebidos pelos indivíduos, ainda não era
fato nos primeiros anos de existência da nova capital mineira. Mais do que a presença da
dicotomia entre o tradicional e o moderno, é possível refletir a partir dessa questão, tomando
como referência as ideias de Simmel, o embate entre esfera objetiva e esfera subjetiva, uma
expressão da tensão e ambigüidade do ambiente moderno. Isto é, a tensão existente entre uma
realidade material que se configura como moderna: a cidade de Belo Horizonte; e uma realidade
interna relativa aos indivíduos que habitam essa paisagem urbana e moderna, mas que convivem
subjetivamente com os modos de vida oriundos das suas cidades de origem: pequenas,
interioranas.
Como fator importante para considerar os aspectos da presença da modernidade em Belo
Horizonte é imprescindível fazer referência aos modernistas mineiros dos anos 1920. O grupo
formado, entre outros, por Carlos Drummond de Andrade, Pedro Nava, Cyro dos Anjos foi

108
colaborador e responsável pela fundação de uma publicação modernista chamada A Revista.37
Sua edição era realizada na tipografia do jornal Diário de Minas, que pode ser considerado como
constitutivo do modernismo belo-horizontino, juntamente com a Livraria Francisco Alves e o
Café Estrela. Por que mencionar a publicação modernista? Pelo fato dela ser o registro das
representações da cidade, mesmo que fragmentadas e parciais, visto que construídas por um
pequeno grupo de escritores que faziam menção à área central de Belo Horizonte. Essas
representações mesmo que parciais elucidam características do moderno presentes no ambiente
urbano de Belo Horizonte e o quanto apreciaram ou depreciaram esses ares de modernidade.
De acordo com Andrade (2004) as representações construídas por Drummond, Nava e
Cyro dos Anjos foram fruto das experiências por eles vividas em Belo Horizonte e, por isso,
completamente subjetivas. Como eram todos oriundos de cidades do interior do estado, sentiram
na capital uma insegurança em relação ao plano social e afetivo, visto que o cotidiano em suas
cidades de origem era constituído de relações mais estáveis e definidas. Para eles mudar para
Belo Horizonte implicou perdas e ganhos. Os ganhos eram relativos à vida profissional,
intelectual e afetiva, mas as perdas diziam respeito às referências físicas, sociais e afetivas.
Drummond ressalta em suas referências a Belo Horizonte como as características de uma cidade
moderna a permeiam: a falta de humanidade, a impessoalidade, a falta de mistério, mas tais
aspectos são por ele enunciados como negativos e, como um crítico da cidade, negou-se a chamá-
la de moderna, visto que tal adjetivo carregava positividade. Em se tratando da extensão
territorial, da densidade populacional, sua localização em relação ao restante do país e do mundo
em face à experiência dos escritores dos anos 1920 a representação que predomina entre Nava,
Drummond e Cyro dos Anjos era relativa ao aspecto provinciano de Belo Horizonte. Esse aspecto
é ressaltado por eles exatamente pelo tamanho da cidade, por sua vida social e cultural que,
apesar de já se apresentar como mais intensa do que em outras cidades mineiras, era considerada
como conservadora.
Tais representações apresentam e confirmam o caráter ambíguo e dicotômico presente na
jovem Belo Horizonte, pois reiteram características que indicam a presença do moderno na
cidade, mas ao mesmo tempo a consideram um espaço citadino preso às tradições do passado,
seja porque seus habitantes ainda tinham fortes laços com suas cidades de origem, seja pelo fato
37 Segundo Andrade (2004) foram publicados apenas três números: em julho de 1925, agosto de 1925 e janeiro de 1926.

109
da nova cidade em relação ao Rio de Janeiro e a São Paulo ocupar uma posição periférica.
Segundo Andrade (2004) as metáforas construídas pelos escritores modernistas mineiros podem
ser compreendidas como metáforas do eu. “A cidade não tinha passado ou eles é que não tinham
passado na cidade? Burocrática era a cidade ou suas vidas na cidade?” (ANDRADE, 2004, p.
186)
As representações da cidade construídas pelos modernistas mineiros apresentam o caráter
ambivalente do moderno. Para constituir uma cidade moderna, como já assinalado, não é
suficiente que as suas edificações apresentem esse caráter, pois é preciso que se experimente o
moderno no cotidiano. Assim, mesmo que as representações dos modernistas mineiros seja
parcial e fragmentária, porque se referem à parte central da cidade, às suas próprias experiências
nesse espaço a partir de um círculo restrito de relações, elucidam bem, conforme enunciou
Simmel (1987) em relação a cidade grande e urbana38, que ela se constituía como o palco do
moderno e de suas ambiguidades. Tal como menciona Andrade (2004), Simmel se valeu da
existência de correntes opostas presentes na metrópole para compreender o homem moderno. Os
modernistas mineiros também identificaram as oposições presentes no cenário belo-horizontino
dos anos 1920 e descreveram a cidade a partir de críticas aos valores modernos que ali
começavam a se apresentar, tomando como referência para a construção da crítica a
rememoração de um passado vivido em um ambiente citadino menor. Daí muitas vezes fazerem
referências à cidade como conservadora, provinciana. A convivência com o passado de seus
moradores oriundos de cidades pequenas se fazia presente na jovem Belo Horizonte que se
constituía, então, espaço da ambiguidade, e sua história foi construída a partir das experiências
dos seus moradores em seus espaços, bem como das experiências que eles traziam consigo das
vivências de um estilo de vida que nada tinha de urbano e moderno. A cidade real não
necessariamente correspondeu ao ideal de cidade projetado para a nova capital mineira. O século
XX pode ser pensado como o momento de configuração ambígua do espaço-tempo, pois
[...] o homem vive a experiência de dois mundos, aquele transformado pela modernidade,e outro mantido pelas tradições a que ele se liga material e espiritualmente. As cidades modernas também revelarão tais ambiguidades e produzirão múltiplas e diferentes possibilidades de sua compreensão. (BARROS, 2001, p. 23-24)
38 Mesmo que Belo Horizonte nos anos 1920 não fosse tão grande e moderna quanto a Berlim do início do século XX, pode ser pensada assim em comparação com as demais “grandes” cidades mineiras daquele momento, tal como enunciado anteriormente sobre a caracterização de Belo Horizonte nos anos 1920.

110
3.6 A Ambiguidade do Moderno na Contemporaneidade: um bairro antigo na moderna
capital mineira?
Diante dessa reflexão sobre o quão ambígua era a vivência na Belo Horizonte em seus
anos iniciais é que busco situar o objeto de investigação deste trabalho. Um bairro da cidade –
Cachoeirinha –, situado fora do que foi definido nos primeiros anos de Belo Horizonte como
zona urbana, delimitada pela Avenida do Contorno. Ele foi constituído sem a ideia da técnica e
da racionalidade, por pessoas oriundas, tal como a maioria dos primeiros moradores da nova
capital, em grande parte, de outras cidades. Esses moradores preservaram, e muitos ainda
preservam, formas de sociabilidade, ou um modo de viver o cotidiano que revela traços
provincianos, diferentemente da atitude blasé do homem urbano da metrópole, tal como enunciou
Simmel (1987) a partir de sua Berlim do início do século XX. Esse bairro, que também data das
primeiras décadas do século XX, está localizado na região nordeste de Belo Horizonte e teve seu
início marcado como um dos espaços da zona suburbana, que foi ocupado contrariando a ordem
estabelecida pela planta da cidade que previa o crescimento e ocupação dos espaços da nova
capital mineira na direção do centro para a periferia. Nesse lugar, distante da zona urbana, pode-
se dizer que a modernidade tão sonhada para a nova capital do estado de Minas Gerais não teve
espaço pela forma como o antigo perpassou e, insisto, ainda perpassa, o cotidiano e as relações
entre seus moradores, ou seja, como um lugar praticado que é recoberto pelos sinais da tradição e
do antigo, tanto pelos primeiros moradores oriundos de outras cidades que criaram suas famílias
ali, quanto pelos resquícios do momento inicial de sua constituição presentes no seu cenário
contemporâneo.
A ideia é, então, tratar a questão da ambivalência do moderno de forma mais ampla para a
cidade de Belo Horizonte, ou seja, não fazendo referência somente à sua área central e aos seus
primeiros anos de existência, mas a partir de um de seus bairros situados fora da Avenida do
Contorno, que delimitava os limites da zona urbana no plano de Aarão Reis. Isto implica dizer
que a proposta é pensar o bairro como uma interpretação possível do viés da ambiguidadedo
moderno, como expressão da dicotomia cidade ideal e cidade real. Para tanto, a necessidade de
identificar os elementos de tal ambivalência no espaço físico e nas relações cotidianas dos
moradores do bairro ocorrerá por meio da recuperação das lembranças dos moradores do bairro,

111
na tentativa de identificar as percepções em torno desse ambiente tão recoberto de ares
provincianos numa capital que desde os anos 1970 já convive com a metropolização.
A ambivalência do moderno será, então, pensada por meio de um dos espaços de Belo
Horizonte, um bairro periférico que se constituiu como expressão do crescimento desordenado da
cidade, em “desobediência” ao seu plano original de crescimento: do centro para a periferia, pois
por sua história configura-se como uma das localidades da cidade que surge em contraposição a
ideia de adensar a zona urbana de Belo Horizonte. A ambivalência, propalada como
universalmente vivenciada pela passagem de uma situação ou paisagem tradicional para algo
“moderno” pode ser analisada a partir da presença da tradição/provincianismo de um bairro da
cidade em contraposição a constituição de espaços adensados cultural e socialmente na área
central de Belo Horizonte?
Outra questão que se coloca frente a esse bairro belo-horizontino é a possibilidade de
realizar uma análise sobre ele, não somente como o lócus da tradição, da expressão do ambíguo
no cenário “moderno” de Belo Horizonte, mas como resultado de experiências vividas que se
cruzam naquele espaço como expressão do hibrido. Tal como enuncia Canclini (2003), a
problemática pós-moderna significa que “o moderno se fragmenta e se mistura com o que não é,
é afirmado e discutido ao mesmo tempo.” (CANCLINI, 2003, p. 353) A ambivalência será,
então, pensada como confluência, visto que o cenário citadino contemporâneo estabelece
comunicação mais intensa com áreas diferentes e abriga uma diversidade de práticas que ora
pode conter traços da tradição, ora pode ser expressão do moderno. Assim como é possível
observar no bairro Cachoeirinha características de um modo antigo, provinciano de viver o
cotidiano, este espaço da cidade não se esquiva de conter características do ambiente urbano e
moderno: tem resquícios dos modos de viver de uma cidade pequena, pois as relações de
vizinhança e as relações de afeto são intensas ao mesmo tempo que também contém traços da
efervescência e da intensidade da vida na cidade grande e moderna tal como enunciou Simmel
(1987).
Para tornar possível essa análise do bairro como espaço do híbrido, as leituras mais
contemporâneas da cidade, apresentadas no capítulo um, servirão de guia. A ideia de pensar o
bairro como texto, tal como enunciou Barthes (1994), privilegiando a escrita e a leitura que os
moradores do Cachoeirinha constroem a partir de suas experiências cotidianas nos espaços que
circulam. As considerações de Lynch (1988) no sentido de pensar a cidade a partir dos seus

112
elementos móveis, moradores e suas atividades, visto que são tão importantes como os elementos
físicos e imóveis. Os moradores e as atividades que realizaram e realizam como conformação
desse híbrido. A menção de Rocha e Eckert (2005) à cidade não como mero reflexo de políticas e
planos urbanísticos, mas como suporte de biografias de seus habitantes que acabam por expressar
uma linguagem coletiva reveladora da pluralidade de identidades e memórias. E para o resgate de
tais biografias emerge aqui a necessidade da reconstituição das lembranças de alguns dos
moradores do bairro Cachoeirinha para mencionar em que medida o antigo e o moderno são
expressão da existência do espaço configurado como híbrido, nos termos de Canclini (2006)
pelas práticas dos seus habitantes.
Outro ponto interessante para refletir em torno dessa ambigüidade presente em Belo
Horizonte e, de alguma forma, expressa em um de seus bairros39, é como o Cachoeirinha devido à
sua localização, entre duas avenidas de grande circulação (Avenida Antônio Carlos e Avenida
Cristiano Machado), pela sua história marcada pela presença da fábrica de tecidos tem como uma
de suas características não ser imediatamente conhecido pelos moradores da capital mineira.
Além disso, é bastante comum ser confundido com bairros vizinhos que têm parte de sua história
também marcada por uma fábrica têxtil e com grande percentual de moradores que nela
trabalharam. A intenção é refletir sobre essa questão a partir da elucidação do fato de que se
constitui como um bairro de pouca visibilidade na cidade, ou quase invisibilidade. A ideia é
discutir que sua “invisibilidade” não se relaciona com os aspectos de um modo provinciano de
viver o cotidiano, visto que outros bairros de Belo Horizonte também guardam essa característica,
mas apresentar como essa “invisibilidade” é muito mais relativa a própria história do bairro e o
espaço que ocupa.
39 Isso não implica dizer que somente o bairro Cachoeirinha contém esse traço do provincianismo e da tradição na cidade de Belo Horizonte. Vale conferir RIBEIRO (2008) e CASTRO (2009).

113
4 O BAIRRO CACHOEIRINHA: A HISTÓRIA OFICIAL E A HIS TÓRIA NARRADA
PELOS MORADORES
Este capítulo tem como objetivo apresentar o bairro Cachoeirinha para remontar um
pouco de sua história que foi fortemente marcada pela existência de uma indústria têxtil que
funcionou por mais de 50 anos. Entretanto, antes da apresentação dos dados sobre o histórico do
bairro, será apresentada uma exposição de reflexões em torno do conceito de bairro a partir de
Lefebvre (1975) e Mayol (2005), pois suas considerações apresentam-se como um ponto de
partida para a análise. Lefebvre (1975) destaca que o bairro deve ser estudado a partir de sua
história e de sua relação com a história da cidade, pois um bairro não existe sem estar
referenciado na cidade. Outro ponto importante salientado pelo autor diz respeito ao fato de que é
no bairro que o espaço e o tempo dos habitantes da cidade ganham sentido e forma. Um último
aspecto que faz parte das reflexões de Lefebvre (1975) é referente à tarefa do habitante de
decifrar sua cidade a partir do bairro. Para contribuir com esse debate, Mayol (2005) assinala que
o habitante do bairro pode ser pensado como um usuário desse espaço da cidade e que, a partir
das relações entre esses usuários, entre os espaços público e privado, ou seja, a partir das relações
com os outros e com o espaço, vários sentidos são atribuídos ao bairro.
Em seguida as reflexões de Costa (2008), Cordeiro (1997), Costa e Guerreiro (1984)
sobre alguns dos bairros de Lisboa serão apresentadas no intuito de elucidar ideias relativas à
identidade, ao sentimento de pertencimento dos moradores aos seus espaços de moradia e lazer.
Esses estudos portugueses analisam especificamente os bairros Bica e Alfama como lugares
tradicionais na cidade e as investigações sobre eles, entre outras questões, se voltaram para
apreender as transformações ocorridas ao longo do tempo, objetivando identificar, como
menciona Costa (2008), as dinâmicas de permanência e mudança social. Essas análises, em parte,
coadunam com as considerações de Lefebvre (1975) em torno do fato de que o bairro por si só
não é uma totalidade, visto que deve ser estudado em relação à história da cidade, por isso
investigar o bairro considerando não somente suas mudanças internas, mas também como os
aspectos externos impactam o seu interior. Contemplam também as considerações de Mayol
(2005), visto que as experiências dos moradores do bairro, ou seja, suas relações com os demais

114
moradores, com os festejos do lugar, com os espaços freqüentados e os sentidos que têm no seu
cotidiano são objeto de análise das questões apresentadas pelos estudos portugueses.
Ao final o bairro Cachoeirinha será apresentado a partir de sua morfologia, para remontar
seu processo de ocupação que teve início nos anos 1930 e indicar as modificações ocorridas ao
longo do tempo, para que se possa identificar as mudanças que foram resultado de suas dinâmicas
internas ou fruto de mudanças relativas às dinâmicas da cidade na construção da sua configuração
como espaço urbano. A ideia de remontar o histórico de ocupação do bairro Cachoeirinha deve-se
ao fato de explicitar o processo de crescimento de Belo Horizonte – da periferia para o centro –
que contrariava o planejamento inicial, conforme assinalado no capítulo dois. No que se refere à
identificação das mudanças ocorridas ao longo do tempo, aqui elas se fazem necessárias para que
seja possível retomar a discussão em torno das concepções de bairro para compreendê-lo como
espaço que integra a cidade e que não deve ser pensado apenas a partir de suas dinâmicas
internas. Ou seja, a ideia é apresentar o bairro diacronicamente para identificar em que medida as
alterações que ocorrem na sua estrutura física respondem às modificações no espaço urbano da
cidade e em que medida as permanências, sejam elas físicas, objetivas ou mesmo as afetivas,
subjetivas, frente às mudanças, indicam pistas para a análise das particularidades desse espaço da
cidade de Belo Horizonte.
Quando menciono o fato de que vou descrever o bairro a partir de sua morfologia tomo
partido da ideia de que uma cidade e seus espaços têm como particularidade o entrecruzamento
dos tempos. Isso significa que parto do presente e a forma como ele está marcado no cotidiano da
cidade, nos usos, hábitos que são realizados nos seus espaços, ou seja, nas formas de apropriação
de um de seus bairros. Esse tempo presente torna-se o guia, não para rememorar a gênese do
espaço, mas para rememorar o tempo passado e perceber em que medida ele está impresso na
forma da cidade e convive com os usos, hábitos e apropriações do espaço no cotidiano atual de
seus moradores. A morfologia, então, não será aqui percebida apenas como retrato de uma
estrutura física e material, mas como suporte da história que já se fez e da história que se constrói
cotidianamente nos espaços da cidade.

115
4.1 O bairro: em busca de conceituações
Lefebvre (1975) ao criticar a ideologia do bairro que, segundo ele, toma o bairro como
essência da vida urbana, pois é como se reduzisse a cidade a um de seus elementos, assinala que é
necessário um processo científico para alcançar sua definição e demarcar seus limites, seu grau
de realidade. Para tanto, deve-se tomar como referência “[...] a cidade como totalidade e não
como conjunto de elementos ou coleção de aspectos [...] que engloba”. (LEFEBVRE, 1975, 199)
Sendo assim, o bairro só pode ser entendido a partir da cidade como uma totalidade, pois não
existe como uma unidade isolada e autônoma.
Ao mencionar que o bairro pode ser compreendido como uma forma de organização do
tempo e do espaço na cidade, Lefebvre (1975) ressalta que tal forma de organização, apesar de
importante, não é essencial e, como para ele a base da vida urbana é o centro, acrescenta que as
relações do centro com a periferia são um fator de extrema relevância, mas não o único, para a
constituição da cidade e, consequentemente, dos bairros.
O espaço social não coincide com o espaço geométrico; este último, homogêneo, quantitativo, é somente um denominador comum dos espaços sociais diferenciados, qualificados. O bairro, tal como acabamos de mostrar, seria a mínima referência entre os espaços sociais múltiplos e diversificados, ordenados pelas instituições e centros ativos. Seria o ponto de contato mais acessível entre o espaço geométrico e o espaço social, o ponto de transição entre um e outro, a porta de entrada e saída entre espaços qualificados e espaço quantificado, o lugar onde se faz a tradução (para e pelos usuários) dos espaços sociais (econômicos, políticos, culturais etc) em espaço comum, quer dizer geométrico. (LEFEBVRE, 1975, p. 200, 201)
Com efeito, o bairro não pode ser pensado de maneira atemporal, não pode ignorar a
história da cidade, visto que seu grau de realidade não é uma constante ao longo de tal história e
sua existência depende de um conjunto de variáveis ao longo de um determinado período de
tempo. Os bairros sempre terão graus de realidade distintos dependendo do seu momento
histórico e do momento histórico da cidade. Por isto Lefebvre (1975) afirma que o bairro não
pode ser concebido como a essência da vida urbana e configura-se como uma organização mais
conjuntural do que estrutural.

116
Como não se limita a tecer críticas em torno da ideologia do bairro, Lefebvre (1975)
enuncia algumas características do que pode ser definido como bairro, e destaca os seguintes
pontos:
• existem bairros que se mantêm como um resquício por pura inércia devido ao peso da história;
• o bairro é uma unidade sociológica relativa, subordinada, que não define a realidade social, porém é necessária. Sem bairros, como sem ruas, pode haver aglomeração, tecido urbano, megalópoles. Porém não há cidade.
• o bairro tem uma existência parcial, tanto para o habitante como para o sociólogo. Nele se constituem relações interpessoais mais ou menos duradouras e profundas. É o maior dos pequenos grupos sociais e o menor dos maiores. A proximidade no espaço e no tempo substitui as distâncias sociais, espaciais, temporais. (LEFEBVRE, 1975, p. 201)
A partir de tais características, o autor assinala que o bairro tem necessidade de
determinados equipamentos como escola, igreja, correios, área comercial, porém isto não o torna
auto-suficiente, pois tais equipamentos dependem de grupos funcionais mais amplos referentes à
escala da cidade, de uma região ou mesmo do país, ou seja, a estrutura do bairro depende de
outras estruturas mais amplas como a municipalidade, o poder político, as instituições. Assim,
forma uma pequena malha no tecido urbano e na rede que constitui os espaços sociais da cidade.
Entretanto, Lefebvre (1975, p. 202) destaca que “[...] é neste nível onde o espaço e o tempo dos
habitantes tomam forma e sentido no espaço urbano”.
Ao final de sua discussão, o autor apresenta uma tipologia dos bairros que podem ser
classificados, a partir de um inventário e comparação dos equipamentos, com os que se mantêm,
os que se consolidam e os que desaparecem. Segundo Lefebvre (1975) essa classificação exige
que se investigue as relações, tanto internas quanto externas, dos bairros com o seu entorno.
As considerações de Lefebvre (1975) apresentam-se como um ponto de partida para se
pensar o bairro nas cidades contemporâneas. Tomando-as como referência para uma análise
preliminar vale ressaltar alguns pontos. Primeiramente é importante destacar que o bairro não
pode ser pensado de forma atemporal, ou seja, estudar um bairro implica não somente conhecer
sua história, mas também como esta se relaciona com a história da cidade, visto que outro ponto
importante enunciado pelo autor é relativo ao fato de que o bairro não existe sem se referenciar à
cidade, ele deve ser pensado a partir dessa totalidade. Essa questão interessa para o presente o
trabalho, visto que o bairro da Cachoeirinha, local onde trabalhavam os ex-funcionários de uma
fábrica têxtil e onde alguns ainda residem, deve ser pensado a partir de sua história, mas

117
relacionada à história de Belo Horizonte. Sua existência, de acordo com as considerações de
Lefebvre (1975), não faz sentido se pensada isoladamente.
Outro ponto que merece uma observação mais detida diz respeito ao fato de que o bairro
seria uma referência dos espaços sociais do tecido urbano, seria o lugar onde os habitantes
realizariam a tradução da esfera econômica, política e cultural da vida na cidade, do que Lefebvre
(1975) considera como os demais espaços sociais. É no bairro que se processam tais traduções,
pois como assinalou o autor é ali que o espaço e o tempo dos habitantes da cidade ganham forma
e sentido. Além disto, Lefebvre (1975) destaca a importância do bairro para o habitante da
cidade, bem como o papel do habitante no ato de decifrar a cidade por meio de sua experiência no
bairro.
No intuito de ampliar as conceituações a partir de algumas formas de caracterização do
bairro, vale mencionar as reflexões de Mayol (2005) sobre os sentidos do bairro atribuídos por
seus habitantes, que ele denomina usuários. Para elucidar tais características o autor destaca o
bairro como um espaço de relações entre seus usuários, entre espaço público e espaço privado,
relações com os comerciantes, com espaços de lazer e espaço de trabalho.
Em se tratando das relações entre os usuários, Mayol (2005, p. 39) destaca o bairro “[...]
como o lugar onde se manifesta um ´engajamento´ social, ou noutros termos: uma arte de
conviver com parceiros (vizinho, comerciantes) que estão ligados a você pelo fato concreto, mas
essencial, da proximidade e da repetição”. De acordo com o autor, a convivência tem relação com
um compromisso que cada pessoa assume ao renunciar o que ele define como “anarquia das
pulsões individuais”, para contribuir na vida coletiva, é por meio dela que ele se obriga a
respeitar um “contrato social” existente para que a vida cotidiana seja possível. Esse cotidiano
torna-se possível porque há a certeza de que o usuário será reconhecido, considerado, positiva ou
negativamente, pelos outros e, dessa forma, fundará em seu próprio benefício uma relação de
forças em seus trajetos cotidianos.
Como o bairro é esse ambiente propício às relações sociais, Mayol (2005) ressalta que,
por definição, é possível dizer que o bairro condensa um domínio social que para o usuário é uma
parcela do espaço urbano na qual ele é reconhecido. Sendo assim, o bairro pode ser apreendido
como uma porção do espaço público que é geral, anônimo, pertence a todos, mas uma porção
diferente, pois se aproxima de um espaço que poderia ser definido como privado, particularizado
pelo seu uso quase cotidiano. Esclarecendo este ponto, Mayol (2005) assinala que o bairro

118
pensado como espaço privado do espaço público é resultado de uma sucessão de passos em suas
calçadas que são, então, significados pelo vínculo orgânico que estabelecem com a residência.
Essa privatização do espaço público realizada pelo bairro é progressiva e, segundo o autor, é
como se fosse um dispositivo prático que objetiva garantir uma perspectiva de continuidade entre
o que é mais íntimo (o espaço privado da residência) e aquilo que é mais desconhecido (o
conjunto da cidade ou mesmo o resto do mundo), é uma espécie de relação de apreensão do
dentro (a residência) e de apreensão do espaço urbano ao qual a residência se liga (o fora). O
bairro pode então ser pensado, de acordo com tais assertivas, como um termo médio entre o
dentro e o fora e por meio da tensão entre ambos vai aos poucos se tornando um prolongamento
de um dentro que se efetiva pela apropriação do espaço.
Um bairro, poder-se-ia dizer, é assim uma ampliação do habitáculo, para o usuário, ele se resume à soma das trajetórias inauguradas a partir de seu local de habitação. Não é propriamente uma superfície urbana transparente para todos ou estatisticamente mensurável, mas antes a possibilidade oferecida a cada um de inscrever na cidade um sem-número de trajetórias cujo núcleo irredutível continua sendo sempre a esfera do privado. (MAYOL, 2005, p. 42)
Dessa forma, Mayol (2005) assinala que as apropriações do espaço realizadas
cotidianamente pelos usuários são fundamentais para que eles realizem uma prática cultural
espontânea sem a qual a vida na cidade seria impossível. Segundo o autor há uma analogia entre
a moradia e o bairro e cada um deles tem, a partir de seus limites, uma taxa de controle pessoal
visto que tanto a moradia como o bairro são lugares vazios nos quais, de maneiras diversas, se
pode fazer o que se quer. Os vazios de cada um desses espaços, seja a parede de uma moradia ou
o muro de um prédio, contêm atos de controle semelhantes aqueles das trajetórias no espaço
urbano do bairro e tais atos são fundadores da vida cotidiana no meio urbano: retirar um do outro
é tornar impossível a vida no cenário urbano. É dessa forma que os limites entre público e
privado tornam-se compreensíveis e podem ser considerados os fundadores do bairro para a
prática do usuário, a separação entre as duas esferas pode ser vista como uma separação que une.
É como se não houvesse oposição entre a moradia (espaço privado, o dentro) e o bairro (espaço
público, o fora), mais pertinente seria dizer de uma inter-relação entre os espaços – moradia e
bairro – que torna possível que eles façam parte de um mesmo lugar no espaço da cidade, ou seja,
o usuário se vale da moradia para se situar no bairro, bem como se vale do bairro, a partir de seu

119
pertencimento a ele, para se situar na cidade. Isto implica dizer que o bairro seria o mais privado
dos espaços públicos, lugar de pertencimento e reconhecimento na cidade.
Vale aqui uma menção à análise de Dumont (1988) sobre a sociedade indiana, na qual ele
salienta que a classificação binária é insuficiente porque considera simétricas oposições que não o
são e “... peca por um igualitarismo deslocado que esvazia a ideia de seu valor.” (DUMONT,
1988, p.234). A distinção hierárquica prevê o englobamento de contrários, implicando mais do
que uma oposição, pois ela “solda” “... duas dimensões de distinção: entre níveis e no interior de
um nível.” (DUMONT, 1988, p. 233) Isso implica dizer que a oposição se dá em pelo menos dois
níveis diferentes, que estão eles mesmos em relação hierárquica, sendo que um nível pode estar
contido no outro.
Em se tratando da moradia, do bairro e da cidade, existiria um nível em que a moradia se
diferenciaria do bairro (moradia/bairro) e um outro em que poderia ser identificada com o bairro
(moro no bairro X, como se o bairro estivesse contido na moradia), ocorre, então, uma inversão e
o englobamento de um nível pelo outro. Mas ainda há a cidade e com ela instala-se um terceiro
nível: nela existe o espaço privado (a moradia, o dentro) qualitativamente diferente do espaço
público (o bairro, a rua, o fora), que são distintos, mas também podem ser pensados como os
mesmos. É como se o espaço público (o bairro) tivesse uma continuidade no espaço privado (a
moradia) e, dessa forma, a cidade está contida no bairro e, este, por sua vez, contém a moradia.
Resumindo: existe a oposição entre a moradia e o bairro que se constituem como espaços
distintos, privado e público, há o nível em que eles se comunicam, pois como assinala Mayol
(2005) o bairro seria a expressão da privatização do espaço público, e um último nível que seria a
cidade na qual estão contidos bairro e moradia. Trata-se então, aos moldes de Dumont (1988),
não de uma hierarquia e oposição binária, mas de um englobamento de contrários que solda
dimensões de distinção do espaço.
Ainda em torno do bairro como espaço de relações, Mayol (2005) ressalta que ele se
constitui como espaço de uma relação com o outro como um ser social, visto que sair da moradia
implica em andar pela rua, o que significa efetuar um ato cultural que não é subjacente a
nenhuma lei, pois coloca o usuário em uma rede de sinais sociais que lhe são preexistentes, tais
como os vizinhos, a configuração dos lugares, entre outros. Aqui a relação dentro e fora perpassa
outras relações como casa e trabalho, conhecido e desconhecido, atividade e passividade,
masculino e feminino o que configura, então, uma relação entre uma pessoa e o mundo físico e

120
social. Isso significa que esse ato cultural é organizador de uma estrutura do “sujeito público”
urbano que se perfaz pelos passos cotidianos num ir-e-vir que mistura a vida social e o
recolhimento íntimo, enfim, um ato dialético.
O bairro constitui-se também como um lugar de passagem pelo outro: o vizinho. Esse não
é íntimo, nem anônimo, mas é passível de reconhecimento. A prática do bairro pode ser descrita
como uma técnica de reconhecimento do espaço social. Independentemente dos nomes próprios
dos usuários, o seu lugar na cidade advém desse pertencimento a um bairro. Ele está inscrito na
história do usuário como uma marca de pertença na medida em que pode ser compreendido como
a configuração primeira de um processo de apropriação do espaço como um lugar da vida pública
cotidiana. A cidade seria poetizada pelos seus habitantes que a re-fabricam para seu uso próprio
porque impõem à ordem externa da cidade a sua lei de consumo do espaço. O bairro, então,
configura-se como um objeto de consumo em termos da privatização do espaço público. Nele
encontram-se as condições que favorecem o conhecimento dos lugares, os trajetos cotidianos, as
relações de vizinhança, as relações com os comerciantes, os sentimentos de pertencimento a um
território. Tudo isso organiza o dispositivo social e cultural que faz com que o espaço urbano
torne-se “[...] não somente o objeto de um conhecimento, mas o lugar de um reconhecimento”
(MAYOL, 2005, p. 45)
Em relação a esse reconhecimento vale trazer as considerações de Gonçalves (1988)
acerca da lógica de apropriação dos espaços como sendo reveladora de percepções e significados
que, no caso dos bairros, se definem pela utilização que os atores sociais fazem dele, bem como
em relação à implicação afetiva de que são objeto. O autor ressalta dois elementos para essa
relação entre o bairro e seus habitantes: suas práticas sociais e o valor afetivo que atribuem ao
lugar onde essas práticas ocorrem cotidianamente. Partindo dessas considerações, Gonçalves
(1988) assinala que o bairro pode ter o sentido de enraizamento total e quase exclusivo para
certas populações. Nesses termos, deslocar-se em definitivo para adotar novos locais de moradia
pode significar não só a morte relacional para alguns indivíduos, como também a morte física. O
significado do espaço construído não é reduzido à sua dimensão utilitária. Para essa população o
bairro é vivido como algo próximo da “comunidade de aldeia”, um meio social que propicia o
conhecimento recíproco a partir do qual se organiza a identidade e a segurança, se estabelecem e
situam todas as relações e se lê o exterior como negativo. Aqui o bairro é vivido e sentido como
lugar de convivialidade. Gonçalves (1988) destaca que esse tipo de concepção e vivência do

121
bairro pode provocar efeitos não previstos que contribuirão para sua destruição. Segundo ele, se
são associadas ao bairro apenas conotações positivas ligadas à ideia de comunidade, isto pode
converter tal espaço em lugar de controle máximo, de limitação à liberdade e de dificuldade em
relação à mudança.
Ao analisar os impactos da reforma urbana em termos de uso e função da Avenida Faria
Lima30 em São Paulo nos bairros Pinheiros, Itaim e Vila Olímpia, Carlos (2001) aponta como os
moradores se ressentem com as mudanças que foram implementadas nos seus bairros, pois onde
antes prevalecia um espaço predominantemente residencial, passa a fazer parte um cenário de
edifícios comerciais. Segundo a autora, a casa, a rua e o bairro ganham significado pelo uso que
seus moradores lhes conferem por meio de práticas cotidianas. Sendo assim, se os moradores são
privados do exercício dos usos até então engendrados nos lugares do seu cotidiano ocorre um
esvaziamento de práticas pela impossibilidade que passam a ter do uso do espaço público que não
se configura mais como antes.
[...] o bairro tende a se esvaziar, revelando sua impossibilidade como gerador de sociabilidade. Isto porque a construção do reconhecimento do habitante como cidadão vai-se revelando, como descoberta do bairro que se constrói em uma prática espacial por meio de modos de apropriação que criam os referenciais dados pelo uso, suas limitações e possibilidades. O espaço vai ganhando a dimensão que a vida cotidiana lhe confere, construído pelas ações dos sujeitos. (CARLOS, 2001, p. 235)
O bairro é, então, um dos níveis de referência da vida cotidiana e isto se dá pela realização
de práticas cotidianas, desde as mais prosaicas, como os deslocamentos no interior do bairro e
para o seu exterior, até aquelas que envolvem outros moradores como as relações de
sociabilidade nas calçadas, praças, igrejas e outros locais de lazer. Assim, o bairro compreendido
como referencial da vida é fruto de práticas cotidianas que implementam usos no/do espaço, ou
seja é fruto de uma prática espaço-temporal cotidiana. “O bairro como referencial para a vida [...]
é o microcosmo que ilumina a vida, o referencial definido por uma base espacial que se constitui
como prática urbana e também a referência a partir da qual o habitante se relaciona com espaços
mais amplos.” (CARLOS, 2001, p. 244)
Ainda de acordo com Carlos (2001) o bairro compreendido como prática socioespacial
revela como os usos marcam as formas de apropriação dos lugares pelos seus habitantes. O uso é
30 Segundo Carlos (2001) as obras podem ser enquadradas no que foi denominado Operação Urbana Faria Lima regulamentada pela Lei 11.732/95.

122
que marca o espaço, pois organiza formas de agir e de comportar, ou seja, simbolicamente define
regras que validam o que é permitido e o que é proibido. Desse modo, o uso é sempre local,
definido pela forma como o espaço é apropriado, visto que revela o tempo da vida dos sujeitos
que o habitam.
Segundo Gonçalves (1988) um outro extremo da situação que define o bairro pela forma
como seus habitantes dele se apropriam pode ser identificada em bairros que são buscados pela
população como um modo de se dar a ver socialmente e uma promoção quanto à moradia: ele não
se constitui como lugar privilegiado das relações, nem das utilizações cotidianas, pois estas são
dispersas no território mais amplo da cidade. Nesse caso, o bairro é muito mais um lugar de
residência e cada vez menos um lugar de relações intensas que são, por sua vez, controlantes. O
bairro é, então, muito mais um sinal de pertença social do que um meio de vida.
Tanto a discussão de Gonçalves (1988) quanto a de Carlos (2001) destacam como os
bairros apresentam dimensões variáveis em relação às suas significações oriundas das práticas
dos atores sociais, o que depende sempre da relação que se estabelece entre os habitantes ou
usuários, para retomar o termo de Mayol (2005), com o espaço vivido e apreendido do bairro.
Isto é, o bairro deve ser compreendido a partir do vivido pelas ações dos usuários e se consolida a
partir de sua(s) história(s), é um contexto polissêmico.
Outras abordagens sobre bairros acrescentam algumas especificidades para proceder à
análise de cidades contemporâneas. De acordo com Ramos (2002) um bairro não se define apenas
como um suporte físico-político-administrativo de uma determinada população, ou seja, não se
define por uma área demarcada, por um limite impresso no mapa da cidade. Souza (1989)
assinala que assim como a realidade social se constitui a partir da dialética entre o objetivo e o
subjetivo, os bairros também o são. “[...] o bairro, qualquer bairro, é simultaneamente uma
realidade objetiva e subjetiva/intersubjetiva, e estas duas dimensões interpenetram-se e
condicionam-se uma à outra ao longo do processo histórico.” (SOUZA, 1989, p. 148, 149) Sendo
assim, o bairro pode ser definido a partir do mapa da cidade e dos limites objetivamente ali
estabelecidos, mas não se deve desconsiderar que eles também são uma interseção de
subjetividades, as duas dimensões se entrecruzam ao longo do tempo.
Souza (1989) afirma que no bairro a dialética entre o objetivo e o subjetivo deve ser
analisada de modo especial visto que

123
O bairro pertence aquela categoria de “pedaços da realidade social” que possuem uma identidade mais ou menos inconfundível para todo um coletivo; o bairro possui uma identidade intersubjetivamente aceita pelos seus moradores e pelos moradores de outros bairros da cidade, ainda que com variações (SOUZA, 1989, p. 149)
A especificidade da dialética entre o objetivo e subjetivo tem forte relação com o fato de
que o bairro, em virtude das relações sociais que nele ocorrem, se constitui para o indivíduo o
espaço do sentido e do vivido. O reconhecimento e a sensação de bairro advêm da ideia de que é
nele que o indivíduo tem sua casa e, provavelmente é onde se encontra a casa de seus amigos, a
praça, o comércio que frequenta, ou seja, o bairro desperta empatia, afeto, referências do
cotidiano. Essa empatia, de acordo com Souza (1989), é a base da identidade do bairro.
Em se tratando dos limites do bairro, não aqueles objetivos estabelecidos pelo mapa, o
que se percebe é que os indivíduos “demarcam” seus bairros a partir de seus referenciais, de sua
experiência de viver naquele lugar.
As pessoas inconsciente ou conscientemente sempre “demarcam” seus bairros, a partir de marcos referenciais que ela, e certamente outras antes delas, produzindo uma herança simbólica que passa de geração a geração, identificam como sendo interiores ou exteriores a um dado bairro. Os limites do bairro podem ser imprecisos, podem variar um pouco de pessoa para pessoa. Mas se essa variação for muito grande, dificilmente estar-se-á perante um bairro, porque dificilmente haverá um suporte para uma identidade razoavelmente compartilhada, ou um legado simbólico suficientemente expressivo. Para existir um bairro, ainda que na sua mínima condição de referencial geográfico, é necessário um considerável espaço de manobra para a intersubjetividade, para uma ampla interseção de subjetividades individuais. (SOUZA, 1989, p. 150)
Souza (1989) chama atenção também para o fato de que, apesar da esfera subjetiva e do
entrecruzamento de subjetividades ser importante para constituição da empatia, afeto e identidade
do bairro para seus moradores, não se deve perder de vista a dimensão objetiva, visto que a
expressão das subjetividades também resulta de fatores objetivos como classe social, ocupação,
faixa etária, por exemplo.
[...] ignorando a dimensão objetiva teremos de aceitar que as nossas mentes são as únicas responsáveis pela existência dos bairros [...] este idealismo não ajudará a explicar satisfatoriamente o porquê das consideráveis interseções de subjetividades que são os bairros. (SOUZA, 1989, p. 151)
Segundo o autor, é necessário fazer interagir as duas dimensões, pois caso contrário os
bairros serão coisificados (considerados uma individualidade objetiva de espaços e funções
forjada além das subjetividades) ou fantasmagorizados pela subjetividade extrema.

124
4.2 Os Olhares Portugueses sobre alguns de seus bairros
Alguns estudiosos portugueses2 têm assinalado a importância de apontar elementos de
significação e de identificação de bairros de Lisboa enumerados por seus moradores como forma
de resgatar a memória de experiências que foram vivenciadas por eles e que os faz atribuir
sentidos e construir representações sobre a realidade na qual estão inseridos, que nem sempre
corresponde àquela que é concebida pelo restante dos moradores e turistas da cidade. Os estudos
sobre bairros portugueses, em geral, têm como foco bairros antigos e/ou tradicionais de Lisboa
com visibilidade turística ou pelas festas religiosas locais.
Ao analisar a cidade e seus bairros, tomando Lisboa como objeto empírico para tal,
Cordeiro (2004) chama atenção para a singularidade das cidades resultante de fatores históricos,
ambientais, culturais, sócio-econômicos. Optando por abordar a cidade pelo viés simbólico e
cultural, a autora ressalta que isso não significa desconsiderar as outras dimensões, mas centrar o
olhar sobre as imagens, os discursos, as perfomances cotidianas e seu papel na organização e
transmissão do conhecimento sobre a cidade. Isso implica reconhecer que além dos contextos de
enunciação existe uma dimensão de interação entre os sujeitos que possibilita a construção de
significados partilhados pela população da cidade, ou de parte dela, a partir de processos de
interação, confrontos e negociação entre práticas sociais e visões de mundo diferentes. Partindo
desse pressuposto Cordeiro (2004) analisa o bairro da Bica em Lisboa por meio das festas dos
santos populares (Santo Antônio, São João e São Pedro) realizadas no mês de junho. Seu intuito
era demonstrar como tais festas eram emblemáticas para pensar “[...] um certo imaginário urbano,
revelador de uma cidade popular e histórica.” (CORDEIRO, 2004, p. 186) As associações de
imagens e significados entre os bairros para a participação das festas eram estabelecidas com
algumas atividades profissionais, com certos tipos de atividades lúdicas, bem como certas
sonoridades. Essa articulação entre diferentes elementos contribuiu para a criação de uma visão
de mundo peculiar que configura Lisboa como uma cidade de bairros, ou melhor, de certos
bairros típicos e/ou históricos que simbolizam a cidade e têm associação com outros traços da sua
urbanidade como a sua topografia acidentada, as festas de Santo Antônio no mês de junho, seu
interior agrícola, o fado e seus tipos populares. A autora ressalta que tais elementos são hoje
2 Cf. Costa e Guerreiro (1984); Costa (2008); Cordeiro e Costa (1999); Cordeiro (1997). Cordeiro (2001); Cordeiro (2004).

125
explorados pelo turismo, mas isto não redime os acontecimentos como parte da história local e da
cultura urbana popular que ainda alimenta a identidade de Lisboa. De acordo com Cordeiro
(1997), a ideia de estudar um dos bairros típicos de Lisboa fazia sentido como uma forma de
descobrir individualidades da cidade, do seu ambiente, da sua cultura, enfim, de sua identidade.
O que interessa nesse trabalho de Cordeiro (2004) é perceber como o estudo de um
acontecimento que ocorre desde o início do século XX em um bairro pode ser tradutor de uma
imagem da cidade, ou pelo menos de uma imagem alimentada por práticas sociais que mobilizam
os habitantes não só do bairro, mas de outras áreas. Como um acontecimento festivo, resultado de
um conjunto de ações de grupos restritos de vizinhos (amigos, parentes, grupo de pares),
observado em sua microescala que tem como objetivo a promoção de um bairro, pode exprimir
práticas de sociabilidade constitutivas de canais de comunicação entre distintas entidades da
cidade.3 O bairro é, então, uma fonte em microescala para o conhecimento da cidade e das
práticas experimentadas por seus habitantes, fruto de relações de sociabilidade que sugere como
ponto importante de análise o contexto interacional no qual eles participam, e que pode ser
pensado como resultado de memórias particulares que formatam projetos.
Alfama foi outro bairro alvo da atenção de pesquisadores. Costa e Guerreiro (1984)
tiveram uma primeira inserção nesse espaço de Lisboa no final dos anos 1970 com vistas a
estudar o fado amador em um bairro popular. Esse estudo discutiu como o fado era não apenas
um estilo musical que compunha momentos de lazer dos moradores daquele bairro, mas também
elucidativo de um conjunto de práticas no/do espaço e de relações, bem como acabava por
constituir redes sociais com códigos comunicacionais e modelos de interação.
O fado amador (entre outros aspectos da cultura popular local) é paradoxalmente uma das formas pelas quais esta unidade social mais nitidamente afirma a sua identidade face ao exterior enquanto, ao mesmo tempo, veicula internamente, para os protagonistas das relações sociais bairristas, códigos simbólicos organizadores das interacções locais cujo significado é em boa parte oculto para os olhares estranhos, cuja natureza é em boa medida a da camuflagem e cuja eficácia depende precisamente desse carácter de invisibilidade exterior. Invisibilidade esta que, repetimo-lo, é tanto mais conseguida quanto em vez dum segredo explícito e organizado se produz através de práticas culturais ostensivas, mas cuja chave de descodificação local só a adquire quem está inserido na trama social de Alfama e pratica continuamente sua vida quotidiana. (COSTA e GUERREIRO, 1984, p. 253)
3 As festas dos santos populares contam, além das ações dos grupos de vizinhos, com o apoio e incentivo do poder local.

126
Em meados dos anos 1980 houve uma reaproximação com o bairro de Alfama quando
Costa (2008) desenvolveu um trabalho de campo de longa duração4 que ele denominou de
plataforma de observação continuada, pelo fato de ter acompanhado de perto como um conjunto
de processos sociais se configuravam no bairro e como as representações mais gerais da
sociedade portuguesa eram representadas naquele espaço da cidade. Sua discussão enfatizou as
relações entre o espaço interno do bairro e o espaço externo na construção da identidade cultural
de Alfama, ou seja, como os elementos constitutivos da identidade cultural do bairro se
relacionam com sua(s) imagem(s) frente ao exterior, e como esses elementos constitutivos da
identidade estão sobrepostos às dimensões das relações sociais que ocorrem no seu interior. Isto
implica dizer que a análise da identidade do bairro foi construída tomando como referência as
dinâmicas internas e externas e como estão interligadas. Essa ideia remete à concepção de
Lefebvre (1975) em relação ao bairro no sentido de não pensá-lo como uma totalidade e sim de
analisá-lo em relação ao espaço mais amplo que o abarca: a cidade.
Outro ponto de sua reflexão em torno do bairro Alfama que aqui interessa mais de perto é
o enfoque que ele confere à identidade cultural do bairro. O foco não somente se detém sobre as
dimensões internas e externas e suas articulações, mas também se volta para o que o autor
denomina como as dinâmicas relativas às mudanças e permanências. O objetivo foi enfatizar as
mudanças que se processaram no bairro ao longo de duas décadas confrontando-as com as
permanências “[...] problematizando-se em especial o que parece ser a sobreposição de alterações
sociais rápidas e profundas com continuidades culturais não menos acentuadas, nomeadamente
no plano identitário.” (COSTA, 2008, p. 13) Isso reitera a ideia de pensar o bairro em relação à
cidade onde se insere, visto que as mudanças no contexto mais amplo da cidade impactam
diferentemente seus espaços e nos bairros esses impactos podem ser percebidos pela forma como
seus habitantes incorporam ou não as mudanças ocorridas, se essas mudanças refletem ou não nas
formas de interação social, nas formas de apropriação dos espaços públicos, nos códigos
comunicacionais, enfim, como repercutem em um determinado espaço: há transformação ou
permanência? Há transformação e permanências? Enfim, essa questão incita o pensamento na
direção da ideia de Mayol (2005) de que o bairro deve ser pensado a partir das relações que seus
habitantes estabelecem com os outros moradores e participantes da vida do bairro e com as
formas como ocupam e se apropriam dos espaços ocupados, essas experiências conferem sentido
4 Aproximadamente dez anos.

127
e forma ao bairro. Essas significações do espaço vivido, então, não se constituem apenas a partir
da materialidade das edificações e das retas e curvas de ruas e avenidas, mas por meio das
experiências dos sujeitos ocorridas nos espaços de suas práticas cotidianas. Essas, por sua vez,
são impactadas tanto pela ambiência mais ampla da cidade onde residem como do bairro onde se
localizam na cidade. Como já mencionado a partir de Souza (1989), o bairro deve ser pensado
como a interseção das esferas objetivas e subjetivas.
Numa perspectiva de cotejar a interseção das esferas objetiva e subjetiva, como assinalou
Souza (1989), vale ressaltar o estudo de Cordeiro e Costa (1999), pois ao analisarem os bairros
Alfama e Bica em Lisboa destacam que sua morfologia física, as classes sociais que os habitam e
freqüentam, as atividades econômicas que nele são praticadas, as redes sociais locais, a
freqüência, intensidade e repetição das interações cotidianas, o modo como as instituições supra-
locais nele se inserem, contribuem para um determinado tipo de interação que propicia a
constituição de formas culturais com alto teor de carga simbólica. Mesmo que se trate de uma
realidade muito específica, essa análise pode ser útil para pensar realidades contemporâneas em
que os bairros já não se estruturam a partir dos mesmo referenciais de outrora, mas continuam a
produzir valores e conteúdo simbólico a partir das especificidades de suas práticas sociais e da
relação com a rede mais ampla da cidade.
Outro ponto ressaltado por Cordeiro e Costa (1999) é que cada um dos bairros analisados
revelou-se como uma construção social, ou seja, como prática e representação relativas às
relações estabelecidas entre os que lá habitam e os outros e tal construção social é denominada
sociedade de bairro. Uma designação claramente inspirada nas clássicas “sociedade de corte”
(Elias) e “sociedade de esquina” (Foote Whyte). Sociedade de bairro diz respeito a “[...] uma
sobreposição de parâmetros de estruturação social – morfológicos e simbólicos, de composição
social e de contexto interaccional – redobrados ainda de formas marcantes de identidade
cultural.” (CORDEIRO e COSTA, 1999, p. 73) Sendo assim, uma sociedade de bairro justapõe
elementos da instância morfológica com elementos da esfera simbólica relacionados às interações
e práticas sociais, elementos esses que são referências para a identidade cultural do bairro. Para
que um bairro se constitua como sociedade de bairro é necessário que haja uma interligação de
suas dimensões: seus espaços residenciais, suas formas urbanas, suas redes sociais multifacetadas
e espaços privilegiados de sociabilidade, ou seja, os espaços concretos e as relações e interações
sociais que neles ocorrem, bem como o sentido e os valores que tais interações abarcam.

128
É a partir dessa perspectiva de engendrar estudos sobre um bairro que aqui tomo partido.
A expectativa é poder identificar a partir do resgate da memória dos moradores da Cachoeirinha,
os elementos significativos de suas experiências partilhadas e vivenciadas naquele território, por
eles identificado a partir de referências afetivas, religiosas, relativas ao mundo do trabalho, ao
espaço de moradia e de relações de sociabilidade. Como eles decifram esse território e suas
relações de pertença a ele, quais são as práticas cotidianas que os remetem a tais relações de
pertencimento àquele território e como, hoje, ele é representado a partir das vivências do passado
e do presente.
Essas breves considerações em torno do bairro foram necessárias para uma aproximação
do lugar na cidade onde estão os homens e as mulheres que se constituem como sujeitos desta
pesquisa: o bairro da Cachoeirinha. O bairro tratado como interseção de subjetividades possibilita
compreender de que maneira ele se fez e/ou ainda se faz presente no cotidiano dos seus
moradores e em que medida sua estrutura morfológica imprimiu/imprime marcas nas práticas
sociais e na identidade de seus habitantes.
4.3 O bairro Cachoeirinha: aspectos morfológicos e históricos
Belo Horizonte é dividida em nove regionais e o bairro Cachoeirinha está localizado na
regional nordeste, situada ao norte da área central da cidade, entre o bairro Lagoinha e a região da
Pampulha.

129
Mapa 1
Regionais Administrativas de Belo Horizonte
O bairro Cachoeirinha tem sua identidade fortemente marcada pela sua origem como área
operária, visto que seu surgimento esteve ligado tanto ao processo de expansão da cidade para

130
além da área central, ou seja, constituiu-se como um bairro periférico da zona suburbana situado
fora dos limites da Avenida do Contorno, mas também à forte relação com a fábrica de tecidos ali
localizada, já que grande parte dos seus habitantes teve sua vida no mundo do trabalho marcada
pela experiência na Companhia Industrial Belo Horizonte – CIBH.
De acordo com documento elaborado pelo Planejamento da Região Metropolitana de Belo
Horizonte – PLAMBEL5, o bairro Cachoeirinha pode ter sua história remontada a partir de cinco
períodos que recobrem desde o seu nascimento, ainda nos anos 1920, até meados da década de
1980. O primeiro e o segundo períodos de desenvolvimento do bairro têm como marco de
povoamento a instalação da Cia Mineira de Fiação e Tecelagem, indústria têxtil que será
adquirida pela CIBH na década de 1930.
Figura 3 Fonte: PREFEITURA DE BELO HORIZONTE (1937, p.34).
5 Este documento, sem referência de data, foi elaborado pelo Planejamento da Região Metropolitana de Belo Horizonte - PLAMBEL, órgão vinculado à Secretaria de Planejamento – SEPLAN. O documento foi consultado no Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte. Uma possível data assinalada à lápis seria 1983.

131
Figura 4
Fonte: PREEFITURA DE BELO HORIZONTE (1937, p. 35).
Este marco relaciona-se ao início da ocupação visto que em torno da Cia Mineira de
Fiação se formou uma vila operária6 que nos primeiros anos não contará com oferta de serviços
de infra-estrutura nem pela fábrica nem pelo estado. Como já assinalado no capítulo dois, o poder
público não atendia aos novos espaços ocupados da cidade com os serviços de infra-estrutura
urbana. Os bairros vizinhos, Santo André, Parque Riachuelo, São Francisco, Aparecida e Senhor
Bom Jesus, desenvolveram-se posteriormente, de forma induzida pela fábrica de tecidos que
adquire grande importância frente à imaturidade do processo de industrialização da cidade aquela
época. Quando a CIBH adquire a Cia Mineira de Fiação nos anos 1930 e se transfere para o
Cachoeirinha em 1932, dá um novo impulso ao adensamento da área e dinamismo do bairro,
6 Essa vila operária não foi constituída pelo Estado como a Vila Concórdia, por exemplo, localizada no bairro vizinho, que teve sua vila operária implantada em 1935. Porém, o início da ocupação do bairro será assim denominado, visto que os primeiros moradores estabelecem uma forte relação com a fábrica, sendo alguns deles trabalhadores da mesma.

132
propulsionando o comércio local e do entorno, bem como valorizando a área que empregava
trabalhadores não só do bairro, mas também oriundos de outras regiões da cidade.
A aprovação do bairro pela Prefeitura ocorreu em 1930 dois anos antes da transferência de
parte das atividades da CIBH para lá. Uma das marcas da população do Cachoeirinha é o fato de,
inicialmente, ter se constituído, como uma população predominantemente operária que
pressionou o poder público para alcançar o fornecimento de serviços de água encanada, energia
elétrica e bondes, além de equipamentos locais. Data, por exemplo, de 1930 (data anterior à
transferência da CIBH para o bairro) a implantação de um chafariz para abastecimento de água e
a aprovação dos nomes de algumas ruas como a Simão Tamm, Nossa Senhora do Brasil, Nossa
Senhora da Conceição, Nossa Senhora da Paz, sendo que todas elas circundavam o quarteirão
onde a fábrica está localizada.7 A transferência da CIBH para o Cachoeirinha estimulou o
processo de ocupação, não somente em termos de moradia, mas também da implantação do
comércio que contribuiu para a valorização da área.
Nos anos 1930 também se encontram registros de uma movimentação no bairro relativa às
serenatas que foram objeto de reclamação na imprensa local devido ao barulho que realizavam
num bairro tão pacato e que buscava a modernização. Diante de tal reclamação, Carlos Drumond
de Andrade elaborou a seguinte crônica em defesa das serenatas como forma de manutenção de
um jeito romântico de cantar o amor.
Habitantes da Cachoeirinha protestaram contra as serenatas que o amor infeliz
realiza todas as noites. A Cachoeirinha moderniza-se. Antigamente, eram os bairros aristocráticos que
se queixavam dessa praga noturna, resíduos de velhos costumes sertanejos atuando na alma nova da cidade. Hoje são os bairros remotos, onde o traço urbano se confunde com a linha rural, que já não suportam os ais do amor não retribuído, os suspiros da ausência, os queixumes da ingratidão. O amor, banido do perímetro urbano, é prejudicado, agora, no próprio subúrbio humilde em que moram os operários, os pequenos empregados, os guardas-civis – a última gente que ainda amava no mundo, em suma.
Por favor, não expulsem da Cachoeirinha esses últimos românticos barulhentos e melódicos. É impossível que não haja mulher alguma para se interessar pelo que eles cantam e contam, e deixar-se acordar pela música estraçalhante, o rosto moreno pousado no travesseiro morno. E daqui eu pressinto a nacional Maria de Jesus, de que nos fala o poeta Guilherme César, abrindo a janela sem taramela de sua morada exígua, para espiar, no frio da noite, destacando-se da silhueta indecisa das fábricas, a figura sofredora do Raimundo – o famoso Mundico, da banda do 5º Batalhão – que chora e que
7 Digo localizada pelo fato de que a edificação onde ela funcionava ainda fazer parte da paisagem do bairro e constituir-se como uma referência espacial. Desde 1995, data do fechamento das atividades da CIBH, passou a funcionar em parte de suas instalações uma nova indústria do ramo têxtil desenvolvendo apenas atividades relativas à estamparia.

133
geme: Sem teu amooor, eu prefiro morre, picado de cobra ou cortado de faca. (ANDRADE, 1931, p. 11)
Os anos 1940 foram marcados na capital mineira, tal como assinalado no capítulo dois,
como o período de retomada da ideia de modernização que voltou aos discursos oficiais e um dos
ecos desse discurso foi a abertura da Avenida Pampulha, atual Avenida Antônio Carlos. Esse
momento pode ser caracterizado como o terceiro período do processo histórico de formação do
bairro Cachoeirinha. Essa avenida significou para o bairro um estímulo ao comércio imobiliário e
à ocupação do seu entorno. De acordo com o Planejamento da Região Metropolitana de Belo
Horizonte – PLAMBEL (s/d), essa obra significou ao mesmo tempo uma força dinamizadora do
crescimento da região norte de Belo Horizonte e uma barreira de difícil transposição entre os
bairros de suas duas margens. A foto seguinte, apesar de atual, ilustra como a Avenida Antônio
Carlos, localizada ao fundo, separou dois bairros (Cachoeirinha e Aparecida) que se
comunicavam anteriormente por uma ponte sobre o córrego existente entre eles. A ponte era uma
continuação da rua Aporé, como se passasse por cima de onde hoje se localiza a avenida Antônio
Carlos.
Figura 5
Rua Aporé entre Itapetinga e Avenida Antônio Carlos Fonte: Acervo pessoal 01 abr. 2009
Outra obra importante dos anos 1940 foi o viaduto do bairro no cruzamento da rua
Itapetinga com a rua Operário. Segundo o relatório do Prefeito Octacílio Negrão de Lima (1949)

134
esse viaduto era necessário para facilitar a locomoção dos moradores do populoso núcleo da
Cachoeirinha para o centro da cidade. Até hoje o viaduto é uma referência espacial no bairro.
Figura 6
Viaduto no Cruzamento da rua Itapetinga com a rua Operário Fonte: PREFEITURA DE BELO HORIZONTE (1949, p. 126)
O quarto período do processo de formação do bairro Cachoeirinha tem relação com a sua
consolidação como área proletária, mesmo que ao longo da segunda metade do século XX a
fábrica tenha perdido importância na absorção de mão-de-obra devido ao processo de
modernização tecnológica que sofreu. O relatório do Planejamento da Região Metropolitana de
Belo Horizonte – PLAMBEL ressalta que a importância relativa da CIBH fica bastante reduzida
na estrutura produtiva da região após o funcionamento efetivo da cidade industrial Juventino
Dias, criada oficialmente em 1941 em Contagem, município da região metropolitana de Belo
Horizonte, e inaugurada efetivamente em 1946.31 Outra obra urbana que impactou a redução da
absorção de mão-de-obra pela CIBH foi a abertura do Anel Rodoviário, que contribuiu para a
caracterização da Avenida Antônio Carlos como corredor de atividades onde passaram a se 31 Devido aos problemas relativos à Segunda Guerra e à lentidão das obras, a cidade industrial Juventino Dias só foi efetivamente inaugurada em 1946 e até 1947 contava apenas com 10 indústrias e empregava mil trabalhadores.

135
instalar galpões, oficinas, depósitos etc. Isso fez com que a participação da região da Pampulha e
seu entorno no sistema produtivo regional fosse ampliada com destaque para a ocupação do
bairro São Francisco como área de concentração industrial. A região do bairro Santo André mais
voltada para a Avenida Pedro II passou a receber influência dessa avenida e da área que a
circundava. Houve também, no mesmo período, a abertura da Avenida Carlos Luz que faz a
interligação com a Pampulha, o que contribuiu para a valorização de outra área da vizinhança: o
Caiçaras.
Como destaque dos anos 1950 é importante mencionar a intensidade da vida cultural do
bairro que contava com o footing na rua Simão Tamm, os jogos de futebol dos times Têxtil e
Cachoeirinha, a hora dançante na sede do Têxtil, o cinema e o teatro no Cine Pax e as
barraquinhas das festas da Igreja. Os moradores mais velhos sempre se referiram a essas
atividades como momentos prazerosos que propiciavam os encontros e favoreciam a
sociabilidade entre eles, fortalecendo os laços de vizinhança e pertencimento ao local.
O quinto e sexto períodos de formação histórica do Cachoeirinha têm como característica
a abertura de novas vias de acesso ao centro da cidade e aos bairros vizinhos. Entre essas é
importante ressaltar a construção do túnel Lagoinha - Concórdia em 1971 e a abertura da Avenida
Cristiano Machado também nos anos 1970 que impulsionaram o desenvolvimento do bairro
Cidade Nova e as áreas adjacentes. As ocupações mais recentes do entorno do Cachoeirinha
foram alvo de especulação imobiliária com a implantação de conjuntos habitacionais para
extratos médios de renda. Esse foi o caso do Santo André, por exemplo, que sofreu influência da
ocupação do Caiçaras de padrão mais elevado. No que se refere aos deslocamentos internos ao
bairro, a abertura das Avenidas Bernardo Vasconcelos, Cachoeirinha e Américo Vespúcio, que
fazem cruzamento com a Antônio Carlos, destacam-se como obras importantes nesse aspecto,
pois criaram novas possibilidades de articulação externa e interna que era dificultada pela
topografia e pela forma inadequada de abertura de loteamentos. Obras importantes para o bairro
também datam dos anos 1970 como a canalização do córrego cachoeirinha e a inauguração da
Escola Municipal Eleonora Pierucetti.

136
Figura 7
Córrego da Cachoeirinha Fonte: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, 1975
Figura 8
Avenida Bernardo Vasconcelos após a canalização do córrego Cahoeirinha Fonte: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (1975)

137
Figura 9
Escola Municipal Eleonora Pierucetti Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, 1975
Figura 10
Escola Municipal Eleonora Pierucetti Fonte: Acervo Pessoal (2009)
Os anos 1990 marcaram o bairro de forma mais incisiva pelo encerramento das atividades
da CIBH. O comércio local da Rua Simão Tamm já havia sentido algum impacto quando houve a
mudança da entrada dos funcionários da fábrica para a Avenida Bernardo Vasconcelos, com o
encerramento das atividades o impacto foi maior. Tanto que nos depoimentos dos moradores foi

138
comum ouvir considerações sobre a deficiência do comércio local e a ausência de alguns serviços
como banco e correio, sendo que esse último já existira no bairro. Em relação ao fechamento da
CIBH, em 1995, os moradores pronunciam dois discursos. Alguns são nostálgicos ao mencionar
o quanto a fábrica foi importante para o desenvolvimento do bairro, tanto no que se refere aos
empregos que muitos tiveram, como o movimento de outras atividades como o futebol, a festa do
dia dos trabalhadores, o terreno doado para a construção da Escola Eleonora Pierucetti.
A fábrica foi boa para o bairro porque quem não tinha estudo podia trabalhar lá e pagava bem. No final do ano ainda ganhava um pacotão de tecidos. (D. Imaculada, 74 anos, 07 mar. 2009) A fábrica foi boa para o bairro porque todo mundo tinha emprego e criou família trabalhando na fábrica. (Nely, 47 anos, 20 abr. 2009) Quando a fábrica faliu, o bairro acabou. (D. Eliana, 78 anos, 21 mar. 2009) Tudo aqui foi construído com terreno doado pela fábrica: a Escola Pierucetti, a igreja, a casa das irmãs. (Sr. Armando, 88 anos, 28 mar. 2009) O bom da fábrica é que ela dava emprego pra todo mundo. (D. Amélia, 72 anos, 15 abr. 2009)
Outros já mencionaram que a fábrica foi um entrave para o desenvolvimento do bairro,
visto que era a maior proprietária dos terrenos no local e que demorou muito para iniciar a venda,
o que, segundo alguns moradores, repercutiu no que eles consideram a não existência de
melhorias no bairro tanto em termos de estrutura física das edificações como em termos de oferta
de serviços.
Bairro de fábrica não tem valor. A fábrica é um atraso para o bairro. Assenhorou-se de todos os lotes do bairro, considerando que o poder aquisitivo dos moradores era pouco e não tinham como comprar os terrenos. (Ivan, 32 anos, 07 mar. 2009) A fábrica amarrou muito, porque os terrenos eram da fábrica (Sr. Jarbas, 73 anos, 03 mar. 2010) A fábrica atrasou o bairro. (Celeste, 53 anos, 07 mar. 2009) Por causa da fábrica o bairro não cresceu, porque ela tomou conta de muito espaço. O bairro não cresceu por causa da fábrica, ela foi importante para o bairro, mas tomou muito terreno. (Sr. Luiz, 75 anos, 21 mar. 2009) Até certo ponto a fábrica foi um empecilho para o bairro, porque demorou a vender os lotes dela. (Sr. Armando, 88 anos, 28 mar. 2009)

139
Eu lembro dos bueiros saindo aquele mal cheiro, aquela fumaça horrosa, poluindo tudo. É a única coisa que eu lembro. Era um cheiro muito forte, quando você passava começa a tossir e o nariz congestionar. Era muita poluição e a fumaça saia pelos bueiros. (Sônia, 37 anos, 30 maio 2009)
4.3.1 Considerações em torno da regional Nordeste a partir dos dados do Censo de 2000
De acordo com o Censo Demográfico de 2000, a Região Administrativa Nordeste de Belo
Horizonte possui uma população de 274.060 habitantes, sendo 144.023 mulheres e 130.037
homens.
Tabela 2 População residente em Belo Horizonte por região adm inistrativa 1991/2000
População
2000 1991 Região Administrativa
Total Part. Total Part.
Taxa de crescimento anual
Barreiro 262.194 11,71 221.072 10,94 1,91
Centro Sul 260.524 11,64 251.481 12,45 0,39
Leste 254.573 11,37 250.032 12,38 0,20
Nordeste 274.060 12,24 249.693 12,36 1,04
Noroeste 338.100 15,10 340.530 16,86 -0,08
Norte 193.764 8,66 154.028 7,62 2,58
Oeste 268.124 11,98 249.350 12,34 0,81
Pampulha 141.853 6,34 105.181 5,21 3,38
Venda Nova 245.334 10,96 198.794 9,84 2,36
Belo Horizonte 2.238.526 100,00 2.020.161 100,00 1,16
Fonte: IBGE. Censo Demográfico 2000

140
Da população total estão distribuídos na Unidade de Planejamento da Cachoeirinha23 32.885
habitantes. Esta Unidade de Planejamento caracteriza-se como uma região onde a maior parte das
unidades domiciliares é constituída por casas, visto que essas compõem um total de 7.998
unidades, enquanto os apartamentos alcançam o número de 998, apenas 10% do total de
domicílios ali localizados. Em se tratando dos serviços de infra-estrutura relativos ao
abastecimento de água, rede de esgoto e coleta de lixo, estes recobrem praticamente 100% dos
domicílios.
Tabela 3
População residente em BH por UP – 2000
Regional Nome UP Total – habitantes
Nordeste 274.060
Capitão Eduardo 7.639
Ribeiro de Abreu 23.771
Belmonte 42.205
Gorduras 14.614
São Paulo/Goiânia 61.080
Cristiano Machado 74.210
Cachoeirinha 32.885
Concórdia 17.656
Fonte: IBGE. Censo Demográfico 2000 (Grifos meus)
A idade média dos responsáveis pelo domicílio é de 48,51 anos, seguindo a tendência
geral de Belo Horizonte que é de ter chefes de domicílio um pouco mais velhos e maior
participação das mulheres. Isto pode ser compreendido pelo fenômeno de envelhecimento da
população brasileira, bem como pela longevidade maior das mulheres. O trabalho de campo foi
também revelador do dado referente à idade e ao sexo, visto que me deparei com um número
maior de informantes com idade entre 60 e 70 anos, em sua maioria mulheres.
23 A Regional Nordeste é dividida em oito Unidades de Planejamento. Uma delas é denominada Cachoeirinha e é composta pelos bairros Santa Cruz, São João Batista, Cachoeirinha, Universitário (não na sua totalidade), Inestan (parte do bairro), Vila Coqueiro da Paz e Nova Cachoeirinha. Desta forma, os dados que se seguem são referentes à unidade de planejamento e não especificamente ao bairro da cachoeirinha. (Anuário Estatístico da Prefeitura de Belo Horizonte, 2003).

141
Tabela 4 População residente segundo idade e sexo, por Unida de de Planejamento
Região Administrativa NORDESTE – 2000
0/4 anos 5/9 anos 10/14 anos 15/19 anos 20/24 anos Cód. UP Nome UP
Homens Mulheres H M H M H M H M
Nordeste 11.395 10.903 11.250 10.926 12.034 12.078 13.777 14.358 13.728 14.507
2101 Capitão Eduardo 449 434 467 448 435 435 480 483 395 369
2102 Ribeiro de Abreu 1.230 1.187 1.121 1.158 1.221 1.237 1.340 1.399 1.376 1.291
2103 Belmonte 2.003 1.940 1.999 1.907 2.104 2.018 2.193 2.317 2.329 2.254
2104 Gorduras 888 760 723 688 742 688 812 901 892 869
2105 São Paulo/Goiânia 2.772 2.626 2.626 2.609 2.703 2.692 2.986 3.018 3.150 3.341
2106 Cristiano Machado 2.285 2.247 2.487 2.358 2.882 2.971 3.579 3.817 3.334 3.837
2107 Cachoeirinha 1.217 1.173 1.242 1.184 1.310 1.359 1.557 1.585 1.489 1.646
2108 Concórdia 551 536 585 574 637 678 830 838 763 900
Belo Horizonte 90.538 87.807 88.381 86.745 95.460 94.587 108.602 113.313 112.021 119.899
25/29 anos 30/34 anos 35/39 anos 40/44 anos Cód.
UP Nome UP H M H M H M H M
Nordeste 11.211 12.174 10.458 11.653 10.405 11.856 9.459 10.882
2101 Capitão Eduardo 332 302 269 282 238 304 250 261
2102 Ribeiro de Abreu 1.003 1.018 961 993 843 953 815 869
2103 Belmonte 1.942 1.983 1.721 1.857 1.617 1.779 1.401 1.496
2104 Gorduras 723 670 539 529 432 451 417 493
2105 São Paulo/Goiânia 2.722 3.019 2.546 2.642 2.311 2.601 1.962 2.151
2106 Cristiano Machado 2.475 3.065 2.593 3.168 2.950 3.474 2.839 3.518
2107 Cachoeirinha 1.364 1.419 1.249 1.449 1.315 1.497 1.205 1.346
2108 Concórdia 650 698 580 733 699 797 570 748
Belo Horizonte 95.020 102.978 87.159 96.645 84.050 95.927 73.774 86.144
Cód. Nome UP 45/49 anos 50/54 anos 55/59 anos 60/64 anos 65/69 anos

142
UP H M H M H M H M H M
Nordeste 7.486 8.797 5.641 6.829 4.090 4.830 3.181 4.270 2.322 3.431
2101 Capitão Eduardo 164 170 119 115 68 82 48 65 21 48
2102 Ribeiro de Abreu 610 667 424 452 245 263 172 206 126 175
2103 Belmonte 988 1.098 742 882 561 563 434 531 271 369
2104 Gorduras 331 415 248 271 183 198 106 139 87 122
2105 São Paulo/Goiânia 1.470 1.703 1.202 1.424 884 1.110 746 915 519 719
2106 Cristiano Machado 2.497 2.967 1.862 2.287 1.364 1.551 995 1.372 749 1.112
2107 Cachoeirinha 921 1.122 670 850 461 627 422 624 334 543
2108 Concórdia 505 655 374 548 324 436 258 418 215 343
Belo Horizonte 59.034 71.496 47.250 57.951 35.330 43.798 28.143 37.147 21.085 29.828
70/74 anos 75/79 anos 80 anos e mais Total Cód. UP Nome UP
H M H M H M H M
Nordeste 1.675 2.732 1.015 1.780 910 2.017 130.037 144.023
2101 Capitão Eduardo 19 25 10 17 9 26 3.773 3.866
2102 Ribeiro de Abreu 68 115 39 80 38 76 11.632 12.139
2103 Belmonte 163 237 105 170 75 156 20.648 21.557
2104 Gorduras 58 92 26 51 20 50 7.227 7.387
2105 São Paulo/Goiânia 341 549 196 309 151 365 29.287 31.793
2106 Cristiano Machado 595 966 366 634 322 692 34.174 40.036
2107 Cachoeirinha 268 449 166 323 156 343 15.346 17.539
2108 Concórdia 163 299 107 196 139 309 7.950 9.706
Fonte: IBGE Censo Demográfico 2000
A média dos anos de estudo do responsável pelo domicílio é de 6,56 anos e sua renda
média é de 4,6 salários mínimos. Estes dados estão abaixo da média de Belo Horizonte que em
relação à média dos anos de estudo do responsável pelo domicílio está em 7,48 anos e a renda
média em 6,6 salários mínimos.
Mesmo que não se refiram especificamente ao bairro da Cachoeirinha, esses dados
permitem uma leitura relativa aos serviços de infra-estrutura que estão disponíveis na região, às
formas de habitação, ou seja, os bairros ainda mantêm as casas como a forma predominante de

143
morar, bem como dos sujeitos responsáveis pelos domicílios que na maior parte são alfabetizados
e têm uma renda média que supera a faixa de 1 a 3 salários mínimos. O Cachoeirinha se
configura, hoje, como um bairro que também fez parte do processo de crescimento da cidade de
Belo Horizonte, mas que não se apresenta como uma região literalmente periférica da cidade, no
sentido da pobreza e segregação. Os dados são reveladores deste fato, visto que as médias de
anos de estudo dos responsáveis pelos domicílios e o atendimento aos serviços de infra-estrutura
não diferem largamente da média da cidade.

144
5 Memória e Tempo: tecendo lembranças e experiências
Como o objeto de investigação deste trabalho é um dos espaços da cidade de Belo
Horizonte que se configura como um bairro, o intuito deste capítulo é discorrer sobre as
definições, caracterizações e formas possíveis de analisar bairros de uma cidade e também tecer
algumas considerações em torno do conceito de memória, visto que nessa investigação ele se
configura como um elemento central para o resgate das lembranças de alguns dos moradores do
Cachoeirinha.
Um primeiro momento deste capítulo será dedicado ao conceito de memória e seu
entrelaçamento com as categorias tempo e espaço. Primeiramente serão apresentadas as
considerações de Halbwachs (1952, 2006) em torno da vinculação da memória com o que ele
denomina como quadros sociais, ou seja, grosso modo, a memória tem relação com o contexto
social no qual os indivíduos estão inseridos. Sobre a memória coletiva Halbwachs destaca o fato
de que a memória muitas vezes possui um caráter familiar, social, grupal e a capacidade de
rememorar é aflorada porque os sujeitos pertencem a um grupo, seja porque trabalham em
determinado local, porque moram em uma cidade ou bairro dessa, ou seja, fazem parte de um
grupo que evoca experiências compartilhadas em um determinado tempo e espaço. Nesse
sentido, o autor menciona a articulação entre memória, tempo e espaço, pois as lembranças
constituem a memória do vivido em um determinado lugar no espaço e no tempo. Os demais
autores apresentados nesta parte do trabalho que contribuem para a ampliação da reflexão em
torno do conceito de memória corroboram para elucidar ainda mais essa relação tão contundente
entre memória, tempo e espaço.
Em seguida a reflexão sobre memória será articulada com a cidade, visto que a proposta
deste trabalho é acessar o universo de sentidos que os moradores do Cachoeirinha se valem para
decifrar o cotidiano vivido no bairro, como também os acontecimentos que nele tiveram lugar e
que contribuem para reforçar o sentimento de pertencimento à cidade. Sendo assim, o conceito de
memória será pensado como possibilidade de resgate de lembranças de alguns dos moradores do
bairro Cachoeirinha. A proposta é, então, destacar como a articulação entre memória, tempo e

145
espaço a partir da lembrança de fatos, acontecimentos e sentimentos vividos por alguns citadinos
de Belo Horizonte, em um determinado momento e lugar, torna possível uma leitura da cidade a
partir de um bairro. Ao final do capítulo, como um primeiro ensaio do resgate de memória serão
apresentados os relatos dos moradores do Cachoeirinha, como forma de remontar um pouco da
história do bairro revelada por meio das experiências por eles vividas e rememoradas.
5.1 Memória: um conceito e um instrumento metodológico
Um dos aportes mais tradicionais e substanciais sobre memória se constitui em torno das
ideias de Halbwachs (1952 e 2006) sobre os quadros sociais da memória, bem como seus
apontamentos em torno da memória coletiva. Um dos pontos centrais da obra do autor é sua
afirmação referente ao fato de que a memória deve ser pensada como algo intrinsecamente
relacionado a uma gênese social, visto que as lembranças do passado, mesmo que pareçam
oriundas de pensamentos e sentimentos que pareçam exclusivamente pessoais, só existem a partir
dos quadros sociais da memória. De acordo com Halbwachs (1952, p. VI)
[...] o maior número de nossas lembranças nos vêm quando nossos parentes, nossos amigos ou outros homens nos recordam [...] é na sociedade que, normalmente, o homem adquire suas lembranças [...] o mais comum, se eu me lembro, é que os outros me incitam a lembrar, que suas memórias vêm em socorro da minha, que a minha se apóia na deles. [...] Não há necessidade de procurar onde elas estão, onde elas se conservam, no meu cérebro, ou em qualquer reduto do meu espírito onde eu teria acesso, pois elas me são recordadas de fora, e os grupos dos quais eu faço parte me oferecem a todo instante os meios de lhes reconstruírem, sob a condição de que eu adote, pelo menos temporariamente, suas formas de pensar.
Esse argumento não significa que os indivíduos não têm memórias e que não são sujeitos
ativos na construção das mesmas, mas que os quadros sociais da memória são anteriores às
lembranças pessoais. Isto é, o indivíduo pensa, rememora por meio dos quadros sociais que
tornam possível a (re)construção da memória. As lembranças são possíveis porque os indivíduos
não são seres isolados, assim, constroem suas lembranças em relação, direta ou indireta, com os
outros indivíduos de sua sociedade. A lembrança do passado, antes de ser um resultado do ato
individual de recordar, resulta de laços de solidariedade, pois só existe pelo fato de ter sido

146
construída em relação a um conjunto de noções e convenções que são comuns e estão presentes
em pessoas, grupos, lugares, datas, formas de linguagem, ou seja, no conjunto da vida social e
material que os indivíduos fazem parte. (Santos, 1993) De acordo com Halbwachs (2006, p. 72)
[...] a memória individual [...] não está inteiramente isolada e fechada. Para evocar seu próprio passado, em geral a pessoa precisa recorrer às lembranças de outras, e se transporta a pontos de referência que existem fora de si, determinados pela sociedade. Mais do que isso, o funcionamento da memória individual não é possível sem esses instrumentos que são as palavras e as ideias, que o indivíduo não inventou, mas toma emprestado de seu ambiente.
A leitura de Bosi (1994) sobre Halbwachs ressalta que este último não estudou a memória
como tal, mas como quadros sociais e, segundo essa perspectiva, as relações a ser determinadas
não são próprias somente do mundo da pessoa, mas serão referentes à realidade interpessoal das
instituições sociais. “A memória do indivíduo depende do seu relacionamento com a família, com
a classe social, com a escola, com a Igreja, com a profissão; enfim, com os grupos de convívio e
os grupos de referência peculiares a esse indivíduo.” (BOSI, 1994, p. 54)
Além da memória em seu plano individual, Halbwachs (2006) discorreu sobre o conceito
de memória coletiva. Apesar de sua dimensão individual, a memória tem referentes sociais os
quais permitem que, para além da memória individual, única, própria a cada um dos indivíduos,
exista uma memória intersubjetiva, compartilhada, uma memória coletiva. Esta não pode ser
definida como a agregação das memórias individuais, subjetivas. Para o autor a memória coletiva
envolve as individuais, mas não se confunde com elas. De uma maneira genérica, refere-se a um
conjunto de lembranças que são socialmente construídas e têm como referência um conjunto que
transcende o indivíduo. A memória coletiva possui um caráter familiar, grupal, social e a
capacidade de lembrar vincula-se ao pertencimento do indivíduo ao grupo que ele faz parte, seja
no espaço habitado, seja no espaço de trabalho, um espaço no qual viveu e compartilhou
experiências junto a uma coletividade por certo período de tempo; enfim, um espaço de
residência familiar, a vizinhança, o bairro, o local de trabalho.
A memória coletiva está também vinculada ao fato de que várias de nossas lembranças
vêm à tona porque outros nos fazem recordá-las, elas são oriundas de um fato que teve lugar na
vida do nosso grupo. Sendo assim, Halbwachs (2006) enuncia a ligação existente entre memória
coletiva, tempo e espaço. Suas considerações dizem respeito ao tempo como categoria social e
aos sentidos partilhados pelo grupo que o vivencia e experimenta de uma mesma forma, seja na

147
sua contagem, seja nas flexibilizações subjetivas implementadas pelos indivíduos em diferentes
grupos, mas que também são aceitas socialmente. Fazendo referência a Durkheim, Halbwachs
(2006, p. 113) afirma que “a vida em sociedade implica em que todos os homens entram em
acordo sobre tempos e durações, e conhecem muito bem as convenções de que são objeto. Por
isto existe uma representação coletiva do tempo [...] de acordo principalmente com as condições
e hábitos de grupos concretos.”
A insistência de Halbwachs sobre a relação entre memória coletiva e tempo reside na
existência de um tempo coletivo que se opõe à duração individual, pois a ele só interessa o fato
de que o tempo permite lembrar e reter os acontecimentos que nele tiveram lugar. O serviço que
se espera desse tempo coletivo é que ele torne possível sua reconstituição a partir do momento
em que a lembrança reaparece e os indivíduos se vêem forçados a examinar detalhadamente suas
partes para encontrar a data do acontecimento. “Não deixa de ser verdade que, em grande número
de casos, encontramos a imagem de um fato passado ao percorrermos o contexto do tempo – mas
para isso é preciso que o tempo seja apropriado para enquadrar as lembranças.” (HALBWACHS,
2006, p. 125) Ainda de acordo com esse pressuposto de um tempo coletivo, o autor ressalta que
os grupos definidos a partir do local que ocupam têm sua própria memória e representação do seu
tempo. A busca pela reconstituição ou reencontro de alguma lembrança por um grupo é, então,
realizada no tempo desse grupo, pois é aí que ela se apóia. É o tempo que tem o poder de
desempenhar esse papel de rememoração. Entretanto, é preciso não perder de vista que a
construção social do tempo varia, não existindo um tempo único e universal, em termos de sua
duração, visto que as sociedades se decompõem em uma série de grupos. O que é importante
reter de tais considerações é que a subsistência do tempo, mesmo que não transcorra da mesma
forma para os vários grupos de uma sociedade, é uma condição da memória.
A memória coletiva é também referente a um pensamento contínuo que se modifica ao
longo do tempo. Ela retém do passado somente o que ainda está vivo ou é capaz de viver na
consciência de um grupo. Dessa forma, se pode dizer que o presente não se opõe ao passado, mas
isso significa que tudo que ocorreu no passado será preservado. A memória compartilhada
ultrapassa os limites do presente, mas não mergulha completamente no passado, estende-se até
onde pode. Além disso, como a memória coletiva está sempre se redefinindo, visto que o grupo
ao qual ela faz parte se modifica ou mesmo se extingue. “Não é por má vontade, antipatia,
repulsa ou indiferença que ela [memória coletiva] esquece uma quantidade tão grande de

148
acontecimentos e de antigas figuras. É porque os grupos que dela guardavam a lembrança
desapareceram.”(HALBWACHS, 2006, p. 82)
Um aspecto relativo à memória coletiva e ao tempo assinalado por Bosi (1994) em sua
leitura de Halbwachs salienta que lembrar não se constitui em um ato de reviver, mas sim de
(...) refazer, reconstruir, repensar, com imagens e ideias de hoje, as experiências do passado. A memória não é sonho, é trabalho. (...) A lembrança é uma imagem construída pelos materiais que estão, agora, à nossa disposição, no conjunto de representações que povoam nossa consciência atual. (BOSI, 1994, p. 55)
Ao discorrer sobre a relação da memória coletiva com o espaço, o primeiro ponto
destacado por Halbwachs (2006) refere-se ao fato de que o espaço e seus objetos materiais
guardariam sentidos de um grupo, isto porque quando os indivíduos de um grupo estão inseridos
em um determinado espaço é como se este último fosse moldado por eles, mas, também, com o
passar do tempo o grupo sofre a influência desse espaço. Com efeito, as imagens espaciais
desempenham um papel importante na memória coletiva, visto que o lugar ocupado por um grupo
recebe suas marcas, pois as características e detalhes do lugar têm um sentido que só os membros
do grupo decifram. Sendo assim, Halbwachs (2006) afirma que a memória coletiva só acontece
em um contexto espacial, como se o espaço, fosse, de alguma forma, seu suporte material.
É ao espaço, ao nosso espaço – o espaço que ocupamos, por onde passamos muitas vezes, a que sempre temos acesso e que, de qualquer maneira, nossa imaginação ou nosso pensamento a cada instante é capaz de reconstruir – que devemos voltar nossa atenção, é nele que nosso pensamento tem de se fixar para que essa ou aquela categoria de lembranças reapareça. (HALBWACHS, 2006, p. 170)
Os indivíduos vinculam-se aos espaços e os ocupam com suas práticas, conformando-os
como espaços de identificação que lhes fornecem o tom de familiaridade e de localização na
cidade. A memória articula, como já mencionado, tempo e espaço, já que se constrói a partir de
uma experiência que foi vivida em um determinado lugar, assim, encontra-se vinculada a um
espaço, e é produto, também, da identificação em relação a um tempo.
Ao lançar as considerações de Halbwachs em torno da memória, do tempo e do espaço
para um diálogo com autores contemporâneos, inicialmente cabe ressaltar que Distante (1988)
assinala que a capacidade mnemônica está presente tanto nos homens como nos animais. O
referido autor aponta para o fato de que a memória tem uma relação estreita com a capacidade

149
mnemônica que, tanto os homens como os animais, detêm e cuja finalidade é relembrar fatos,
acontecimentos por eles assistidos ou vivenciados Mas Distante (1988) faz menção à
especificidade humana de reter dados tanto de experiências vividas quanto de outras fontes orais
e/ou escritas, enquanto os animais só retêm dados de experiências vividas. Essa especificidade
diz respeito ao fato de que os homens são capazes não só de reter e armazenar dados, mas de
analisá-los para transformá-los em cultura. Essas considerações são importantes porque enfatizam
a memória como uma capacidade de relembrar fatos passados, o próprio passado do sujeito, bem
como aquele relatado ou registrado por outros em narrativas orais e/ou escritas, mas com a
distinção de que junto aos homens soma-se à capacidade mnemônica a capacidade analítica.
A memória não pode, então, ser reduzida a um fato puramente biológico presente tanto
nos homens como nos animais, pois se ela fosse um mero registro cerebral de fatos passados, não
se poderia explicar o fenômeno da lembrança. O ato de lembrar processa no interior dos
indivíduos uma seleção, escolhe-se o que se deseja lembrar e, além disso, constitui-se em uma
ação carregada de sentidos, de aspectos valorativos que dizem respeito ao retorno a um passado, a
referências de outros tempos que marcaram (pela alegria, pela tristeza, pelo remorso) relações
sociais e que ao se lembrar de um tempo já vivido pode-se, de certa forma, guardá-lo para que
não se perca. Com a riqueza de suas manifestações, é como se a memória permitisse que os
indivíduos viajassem para o passado no intuito de reencontrar o tempo já vivido. Outro ponto que
não permite que a memória seja reduzida a uma atividade cerebral diz respeito ao esquecimento,
pois se tudo está automaticamente gravado em nosso cérebro, não poderíamos esquecer de nada,
nem teríamos dificuldade de lembrar certas coisas e facilidade para recordar outras tantas. Por
isso a menção à categoria tempo e sua relação com o espaço, como elemento importante na
constituição da memória.
A memória poderia também ser apresentada como uma evocação do passado no intuito de
salvá-lo de uma perda32. É a lembrança que desempenharia o papel de conservar aquilo que já se
foi e não retornará jamais. De acordo com Chauí (1997), essa é uma experiência fundamental do
tempo, pois atualiza o passado, o presentifica tornando-o uma lembrança. Sendo assim, pode-se
dizer que memória e tempo são elementos constitutivos de um mesmo processo, “(...) são pontes
de ligação, elos de corrente, que integram as múltiplas extensões da própria temporalidade em
movimento.” (DELGADO, 2006, p. 38). Segundo a autora, a memória tomada como uma forma
32 Cf. Chauí (1997).

150
de conhecimento e como experiência torna possível que os indivíduos retomem, repassem os
tempos de sua vida. Os indivíduos buscam, de alguma forma, ao ativarem sua memória,
lembranças que remetem a referenciais tanto simbólicos quanto materiais de outros tempos
vividos, como se procurassem, parafraseando Marcel Proust, um tempo que ficou perdido.
A obra clássica de Proust “Em busca do Tempo Perdido” foi alvo de considerações
importantes no que se refere à memória em uma discussão elaborada por Poulet33. Ao mergulhar
na obra de Proust, Poulet (1992) assinala que ao buscar o tempo perdido, seu passado, sua antiga
existência, Proust acaba por buscar também um espaço perdido. “desde o primeiro momento (...)
a obra proustiana se afirma como uma busca não somente do tempo, mas também do espaço
perdido.” (POULET, 1992, p. 17) Isto ocorre porque no resgate da memória, junto às lembranças
que são evocadas, tempo e espaço se confundem, se entrelaçam. O ser proustiano viveria uma
sensação angustiante em virtude da mobilidade dos lugares no pensamento. Tal angústia se faz
presente pelo fato de se perceber quão ilusória é a única fixidez que se acreditava: a fixidez dos
lugares e dos objetos que ali se encontravam. Sobre esta angústia Poulet (1992, p. 54-55) assinala
que
graças à memória, o tempo não está perdido, e se não está perdido, também o espaço não está. Ao lado do tempo reencontrado, está o espaço reencontrado. Ou, para ser mais preciso, está um espaço enfim encontrado, um espaço que se encontra e se descobre em razão do movimento desencadeado pela lembrança.
Percebe-se então, a partir dessas considerações, uma interligação entre tempo, espaço e
memória. As categorias de tempo e espaço são evocadas junto ao ato de lembrar, junto ao resgate
da memória, pois esta última evoca o tempo, mesmo que já tendo sido vivido para ter lugar no
presente, e o ato de rememorar evoca determinados espaços, lugares de significação para um
individuo, uma família, um grupo.
Fazendo referências ao texto de Poulet sobre Proust, D´Aléssio (1998) assinala que o ato
de lembrar promove uma busca não somente do tempo, mas também do espaço que revela, por
sua vez, o reencontro da busca por identidades ameaçadas. As identidades são consideradas
ameaçadas visto que os lugares e os objetos que apareciam como imutáveis como fatores de
estabilidade, já não se apresentam a partir de tal fixidez ao serem resgatados pela memória. A
mobilidade do espaço e do que nele se situa, bem como a indeterminação dos lugares,
33 Mesmo que a temática da obra de Poulet (1992) seja mais diretamente ligada à literatura, ela aqui oferecerá elementos importantes para pensar a relação da memória com o tempo.

151
desorganizam referenciais. Daí a menção à angústia do ser proustiano, quando se depara com a
mobilidade dos espaços, dado que se apoiava na fixidez dos lugares. “A mobilidade dos lugares
rouba nosso último recurso. A que se agarrar, se os lugares, como os tempos e os seres também
são arrastados nessa corrida que só conduz até a morte?” (POULET, 1992, p.18)
São as lembranças que possibilitam conservar o que já não existe mais, que o espaço
localiza o tempo. É importante assinalar, porém, que frente à fluidez dos espaços, dos lugares,
pode ocorrer o estilhaçamento das lembranças o desmonte de totalidades, de unidades que
abrigam referenciais. Se perdido o espaço, a identidade vacila, pois tempo/espaço compõem um
quadro por meio do qual o indivíduo se re-conhece. A partir dessas reflexões em torno da obra de
Poulet (1992), D´Aléssio (1998) apresenta uma possível conceituação de identidade que se
vincula à situação de auto-re-conhecimento possível, dentre outras coisas, pelo espaço. Ao tomar
esta conceituação de identidade a autora alia a ideia de proteção. “O sujeito que pode se auto-re-
conhecer em lugares familiares que o situem, preserva seu eu, vale dizer, protege-se da sensação
de isolamento, de anonimato, de abandono, construindo seu próprio aconchego. Assim,
identidade seria, também, abrigo, portanto, proteção.” (D´ALÉSSIO, 1998, p. 274) Sua análise
apresenta-se ainda mais clara quando vincula a ideia de identidade como proteção, ao mencionar
que a compulsão por lembranças que assola a contemporaneidade face à fluidez dos espaços,
relaciona-se com o temor do desaparecimento do passado, despertando nas pessoas o desejo de
reencontrar ou reinventar referenciais esquecidos, ou mesmo, silenciados.
Frente a estas breves considerações em torno do conceito de memória o que é importante
reter é como as lembranças podem contribuir para rememorar usos, sentidos, práticas que
foram/são elementos importantes na constituição de um grupo em um determinado espaço,
independentemente da forma como se constitui no presente. É como se a memória tornasse
possível a “presentificação” do tempo e a “materialização” do espaço, ou seja, a “presentificação”
de um tempo passado que já teve a sua duração e de um espaço que pode não mais se configurar
materialmente como dantes. Os lugares do espaço rememorados por um grupo situam-se dentre
aqueles que se encontram no rol dos espaços de enraizamento, são espaços de familiaridade que,
carregados de significações, configuram-se como espaços que, mesmo não tendo sua
materialidade tal como eram no passado, guardam representações de práticas e usos que neles
foram implementados. Conforme assinala Carlos (1996), de acordo com Heidegger, o
enraizamento do indivíduo em um território é fundamental para sua existência, para que possa ter

152
um lugar de origem, uma referência familiar, desenvolver redes de vizinhança que produzem e
estabelecem identidades que servem de alento às individualidades. Isso ocorre porque o espaço se
reproduz como lugar da vida em todas as suas dimensões, o que é vivido pelos indivíduos tem
também um caráter espacial. O lugar onde se habita envolve não somente a casa ou o
apartamento, mas também a rua, o mercado, os serviços disponíveis, os espaços de lazer e de
trabalho que, por sua vez, conferem conteúdos aos lugares da cidade visto que correspondem a
usos, apropriações, práticas que ligam pessoas e lugares à cidade. Vale ressaltar que o modo
como os indivíduos se apropriam e realizam ações nos espaços da cidade tem como implicação o
fato de que tais espaços se remodelam, que seus significados mudam e novos traços e valores são
a eles acrescidos. Mesmo com a conformação de novos sentidos e usos, porém, a memória pode
ser um instrumento privilegiado para o resgate da significação de velhos hábitos e práticas
presentes na trajetória dos indivíduos que conformaram ou ainda conformam grupos citadinos.
Isto significaria na sociedade contemporânea – por muitos apontada como repleta de indivíduos
vazios de sentimentos, de experiências de vida, laços pessoais e capacidade de julgamento, sem
memória – conforme assinala Santos (1993), o resgate de sentidos e experiências que, ao invés de
serem pensadas como informações, se configurariam como lembranças de um tempo passado sem
ter o sentido de simples recuperação de dados.
5.2 Tecendo tramas na cidade a partir da memória
Os indivíduos, famílias e grupos sociais estão ligados entre si também pelo fato de
viverem em uma mesma cidade. É possível dizer que a cidade é uma das aderências que os ligam.
Mas é importante assinalar a heterogeneidade das vivências em uma mesma cidade e, dessa
forma, remontar a memória da cidade, tomando a população, na sua totalidade, como categoria de
análise é algo impossível. Para que se possa fazer emergir uma memória social referente a algum
lugar é preciso que um grupo ou classe social tenha estabelecido relações sociais, sejam elas de
dominação, de cooperação ou de conflito, ao longo do tempo e do espaço. Dessa forma é possível
perceber a existência de várias memórias coletivas, distintas umas das outras, mas que têm como
ponto de interseção a aderência e/ou ocorrência na mesma cidade.

153
Com efeito, é possível verificar a co-existência em uma mesma cidade de diversas
memórias sociais e, por isto, é importante salientar sobre a impossibilidade de recuperar a
memória de uma cidade, ou seja, a totalidade das memórias que a tomaram como referência, mas
isso não significa que seja impossível resgatar memórias dessa cidade, pois isso significa fazer
referências a um conjunto de lembranças que têm uma base material precisa, um determinado
lugar.
É através da recuperação das memórias coletivas que sobraram do passado (estejam elas materializadas no espaço ou em documentos), e da preocupação constante em registrar as memórias coletivas que ainda estão vivas no cotidiano atual da cidade (muitas certamente fadadas ao desaparecimento) que podemos resgatar muito do passado, eternizar o presente, e garantir, às gerações futuras um lastro de memória importante para sua identidade. (ABREU, 1998, p. 87)
Assim, o que aqui se circunscreve como objeto de análise – a memória como elemento de
procedimentos metodológicos que visem o acesso ao universo de sentidos que os moradores do
Cachoeirinha conferem aos seus espaços e temporalidades – pode ser traduzido como uma
possibilidade de resgate de memórias da cidade a partir de sujeitos situados em um de seus
espaços que, de algum modo, se inscreve na sua história. Ou seja, para reconstruir trajetórias que
remetem a um conjunto de lembranças dos indivíduos que viveram parte de suas vidas em um
dos espaços da cidade, é preciso estar atento ao quanto esses lugares podem ser considerados
como uma de suas referências para o estabelecimento de práticas sociais, o quanto foram/são
significativos para tais indivíduos. Isso é o que este trabalho pretende compreender a partir do
resgate das lembranças de alguns dos moradores do bairro Cachoeirinha. Como a memória
articula tempo e espaço, a possibilidade que a memória oferece é relativa à reconstrução,
rememoração de fatos e acontecimentos que aparecem como significativos na trajetória dos
citadinos num determinado momento de suas vidas, ou seja, fatos e acontecimentos que tiveram
lugar num tempo e num espaço que se traduz como parte da história de um grupo de pessoas da
cidade.
Tal proposta se coaduna com a abordagem de cidade enunciada no primeiro capítulo que
propõe sua compreensão como um texto escrito tanto pelos mapas geográficos como pelas
imagens guardadas na memória dos indivíduos por meio dos seus percursos, vivências e
experiências em determinados lugares da cidade. De acordo com Canevacci (1993, p. 22)

154
uma cidade é também, simultaneamente, a presença mutável de uma série de eventos dos quais participamos como atores ou como espectadores, e que nos fizeram vivenciar aquele determinado fragmento urbano de uma determinada maneira que, quando reatravessamos esse espaço, reativa aquele fragmento de memória.
O entrelaçamento entre cidade e memória pode ser pensado a partir das categorias espaço
e tempo, pois a cidade se circunscreve a um determinado espaço onde se situa um conjunto de
bairros, atividades comerciais e industriais, práticas sociais e culturais que, ao longo do tempo,
sofrem alterações fruto das ações do poder público e dos atores sociais. Como assinalou
Canevacci (1993), os habitantes da cidade não são somente espectadores, mas interferem, mesmo
que de forma microscópica, nas alterações físicas, sociais e culturais que se processam nas
cidades. A memória, por sua vez, também está fortemente vinculada ao tempo, visto que em
grande medida pode significar lembranças de acontecimentos ocorridos em um determinado
momento do tempo e, evidentemente, ancorados em um certo espaço que pode ainda existir ou
não.
A memória como elemento importante em procedimentos metodológicos que visem à
reconstituição de trajetórias de habitantes da cidade, enfim, deve ser pensada como uma
possibilidade de narração de experiências. O trabalho de Kofes (2001) torna-se aqui uma
referência imprescindível pelo fato de que ao refletir sobre a (re)construção de trajetórias, alia a
ideia de experiência e narrativa. “(...) a narrativa, se não espelha a experiência a configura e,
finalmente, suscita experiência.” (KOFES, 2001, p. 125) Isso implica dizer que narrar se alia a
rememorar, a contar, a registrar algo já vivido, implica fazer referência a um tempo passado e
como hoje ele é percebido, interpretado, relatado. Por isso, se narrar não espelha efetivamente o
vivido, faz emergir o experimentado e como ele é rememorado. Sendo assim, “(...) o mundo
exibido por qualquer narrativa é sempre um mundo temporal. O tempo torna-se tempo humano na
medida em que está articulado de modo narrativo e, circularmente, como um hermeneuta que se
preza, a narrativa torna-se significativa na medida em que esboça os traços da experiência
temporal.” (KOFES, 2001, p. 126) A narrativa, como que uma elaboração de um enredo,
possibilita tecer um resgate temporal de características, acontecimentos relatados como
significativos, formas de linguagem, identificação de locais onde ocorreram os fatos narrados,
cenários já modificados por atores reais, bem como daqueles que ainda vivem nos locais narrados
ou próximo a eles.

155
Outro ponto importante referente às considerações de Kofes (2001) em seu trabalho sobre
a trajetória de Consuelo Caiado34 diz respeito ao fato de que para buscar resposta para uma
indagação torna necessário situar o que constitui a trajetória do sujeito, bem como se fazia
necessário enunciar “[...] os elementos marcantes em sua experiência e um contexto que lhes
conferia sentido.” (KOFES, 2001, p. 14) Da mesma forma, para a reconstrução das trajetórias dos
moradores do bairro Cachoeirinha foi necessário destacar o contexto onde eles hoje se localizam,
para remontar os sentidos que atribuem ao que foi vivido anteriormente. Ao afirmar que não
reconstituirá a vida de Consuelo porque não foi possível saber tudo ou porque não lhe disseram,
Kofes (2001) menciona que não foi possível escapar de uma das regras da narração, “(...) ou seja,
da seleção que os agentes fazem do que é ou não contado.”(KOFES, 2001, p. 14) Nesse sentido,
o que aparece como relevante é a possibilidade de reconstrução das memórias de pessoas que
vivem em um bairro que para muitos significou a vivência no mundo do trabalho e da moradia,
por meio da narração que fizerem do que lhes figura como significativo no contexto de suas
experiências. A ideia foi reconstituir parte da memória dos moradores do bairro da Cachoeirinha
a partir de suas narrações sobre o vivido, o experienciado e que essa narrativa se constitui de uma
seleção do que conceberem como significativo. Isso também remete a uma característica da
memória individual e coletiva, visto que em ambas as dimensões os indivíduos selecionam o que
lembrar, tornando impossível, como assinala Lowental (1998), reconstituir o passado em sua
totalidade e o que se nos apresenta como possibilidade é apenas compreendê-lo por meio de
fragmentos.
Como já mencionado anteriormente, a história de Belo Horizonte foi marcada por uma
expansão da periferia em direção ao centro ainda nas primeiras décadas após a sua inauguração
em 1897. Um dos locais dessa expansão foi o bairro da Cachoeirinha na década de 1930. Além
disso, é importante lembrar que tal expansão pode, em parte, ser explicada pela mudança das
atividades da Cia. Industrial de Belo Horizonte para o referido bairro. Este estabelecimento fabril
do ramo têxtil foi um dos primeiros a se instalar na nova capital de Minas Gerais, seguindo os
rumos do recente processo de industrialização brasileiro.
Em face dessas características do lugar onde se localizam os sujeitos da presente pesquisa,
a reconstituição de suas memórias enredadas num período posterior à fase inicial das atividades
34 A obra de Kofes (2001) refere-se à uma etnografia da experiência que buscou remontar a trajetória de Consuelo Caiado (1899-1983) filha de uma família tradicional da cidade de Goiás. A pergunta norteadora do trabalho, segundo a autora, foi como o esquecimento público de Consuelo foi tecido.

156
fabris do bairro, bem como de sua configuração como um bairro da periferia, possibilita remontar
histórias que foram vividas em um espaço que não tem visibilidade na cidade, mas que é parte de
sua história. É como se tornasse possível continuar a contar a história da cidade por meio das
histórias que alguns ex-trabalhadores da fábrica têxtil, narrarão a partir de suas experiências
cotidianas. Tecer um olhar sobre a periferia, parafraseando Durham (1986), ver a cidade pela
periferia, a partir dos olhares que homens e mulheres têm sobre suas experiências de morar e/ou
trabalhar no bairro da Cachoeirinha. A reconstrução de tais memórias não pretende oferecer um
panorama geral da cidade e suas transformações recentes, mas podem ilustrar ou demonstrar as
mudanças ali ocorridas, como se configura hoje a periferia de outrora, bem como podem “(...) nos
informar sobre a tessitura do mundo urbano, seus bloqueios e seus pontos de tensão, mas também
os campos de gravitação da experiência urbana nesse cenário tão modificado.” (TELLES e
CABANES, 2006, p. 15) Isso significa que reconstruir trajetórias urbanas pode ser útil para a
compreensão dos meandros de um cotidiano marcado por códigos e redes sociais diferentes frente
aos vários atores e seus percursos realizados na cidade. Nesses percursos, de alguma forma, pode-
se ler a cidade e seu cenário urbano atual, ou pelo menos parte dela, a partir dos múltiplos atores
que nela circulam, estabelecem relações sociais e espaciais que acabam por redesenhar os
espaços que compõem tal cenário.
Ainda em torno da narrativa e da experiência vale aqui, uma última consideração a partir
do que assinala Sarlo (2007, p. 24, 25):
a narração da experiência está unida ao corpo e à voz, a uma presença real do sujeito na cena do passado. Não há testemunho sem experiência, mas tampouco há experiência sem narração: a linguagem liberta o aspecto mudo da experiência, redime-a de seu imediatismo ou de seu esquecimento e a transforma no comunicável, no comum. A narração inscreve a experiência numa temporalidade que não é a de seu acontecer (...), mas a de sua lembrança. A narração também funda uma temporalidade, que a cada repetição e a cada variante torna a se atualizar.
Essa passagem reitera o que foi mencionado no parágrafo anterior sobre a relação entre
narrativa e experiência e a complementa, pois salienta como rememorar pode permitir dar voz,
não somente a histórias, práticas e vivências de alguns sujeitos, mas como ela confere voz e
sentido às lembranças que acabam por se atualizar ao serem narradas, comunicadas. Isto nos
remete a pensar como os indivíduos de um grupo da cidade podem não somente ter experiências,
mas também comunicá-las, (re)construir seu(s) sentido(s) e ao fazê-lo reconhecerem-se como
sujeitos que se constituem como parte da(s) memória(s) da cidade.

157
Os relatos que se seguem podem ser interpretados como um primeiro exercício de retratar
o bairro a partir do resgate de lembranças de alguns moradores do Cachoeirinha e como esses
sujeitos ao narrarem suas experiências atualizaram-nas e, assim, ao terem sido comunicadas
podem ser parte da memória da cidade. Além disso, as lembranças reavivadas possibilitaram aos
sujeitos desta pesquisa produzir representações atuais sobre as primeiras experiências no bairro
ainda na infância, aquelas da adolescência, do mundo do trabalho, do início da vida adulta, do
trabalho na fábrica, da construção da família, dos laços com a vizinhança, ou seja, a memória
possibilitou a presentificação do passado como uma forma de interpretá-lo.
5.3 As primeiras lembranças do bairro Cachoeirinha a partir dos relatos de seus moradores
Lembranças reavivadas no presente, fruto do encontro de sujeitos de mundos e
temporalidades distintos. O pesquisador quer saber sobre o que já foi vivido e como essa vivência
está implicada nas práticas cotidianas de moradores de um dos bairros da Região Nordeste de
Belo Horizonte. Como voltar no tempo e, além disso, como presentificar a memória do vivido?
Agora o convite é para uma volta no tempo, tempo vivido e hoje relembrado pelo relato, pela
recuperação de lembranças, por memórias que ficaram registradas como histórias de pessoas que
vivem em Belo Horizonte e por meio de seus trajetos cotidianos em torno de algumas calçadas se
identificam com a cidade a partir do sentimento de pertencimento ao Cachoeirinha. Lugar de
histórias, de trajetórias, do afeto, da família, dos amigos, do trabalho e da construção da vida.
Cabe agora apresentar alguns de seus moradores e a forma como se relacionam com o
Cachoeirinha. De antemão é possível adiantar que a fala de tais moradores é reveladora de sua
inserção no bairro, experimentada de forma intensa seja por uma questão temporal, pois moram
ali há muito tempo, alguns deles, inclusive, nasceram lá, seja por uma questão afetiva, têm o
bairro como o lugar onde suas vidas foram construídas.
O nome “Cachoeirinha” é relativo a um pequeno córrego localizado na rua Itapetinga, “O
ribeirão tinha um leito de pedras e passava debaixo de uma ponte. Tudo isso fazia lembrar uma

158
pequena cachoeira.” (Joaquim Mauro Rosa Pires, 2000, p.1)35 Concorrendo com essa versão,
existe a explicação que o nome do bairro estaria relacionado à CIBH que era popularmente
denominada de Fábrica da Cachoeirinha. O córrego foi canalizado na década de 1960. Consta do
relatório apresentado ao Prefeito Osvaldo Pieruccetti em 1966 a referência à canalização do
córrego da Cachoeirinha na Avenida Bernardo Vasconcelos, com o objetivo de acabar com as
inundações freqüentes na Avenida Antônio Carlos entre o viaduto e a rua Aporé, bem como para
beneficiar o acesso às vilas Santa Cruz e Ipiranga.36
Outras referências que remontam aos primeiros anos do bairro são retratadas nos relatos
de alguns de seus moradores e referem-se ao tempo da infância e adolescência. Alguns destes
moradores nasceram no bairro e outros foram ainda crianças residir no local. Aqueles que
nasceram no Cachoeirinha relatam que tudo era muito diferente em termos das edificações e da
aparência física atual.
Eu me considero que eu morava na roça, a Cachoeirinha era roça, inclusive a casa de meu avó era uma casa de fazenda, um casarão muito bom de fazenda, aquelas casas antiga. Era exatamente na rua Manicoré com Avenida Cahoeirinha, ou melhor Avenida Bernardo Vasconcelos. Era tipo uma chácara com uns três ou quatro lotes, era muito espaçoso o lugar onde a gente morava, com muita fruta, com muita água de poço, a gente pegava água no poço, não havia água encanada, não havia energia elétrica. ... Eu não me lembro da cachoeira que deu nome a Cachoeirinha, eu me lembro do córrego que era quase como se fosse um riozinho, uma água muito clara, muito limpa, passando, mas eu não me lembro dessa cachoeira que deu nome a cachoeirinha, eu não me lembro dela não. Lembro que tinha um lugar que ela passava debaixo, parece que ela passava por uns tubos grandes, ela caia quase que um pouco de força, mas nada de cachoeira perto de onde é hoje a Escola Municipal Eleonora Pieruccetti o bairro passando muito clarinha. Eu saí com meu pai para pescar, ele pescava de peneira, pegava piabas com a peneira. Teve um dia que a gente acompanhou ele até nessa quedinha, ficamos lá até de madrugada, depois eu e as minhas irmãs fomos embora e deixamos ele lá pescando. Era aquela água clarinha, ... eu não sei onde ia o esgoto das casas não, a água dele era muito limpa, tinha muito bambuzal em volta, dos lado dele como se fosse um riozinho. Tinha muito poucos vizinhos, praticamente era meu tio que casou e construiu em frente, no mais era muito espaço, não tinha rua aberta, era tudo gramado, e tinha aqueles trilhos pra gente passar, era trilha, não tinha carro, não tinha nada né, nem charrete, nem carroça, nem nada, a região onde eu morava era trilha mesmo. Eu morava do outro lado do córrego. Eu morei lá até me casar, eu fiquei até 23 anos. A casa da minha mãe, era como se fosse o paiol da fazenda do meu avó, colado com a fazenda, fazenda não, tinha a casa grande do meu avó e no terreiro assim tinha esse barracão que era o paiol de guardar palha de milho, essas coisas toda, então quando mamãe casou o vovó falou que ia dar pela primeira filha que casasse aquele paiol. Papai era pedreiro e puxou mais a cozinha, então ficou ali que ela morou dentro desses três cômodos até nascer uns três ou quatro filhos foi ali nesse espaço do paiol. Tem a casa até hoje, minha irmã mora lá. Tanto é que se você for lá você vai ver que as paredes da casa são
35 Depoimento fornecido para matéria do Jornal O Tempo, abril, 2000. 36 As duas vilas constituem hoje dois bairros que fazem parte da Regional Nordeste.

159
assim de adobe, minha irmã fez questão de conservar, ela não rebocou um pedaço, então os adobes são grandes, chega lá tá envernizado e você vai ver os adobe, isso dos dois quartos que o paiol, aí papai puxou mais dois quartos que era de tijolo. A casa grande caiu, era de pau a pique. ... Um dos meus tios comprou lá, aliás minha tia, aliás o marido da minha tia comprou lá quando meu avó morreu, comprou a casa grande, e a casa foi caindo, então eles demoliram a casa e lá hoje é uma série de barracões dos meus primos, filhos desse meu tio que comprou a casa do vovó. Pena que não tem nenhuma fotografia da casa do meu avó. A casa do meu avó era muito bonita tinha aquela varandona enorme com aquelas roseira assim em cima, tipo essas casa mesmo que a gente vê hoje na televisão. Eu me lembro quando era menina a sala tinha umas pinturas muito bonitas, e lá era de assoalho então a gente andava e fazia aquele barulho porque tinha porão. Então era muito gostoso a casa do meu avó. Tinha aquela coisa de contar história toda noite a gente deitava na cama dele ele contava história pra gente. Então era como se eu morasse na roça, não tinha energia, não tinha água. (D. Amélia37, 72 anos, 15 abr. 2009)
Este depoimento é revelador do momento inicial de ocupação do bairro, D. Amélia nasceu
no Cachoeirinha em 1937 e a infância no bairro passou se estivesse na roça. Ela não nasce numa
cidade interiorana, mas viveu na capital do estado como se estivesse em um pequeno vilarejo,
tanto que ela utiliza mesmo o termo roça para referir-se ao local onde nasceu e passou a infância.
O cotidiano era marcado por ações típicas de uma cidade pequena e era assim a Belo Horizonte
dos anos 1930 para vários de seus moradores que não se encontravam na zona urbana da cidade.
aqui sempre pareceu um interiorzinho, sabe, ficou muito chique quando tivemos um bonde. O bonde fazia o final dele aqui na Simão Tamm com Senhora da Paz. Tô te falando isso porque, eu trabalhei quatro anos vindo e voltando de bonde (D. Eliana, 78 anos, 21 mar. 2009)
O bairro parecia ser um lugar que não fazia parte de Belo Horizonte. Essa imagem de
interior que permeia os relatos dos moradores ainda é muito presente nas referências do passado.
Interessante é estabelecer uma relação entre estes relatos referentes às décadas de 1940 e 1950
com o momento em que a cidade de Belo Horizonte buscava retomar seu ideal republicano de
progresso e modernidade. Se o poder público preocupava-se com essa questão e buscou
materializar esse ideário, como foi o caso de Juscelino Kubstcheck, prefeito da cidade nos anos
1940, seus moradores, principalmente aqueles que não viviam na chamada zona urbana, ainda
experimentavam seu cotidiano com traços fortes de uma cidade interiorana. A história da cidade
de Belo Horizonte teve seu início marcado pela “[...] destruição do passado colonial [...]”
(Andrade, 2004, p. 75) para que fizesse parte de seu cenário “ [...] a modernidade urbanística
inspirada nos modelos europeus e americanos do século XIX.” (ANDRADE, 2004, p. 75)
37 Os nomes de todos os entrevistados são fictícios.

160
entretanto, Belo horizonte foi marcada pelo contraste e ambiguidade que, a partir do relato que se
segue expressa que as pessoas viviam na capital, mas o sentimento e a realidade do bairro era de
uma vida interiorana..
Naquela época Cachoeirinha não era considerado parte de Belo Horizonte, não, era como se fosse um distrito separado, [...], não era não, parecia ser. Pessoas que moravam aqui falavam assim: hoje eu já fui em Belo Horizonte. O Sr. Gercino, que é o pai do Zé Luis que mora aqui na casa que foi nossa, eu me lembro que no dia do casamento da filha dele eu estava sentada com ele na sala e ele falou assim: você acredita que hoje eu já fui em Belo Horizonte três vezes. Tinha o bonde e tinha um ônibus que eu nunca andei nele porque parecia um cacareco, muito velho, eu nem sei quem andava nesse ônibus, ele passava aqui e ia para Belo Horizonte. [...] Quando a gente vinha de Pedro Leopoldo que a estrada era outra, a estrada era muito maior que esta que tem hoje, a estrada subia duas serras, sem calçamento, na terra, era assim naquela época, e a hora que a gente avistava a Cachoeirinha a gente falava assim: graças a Deus já estamos chegando na Cachoeirinha, agora mesmo estamos em Belo Horizonte. Era assim, isso década de 40, até 50 era assim. (D. Conceição, 80 anos, 31 mar. 2009)
Na década de 1950, o fato do Cachoeirinha não fazer parte de Belo Horizonte, assim
como relatou D. Conceição, permite pensar como as distâncias na cidade eram experimentadas de
forma diferente porque o sistema viário e de transporte era deficitário, o que implicava um gasto
maior de tempo para os deslocamentos. Além disso, para os moradores daquela época, a “cidade
de Belo Horizonte” compreendia apenas sua área central e seus espaços circundantes, como
pareciam muito distantes dessa área, não eram considerados parte da capital mineira. Isso pode
também denotar a ambiguidade do moderno, pois a área central de Belo Horizonte era sinônimo
do movimento, das edificações verticais que comportavam moradias e disponibilizavam serviços
médicos e odontológicos, bem como era o centro da cidade que abrigava os estabelecimentos
comerciais, os bancos, entre outros serviços; ou seja, espelhava o modo de viver em um ambiente
urbano, grande e moderno. Os espaços da cidade que se encontravam distantes dessa área central
eram considerados precários em termos da existência dos serviços, da simplicidade das
edificações, na maior parte residenciais e assim, o ambiente não era caracterizado como aquele da
área central, isto é, moderno. A distância entre o bairro e a “Belo Horizonte”, então, não pode ser
pensada em termos absoltos, a partir dos quilômetros que efetivamente separavam o Cachoeirinha
da área central da cidade, pois não necessariamente a distância nesses termos é indicativa das
diferenças entre um espaço e outro. Nesse caso, a distância se referia ao morar em um lugar que
não se configurava, nem em sua morfologia nem nos modos de viver, como o centro da cidade.

161
Em se tratando da presença da CIBH no bairro Cachoeirinha, ela não se constitui apenas
como edificação, existente até hoje, que serve como referência espacial, mas como uma
instituição do mundo do trabalho que esteve presente desde muito cedo na vida de vários
moradores da Cachoeirinha. As mulheres aguardavam ansiosamente os primeiros anos da
adolescência para começar a trabalhar na fábrica e alguns dos homens tiveram toda a sua vida
ativa passada naquela indústria têxtil. O momento da vida relacionado ao trabalho na fábrica é
expresso como tendo sido uma fase importante, principalmente para as mulheres que lá
trabalharam por quase uma década e de lá saiam para dar início a uma nova fase da vida: o
casamento. Os homens relatam uma vida inteira dedicada àquela indústria, pois nela trabalharam
até o momento da aposentadoria e um deles, inclusive, depois da aposentadoria.
Lembro da fábrica desde pequena, meu avô era rondante da fábrica, ele ia com a lanterna iluminando o caminho para a fábrica. Eu lembro do apito da fábrica que marcava o bairro e o sino da Igreja que badalava anunciando a missa de domingo. [...] Fui trabalhar na fábrica com 15 anos, esperei ansiosamente os 15 anos para trabalhar na fábrica [ ..]. O que menos me prendia lá era o salário [....] Gostava das minhas máquinas, gostava do ambiente , de sair de casa [...]. O bom da fábrica era que ela dava emprego pra todo mundo. Eu acho que foi um bom período. (D. Amélia, 72 anos, 15 abr. 2009) Eu trabalhei na fábrica de 1954 a 1982, de 1954 a 1970 era externo e de 1971 até 1982 interno. Eu trabalhava externo na cooperativa de consumo, era tipo um armazém. Era uma iniciativa da diretoria, antes era armazém da fábrica, depois quiseram entregar para os próprios funcionários que formaram a cooperativa. Eles compravam pra descontar em folha, todos os alimentos, material de limpeza, era tipo um supermercado pequeno, ficava fora da fábrica, hoje lá funciona algo da maçonaria, o prédio foi vendido.[...]Eu gostava muito da fábrica, acordava no meio da noite e ia lá na fábrica pra ver se estava tudo ok, eu tava até perdendo a mulher, eu gostava da fábrica, gostava mesmo, quando eu entrei dentro dela, eu não gostava do escritório não, mas quando entrei na produção tomei gosto. (Sr. Luiz38, 75 anos, 21 mar. 2009) O meu pai não queria que trabalhasse na fábrica, ele falou mal da fábrica, ele falava você vai ficar tubérculos. Ele não queria essa vida pra mim. Meu patrão anterior, um dentista, também falava isso que eu ia ficar tuberculosa. Eu entrei na fábrica com 15 anos, trabalhei 8 anos e 3 meses porque casei. Gostava tanto que queria continuar. Entrei em1945 até 1953, que eu caseie aí pedi conta. Trabalhei na fiação, uma espécie assim de purificação do algodão, acabei meus tempos numa seção que chamava penteadeira, purificando o algodão ainda mais, era uma continuidade da fiação. Gostei muito de trabalhar na fábrica, porque tinha, existia uma amizade verdadeira, sabe, um coleguismo muito bom. Então a gente, tinha até uma história que o pessoal falava assim: aos domingos a gente vivia com a família, durante a semana nossa família era lá dentro. Então era toda essa amizade. E mesmo o pessoal donos da fábrica, os administradores, viviam assim muito junto com a gente. Eles tavam sempre com a gente perto, não havia muita briga, não havia nada assim com fulano, com beltrano, com chefe, era um clima muito bom que eu achei. Quando eu fui trabalhar, por exemplo, um dia minha mãe falou assim para o padre que gostaria que a filha trabalhasse aqui na
38 Reside no bairro aproximadamente desde os anos 1940.

162
Cachoeirinha. O padre respondeu que um bom lugar pra moça é a fábrica. Indicou a fábrica da Cachoeirinha. (D. Eliana, 78 anos, 21 mar. 2009) Comecei a trabalhar na fábrica com 14 anos e me aposentei com 44. Depois fui trabalhar no Sesi, onde fiquei mais 24anos. Trabalhei na fiação, nas penteadeiras, onde sofri um acidente na mão, as agulhas entraram no meu dedo. Fiquei por conta do instituto, do INPS. Quando me deram alta não aceitei porque disse que ainda tinha agulha no dedo, ia na Santa Casa fazer umas aplicações. Depois que melhorei fui para a pesagem do algodão. Quando eu fiz trinta anos de casa, me aposentei na pesagem do algodão. Ai eu passei a ser funcionária do Sesi, na quadra de esportes.Eu trabalhei no Sesi 24 anos. [...] A fábrica foi minha vida, até hoje as colegas cumprimentam, a fábrica era um encanto porque as amizades era melhor dos que a da agora. Pegava as cinco horas da manhã, nós levava café no vidro de biotônico fontoura e punha pra esquentar numa tal de engomadeira que caia uma água morna, às vezes a garrafa quebrava. Depois tinha uma hora de almoço, a gente vinha em casa, aí voltava pra trabalhar.(D. Maria39, 78 anos, 20 abr. 2009) O meu marido é de Pedro Leopoldo, ele trabalhou na fábrica 37 anos. D. Maria fez de tudo pra gente namorar, namorei nove anos e casei com 24 anos, já casei coroa naquele tempo. Trabalhei na fábrica durante 10 anos, comecei eu não tinha nem quinze anos ainda e sai para casar. Minha irmã também trabalhava na fábrica e adorava. Pra ser franca eu não gostava do serviço não, mas tinha que trabalhar, a família era muito grande. Eu era tecelã, trabalhava no tear, não gostava de jeito nenhum, ia trabalhar tristinha. Quando eu comecei a trabalhar pegava serviço 6:15 e ia até 5:30 da tarde. Era cansativo demais, eu tocava 4 teares e a limpeza dos teares era a gente que fazia, fazia uma espanador para limpar as máquinas. Quarta e sábado tinha que limpar as máquinas. Depois fui para o segundo turno e pegava as 5:30 e ia até uma e meia , mas aí melhorou um pouco porque arrumaram pessoas para fazer a limpeza. [...](D. Tamira, 71 anos, 20 abr. 2009)
Foi recorrente nos relatos das mulheres que trabalharam na CIBH a declaração do quanto
ficaram ansiosas pela chegada dos 14, 15 anos, não para que pudessem comemorar a data, mas
porque essa era a idade inicial para ser funcionária da fábrica têxtil. Aquelas meninas que já eram
desenvolvidas fisicamente podiam começar aos 14, mas a maioria começava aos 15 anos, depois
da realização de um exame médico para avaliar o estado de saúde. Segundo elas, a oportunidade
de trabalhar na fábrica significava a saída de casa para realizar atividades que não se
relacionavam ao ambiente doméstico e que propiciavam rendimentos mensais. O trabalho
doméstico continuava, pois se constituía como uma obrigação das moças da família, mas mesmo
assim elas diziam que o trabalho como operária era compensador, porque, inclusive, era uma
oportunidade de sair de casa, fazer amizades e também porque o salário era importante para a
renda familiar. O fato da maioria das mulheres ter saído da fábrica porque se casaram dizia
respeito à legislação trabalhista do ramo têxtil nos anos 1950/1960: quem completasse 10 anos de
casa passava a ser um funcionário equivalente a um servidor público hoje, ou seja, passava a
39 Reside no bairro desde os anos 1930.

163
contar com estabilidade40. A própria fábrica não tinha interesse em ter esse funcionário e, por
vezes, era a própria instituição que demitia o funcionário que estivesse por atingir esse tempo de
trabalho, mas no caso das mulheres antes de completarem os dez anos o que as fazia pedir
demissão era a realização do casamento, pois naquele momento não era comum ser dona de casa
e trabalhar.
Pareceu-me que a atividade de operária de uma fábrica não era percebida como
estigmatizante por grande parte das moças do Cachoeirinha que sonhavam com a possibilidade de
trabalhar na Cia. Industrial Belo Horizonte. Mas quando elas começaram a relatar as experiências
relativas ao mundo do trabalho, pareceu-me que esse sonho ocultava as hierarquias existentes
dentro da fábrica. Os relatos de D. Amélia, D. Dolores e D. Eliana, por exemplo, apresentaram
situações de discriminação no interior da fábrica por colegas que trabalhavam em seções
consideradas mais nobres, como a estamparia e a sala de pano41, porque o trabalho era menos
cansativo. Esse setor, segundo D. Dolores, era conhecido por abrigar as moças “chechelentas,
antipáticas, aborrecidas, pois não trabalhavam no turno da noite, só de 7hs às 16hs. Elas não
eram bem vindas pelas moças das outras seções.” (D. Dolores, 7 fev. 2009) As moças que
trabalhavam na fiação e ganhavam por produção eram chamadas de “comedoras de algodão”,
pois os cabelos ficavam recobertos de fios brancos que saiam das penteadeiras42 e esse aspecto
denotava que a atividade ali realizada era considerada menos nobre. D. Dolores mencionou
situações vivenciadas no interior e fora da fábrica que também eram reveladoras do estigma de
“operária”. Relatou que não gostava de ser chamada de “operária” e que se sentia magoada com
essa denominação. Quando ouviu pela primeira vez seu chefe se referir a ela como “funcionária”
achou maravilhoso. Houve também um momento da vida pessoal de D. Dolores que a
denominação de “operária” foi utilizada de forma pejorativa: um de seus namorados disse que
não gostava de namorar “operária” e usou isso como argumento para terminar o relacionamento.
Uma última situação relatada por ela foi referente ao fato de desconhecer uma loja que existia no
centro de Belo Horizonte. As “colegas” que estavam próximas e não trabalhavam na fábrica
comentaram que seu desconhecimento sobre o centro da cidade era devido ao fato de ser
operária. Segundo D. Dolores, quando, por vezes, alguém dizia “moça de fábrica”, isso podia
40 Informações obtidas com o Sr. Armando, Sr. Luiz e D. Dolores, ex-funcionários da CIBH. 41 Nessa seção a atividade era cortar 40 metros de pano, dobrar e embalar. Essas atividades eram realizadas depois que o tecido saía da estamparia. 42 Máquina utilizada no processo de elaboração do fio na seção de fiação.

164
indicar, pejorativamente, “moça que não tinha valor”. O relato de D. Eliana revelou que o próprio
pai, segundo ela, tinha preconceito com o trabalho na fábrica, pois dizia que ela ia ficar
tuberculosa, mesmo que o novo trabalho significasse um aumento de salário considerável frente
ao que recebia como auxiliar de dentista.
Esses relatos revelam, então, que havia uma tensão entre o sonho de trabalhar na fábrica e
o trabalho propriamente dito foi muitas vezes recoberto por situações e comentários, insinuando
que a atividade realizada na fábrica, dependendo do setor, era mal vista, inclusive, pelos próprios
funcionários de outros setores. Além da discriminação vivenciada no interior da fábrica, situações
experimentadas fora dos muros da CIBH também foram reveladoras do teor pejorativo que se
vinculava à denominação de “operária”. O trabalho como operária era discriminado tanto pelas
funcionárias de áreas e setores considerados mais nobres e elegantes na fábrica, que faziam
“deboche” umas das outras, quanto por algumas moças que não trabalhavam lá, mas também
menosprezavam as funcionárias. A tensão (ou ambiguidade) se explicita também porque, mesmo
revelando as situações que indicam a discriminação e o estigma colados à atividade como
operárias, as ex-funcionárias foram enfáticas ao dizer que trabalhar na fábrica era muito bom,
pois ali fizeram muitas amizades que conservam até hoje. Isso mostra a um só tempo um discurso
ambíguo e o fato de que a memória constrói no presente uma representação do passado e que essa
construção pode ser reveladora de tensões ou contradições que não são, efetivamente, assim
percebidas por quem as enuncia.
Quanto à vida fora do mundo do trabalho, cabe destacar os relatos referentes à
sociabilidade para além da vida familiar, um convívio social intenso relativo às atividades
culturais realizadas no Cine Pax, aos jogos de futebol com os times do bairro: o Têxtil e o
Cachoeirinha, as barraquinhas da Igreja e o footing da rua Simão Tamm.
Tinha cinema com preço muito bom,[ ...] então você vê que tinha todo tipo de cultura cinema, teatro, escola, catequese no domingo, toda coisa social era no cinema do padre, ficou com o nome de cinema do padre, conheci meu marido no cinema do padre, aqui na Cachoeirinha foi muita gente que casou assim, através do teatro e do cinema do padre, a gente namorava no cinema do padre. [..] As festas da Igreja com as barraquinhas, eram muito importante, eu ia, frequentava, só não me engajava porque não me sentia a vontade, era muito tímida. Tinha também o carnaval no Têxtil e no Cachoeirinha, ia também no carnaval no centro da cidade, a avenida ficava por conta da gente.(D. Amélia, 72 anos, 15 abr. 2009) Aqui na Cachoeirinha era uma vida tão em comum que nós tínhamos teatro verdadeiro. Eu trabalhava na fábrica, mas ensaiava, levava as peças de teatro. ... Nosso teatro era no Cine Pax, no dia das nossas peças, fazia fila ... aquelas filas grandes ,era a distração

165
que tinha. Não falei com você que parece roça. Conheci meu marido no teatro, no palco mesmo, nós trabalhamos juntos no teatro. A tardinha, no sábado, tinha um Senhor, chamava José Camargos, que pegava o megafone e anunciava a peça. Não é interior que fala assim? [...] Tinham lindas barraquinhas da Igreja, no final até chamaram as barraquinhas do Padre João. A gente trabalha muito mesmo pra construir uma igreja bonita. As barraquinhas eram pra construir uma Igreja, porque a gente só tinha uma capelazinha boazinha, mas a gente queria uma Igreja grande. A animação que eu tô dizendo era isso aí, as festas junina eram muito bonitas, muito gostosas. As barraquinhas eram na Simão Tamm, onde tinha o footing, nós passeávamos de lá para cá, não tinha carro, viam moças da Renascença. As festas juninas eram lá também e elas tinham a ver com a Igreja também. Tinha a noiva jeca, que eu não tinha vergonha de ser, tinha charrete toda enfeitada. Era uma festança. A Igreja e a fábrica eram muito importantes para o bairro. [...] Todo primeiro de maio tinha uma celebração de missa no campo do têxtil, era uma festa grande, depois tinha lanche no refeitório da fábrica. A gente era feliz. Olha como era a ligação de Igreja com a fábrica. A fábrica celebrava nossa páscoa no primeiro de maio (D. Eliana, 78 anos, 21 mar. 2009) A sede do Cachoeirinha43 era lá em cima na Simão Tam e a do Têxtil era cá em baixo.Um queria fazer um baile melhor do que o outro, hora dançante. Se um contratava um jazz, um conjunto, noutro domingo o outro fazia conjunto. Muita rivalidade entre os dois até fora do campo. A moradora 12 era do Textil, o marido dela era uma das pessoas mais fortes do futebol, bom de bola, ela veio pra o cachoeirinha por causa do marido. (Sr. Jarbas, 73 anos, 01 mar. 2009) Tinha o cinema do padre, era bom. [...] Uma época de carnaval, eu com as minhas amigas, lá íamos para o Carnaval lá na cidade e eu caí na rua que era encascalhada e minha mão encheu de pedrinhas. As amigas falaram para eu ir pra casa e trocar de roupa, mas não tinha outra. [...] Meu irmão era presidente do Têxtil, dizem que eu dançava bem, chegava duas horas engomava a saia para ir ao jogo com o Parque Riachuelo. Meus irmãos eram fundador do Têxtil. Naquela época a gente vinha nas horas dançantes, era ali em cima do sacolão. Tinha as festas da igreja era muito bom também. Tinha festa no dia de Nossa Senhora da Paz, tinha procissão, muito foguete. Hoje tá muito mudado, depois da festa sempre tem que ter lanche.(D. Maria, 78 anos, 20 abr. 2009) Adoro dançar, mas os irmãos eram implicantes e não deixavam eu ir. Meus irmãos é que iam muito. Comecei a namorar muito cedo, com quinze anos, conheci meu marido lá. No footing a gente ia, tinhas as barraquinhas da Igreja. A gente ficava andando na Simão Tamm, isso era antes de eu namorar. Eu ia ao futebol assistir o Têxtil, o namorado era ruim de bola, mas jogava. No Cine Pax eu também ia. (D. Tamira44, 71 anos, 20 abr. 2009)
Todos esses relatos revelam o tempo passado que está presente apenas na memória de
sujeitos que foram solicitados a lembrar parte de suas vidas em um bairro da cidade. Hoje o
bairro não é mais aquele dos relatos do passado, mas ele ainda existe, não só na memória das
pessoas, mas no cotidiano dos “antigos moradores”, como daqueles outros filhos desses “antigos”
que ainda residem ali. O bairro continua presença forte, não só pelas histórias referentes a um
tempo passado, mas na forma como esse passado agora configura-se para quem ainda está lá e
43 O Cachoeirinha que o morador se refere é a Associação Atlética Cachoeirinha, um time de futebol. 44 Reside no bairro desde os anos 1930.

166
toma o bairro como seu lugar na cidade. Há relatos saudosistas referentes a um tempo e a um
bairro que não existe mais, bem como uma forte identidade com o lugar, o reconhecimento do
seu lugar na cidade e dos outros que fazem parte dessa identificação.
Se eu ficar ali no portão se passar umas 20 pessoas eu conheço praticamente todo mundo. Adoro esse bairro. O que mais gosto é da convivência que eu gosto, todo mundo a gente conhece, a filha de num sei quem é, as filhas de beltrano, isso ajuda a gente a viver. (D. Maria, 78 anos, 20 abr. 2009) Gosto muito daqui. Esse bairro toda vida foi muito tranqüilo. Toda vida morei aqui e não tenho vontade de sair daqui. O que eu mais gosto, hoje, é da minha ginástica na Igreja. Aquilo ali é uma segunda família.Conheço muita gente aqui, as pessoas moram aqui há muito tempo. As vezes as pessoas interessam comprar alguma casa aqui no bairro Cachoeirinha, mas não acham, porque ninguém quer sair daqui, é todo mundo antigo. Muitos criaram família trabalhando na fábrica, depois que desativou, o povo abre assim um comerciocizinho e não vai pra frente e quando do tempo da fábrica não. Foi triste desativar. Era melhor quando existia a fábrica, eu gostava mais quando existia a fábrica. É um bairro bem tranqüilo, é um bairro que tem colégio, supermercado, bom pra se morar. Eu gosto muito daqui e não tenho vontade de mudar. Tenho amigo demais, muita amizade, a convivência com os vizinhos, eu acho uma das coisas mais importante aqui. (D. Tamira, 71 anos, 20 abr. 2009) E hoje que meu filho que mora em Pedro Leopoldo, é doido que eu vá prá lá, que eu volte pra lá, é um absurdo a gente morar nesse casarão. Eu digo a ele que só vou se puder levar a vizinhança, mas eu não tenho coragem de sair daqui, não. É uma vida inteira. E aqui é um bairro assim, se a gente precisar de alguma uma pessoa, essa pessoa está sempre pronta a ajudar.(D. Conceição, 80 anos, 31 mar. 2009)
Os relatos aqui apresentados revelam uma experiência de vida em um bairro que reflete
aspectos de uma convivialidade intensa, cujos nexos estavam/estão impressos na vizinhança, nos
referenciais do comércio, nos colegas de trabalho, nas atividades de lazer com os amigos e
familiares. Como assinala Mayol (2005) esse ambiente é propício às relações sociais, isto implica
dizer que o bairro condensa um domínio social que para o usuário é uma parcela do espaço
urbano na qual ele é reconhecido. Sendo assim, o bairro pode ser apreendido como uma porção
do espaço público que é geral, anônimo, pertence a todos, mas uma porção diferente, pois se
aproxima de um espaço que poderia ser definido como privado, particularizado pelo seu uso
quase cotidiano. Esclarecendo esse ponto, o autor assinala que o bairro pensado como espaço
privado do espaço público é resultado de uma sucessão de passos em suas calçadas que são,
então, significados pelo vínculo orgânico que estabelecem com a residência. Essa privatização do
espaço público realizada pelo bairro é progressiva e, segundo o autor, é como se fosse um
dispositivo prático que objetiva garantir uma perspectiva de continuidade entre o que é mais
íntimo (o espaço privado da residência) e aquilo que é mais desconhecido (o conjunto da cidade

167
ou mesmo o resto do mundo), é uma espécie de relação de apreensão do dentro (a residência) e de
apreensão do espaço urbano ao qual a residência se liga (o fora). O bairro pode, então, ser
pensado como um termo médio entre o dentro e o fora e por meio da tensão entre ambos vai aos
poucos se tornando um prolongamento de um dentro que se efetiva pela apropriação do espaço.
Um bairro, poder-se-ia dizer, é assim uma ampliação do habitáculo, para o usuário, ele se resume à soma das trajetórias inauguradas a partir de seu local de habitação. Não é propriamente uma superfície urbana transparente para todos ou estatisticamente mensurável, mas antes a possibilidade oferecida a cada um de inscrever na cidade um sem-número de trajetórias cujo núcleo irredutível continua sendo sempre a esfera do privado. (MAYOL, 2005, p. 42)
O bairro da Cachoeirinha é aqui foco de atenção, não pelo fato de ser um lugar de grande
visibilidade da cidade45, mas pelo intuito de tornar possível resgatar a memória de alguns de seus
habitantes que tiveram experiências marcadas pelas características modernas de Belo Horizonte e
sua área central e pelos “ares” provincianos do bairro, entre eles estão ex-trabalhadores da fábrica
têxtil ali localizada, estão aqueles que nasceram e constituíram família no bairro e também
aqueles que, sem trabalhar na fábrica têxtil, sem nascer no bairro o adotaram como seu lugar na
cidade. Resgatar os fios da memória de alguns desses sujeitos tem como objetivo reconstruir a
lembrança de um modo de vida em um bairro de um centro urbano, bem como identificar em que
medida nas referências identitárias dos moradores do local perpassam aspectos modernos e
provincianos, num bairro que parece envelhecer, pois não se modifica no mesmo ritmo e com a
mesma intensidade que a cidade se transforma, que mantém uma série de elementos que lhe são
peculiares há muito tempo. Trabalhar, morar e escolher viver num bairro da cidade, onde foram
tecidas relações de trabalho, relações familiares e relações de vizinhança pode ter apresentado aos
seus moradores nós e desenlaces que contribuíram para atribuir sentido às suas ações cotidianas
por meio do trabalho, da moradia, das relações de afeto familiares ou não.
O objetivo é decifrar o bairro da Cachoeirinha por meio dos parâmetros da modernidade,
seus sentidos e ambiguidades, como um lugar “tecido” por seus moradores e que faz parte da
trama de Belo Horizonte, idealizada para inaugurar e materializar o moderno no estado de Minas
45 Em Belo Horizonte, há oito anos, ocorre um evento no primeiro semestre denominado “Comida de Buteco” que seleciona bares situados nos vários bairros da cidade para participarem do evento a partir de um petisco servido. Nesta época ocorre a visita de moradores das regiões mais centrais ao bairro da Cachoeirinha, visto que ele tem alguns bares (O Bar do Careca, em especial) como tradicionais participantes do evento. Entretanto, isso não confere ao bairro uma visibilidade no restante do ano. (Informações obtidas em palestra realizada no Centro Universitário Una, pelos promotores do evento, em agosto de 2007.) O “Comida de Boteco” de 2010 foi o primeiro ano que não contou com a participação do Bar do Careca.

168
Gerais. Mas o embrião do antigo e da tradição não desapareceu com a aspiração ao moderno,
visto que as pessoas que vieram habitar a nova capital mineira muito carregaram de seus modos
de vida oriundos de espaços tradicionais. A novidade almejada dizia respeito também a um novo
jeito de viver na cidade, aos moldes do progresso alcançado pelas metrópoles européias. Belo
Horizonte já acenava para o provincianismo, não só pela questão da desordem, mas pelo fato de
que o plano da cidade foi contrariado pelos usos cotidianamente implantados. O plano foi
revertido, não cumprido na sua totalidade pelos sinais de que os valores modernos não são
plenamente absorvidos por quem nasceu em outros tempos e espaços, pois trazem marcas de
outros tempos, histórias e lugares para seu cotidiano na nova capital. Enunciam não o viver do
homem metropolitano, tal como apregoado por Simmel (1987), mas o sabor das relações de
vizinhança.
A criação da nova capital divide historicamente a política e a intelectualidade mineiras. Na raiz da decisão política encontrava-se justificativa de levar o estado para uma posição de desenvolvimento ao qual deveria corresponder um espaço distinto daquele mantido pela tradição barroca. Esta discussão que tomou conta da geração de final de século chega como experiência consolidada para a primeira geração modernista, protagonista da nova capital, da promessa do anonimato individualista da metrópole, confrontados, no entanto com os resistentes provincianismo, limites e rigores da tradição mineira mantidos na Belo Horizonte dos anos 20. O projeto moderno de recusa à tradição parecia não ter-se cumprido à altura. A cidade, planejada com régua e compasso na direção da amplitude, parecia criar claustrofobia intelectual aos que sonhavam com o mundo cosmopolita da metrópole simmeliana. (BOMENY, 1994, p. 174)
O cenário urbano de Belo Horizonte dos primeiros anos do século XXI contém as marcas
de um processo de ocupação que teve a segregação espacial como resultado da implantação da
ordem no espaço urbano. A cidade encontra-se dividida, configurando-se como um espaço
urbano de grande extensão física, mas que contém barreiras visíveis e “invisíveis”, impedindo o
acesso e a fruição igualitária de seus espaços por sua população. Suas ruas, praças e monumentos
são, de certa forma, a expressão de sua história e guardam marcas de eventos políticos, sociais e
culturais ou mesmo do cotidiano experimentado pela população da cidade. Mas comportam
também uma grande variedade de identidades, evidenciando a existência dos diversos segmentos
sociais que usam, percebem e se relacionam com seus espaços de formas diferenciadas. Essas
formas diferenciadas de relação, uso e percepção dos espaços estão relacionadas à maneira como
esses vários segmentos sociais os vivem cotidianamente. Como assinala Arantes (1994, p. 192)

169
mais do que territórios bem delimitados, esses ‘contextos’ ou ‘ambientes’ podem ser entendidos como zonas de contato, onde se entrecruzam moralidades contraditórias (...) aproximam-se mundos que são parte de um mesmo modo mas que, assim mesmo, encontram-se irremediavelmente apartados. (ARANTES, 1994, p.192)
Uma análise diacrônica do mapa de Belo Horizonte revela as diferentes maneiras,
simbólicas ou não, que garantiram, nas diversas épocas, uma “certa ordem”, o que pode ser
também compreendido como um “controle da desordem”. Foram estabelecidas barreiras de
acesso à área central da cidade para os segmentos mais pobres da população e a sociedade
contemporânea estabeleceu barreiras simbolicamente invisíveis. Assim, as praças e ruas da
cidade passaram a ser concebidas como locais próprios de práticas sociais e de visões de mundo
antagônicas. O desenho e a configuração atual da cidade, sua fragmentação e saturação de trânsito e
fluxos, podem ser considerados como o resultado das atuações tanto do poder público quanto da
população local nas áreas social, econômica, política e cultural. Isso porque todo tipo de
intervenção no espaço de uma cidade por meio da remodelação de seus usos, da construção de
novas edificações ou ainda da conservação e recuperação de algumas áreas produz resultados na
sua conformação espacial. Assim, além das ações do poder público sobre os espaços da cidade,
sua população também interage com esse meio e vai deixando suas marcas nele inscritas por
meio de manifestações artísticas, da interferência direta no espaço urbano pela forma como o
usufrui e também pela participação em organizações que atuam na cidade, objetivando
modificações específicas em algumas de suas áreas.
Enfim, ao longo de sua história, Belo Horizonte foi palco do enfrentamento entre os
interesses de diversos grupos da cidade que buscaram validar formas de pensar e usar seus
espaços para moldá-los de acordo com o que ansiavam e imaginavam ser viável para a cidade.
Como as imagens de Belo Horizonte foram mudando com o transcorrer do tempo, essas formas
de pensar e usar o espaço também se modificaram, pois o espaço pode ser considerado o
“equivalente do tempo (...) um meio dinâmico que, ao mesmo tempo, exerce uma influência
sobre a história e é moldado pela ação humana.” (ZUKIN, 1996, p. 206)
Belo Horizonte tem, então, seu espaço e suas formas de ocupação e de uso influenciando
na sua história, como também sendo influenciados pela ação de seus sujeitos. É a cidade como
resultado da ação e da relação entre os sujeitos e o meio onde se localizam. Como aponta
Gottdiener (1993), o espaço é um produto contingente, resultado da articulação dialética entre

170
ação e estrutura. É, então, nesse cenário tão heterogêneo que se encontram os moradores do
bairro Cachoeirinha, ex-trabalhdores ou não da Cia Industrial de Belo Horizonte, sujeitos da
presente pesquisa, os quais, frente ao processo de crescimento e urbanização da cidade nos seus
anos iniciais, bem como os parâmetros globais da economia atual, não tiveram e não têm seu
cotidiano marcado ostensivamente por esses aspectos. Residem em um bairro antigo onde estão
há muitos anos e onde desenvolveram suas relações de sociabilidade por meio do trabalho na
fábrica e/ou por meio da vizinhança.

171
6 O Bairro Cachoeirinha e sua (in)visibilidade na cidade
Existo entre grandes vias de tráfego intenso na cidade: Avenida Antônio Carlos, Avenida
Bernardo Vasconcelos, rua Jacuí, Avenida Cristiano Machado. Grandes empreendimentos me
circundam, me emolduram, mas só as molduras são vistas na cidade e por seus moradores.
Muitos sabem da minha existência, mas não conseguem me localizar espacialmente na cidade,
mas mesmo assim eu existo. Fico como se fosse no interior de vários espaços, vários bairros, mas
sempre os outros são mais vistos e, por vezes, confundidos comigo. Isso não significa que sou
discriminado e excluído, mas apenas que nem todos os moradores da cidade percebem a minha
existência. Sou apenas mais um bairro que não pertence à área central de Belo Horizonte, apesar
de estar localizado muito próximo de seu “centro nervoso”, a Praça Sete, aproximadamente 4 km
nos separam e mesmo assim sou (in)visível para muitos. Por que será?
Este capítulo tem como objetivo revelar algumas das questões que tornam possível pensar
um bairro da cidade a partir dos critérios da invisibilidade perante uns e da visibilidade perante
outros. Para quem esse bairro é visível e para quem parece nem existir na cidade ou só apenas
existir? É preciso deixar claro que a intenção aqui será apenas indicar algumas pistas sobre a
visibilidade e/ou a (in)visibilidade do bairro na cidade a partir de considerações em torno das
dinâmicas internas e externas do bairro. Para tanto, o início da discussão será em torno da ideia
de bairro “histórico” (Andrade e Arroyo, 2009) para averiguar em que medida o bairro
Cachoeirinha pode ser analisado sob essa perspectiva e se o fato de ser antigo na cidade,
contraditoriamente, contribuiu para sua (in)visibilidade. Outro ponto que interessará a discussão
deste capítulo diz respeito aos aspectos relativos à vizinhança (Andrade e Mendonça, 2007) e
como essa pode ser definida, como está inscrita no espaço de uma metrópole. Para ampliar a
discussão sobre as relações de vizinhança na cidade grande e urbana, as ideias de Tönnies (1947)
sobre comunidade e sociedade serão elucidativas, inclusive, para se estabelecer um paralelo com
as reflexões de Simmel (1987) acerca da vida mental dos indivíduos nas metrópoles, bem como
retomar as considerações de Park (1987) e Wirth (1987) sobre a questão da vizinhança.
Em seguida, as ideias de Costa (2008) sobre as permanências e mudanças ocorridas no
bairro de Alfama em Lisboa servirão de inspiração para a análise do Cachoeirinha, visto que
mesmo que tenha sido de forma mais lenta, o bairro sofreu alterações ao longo do tempo, seja em

172
seus aspectos físicos, seja em seus aspectos sócio-culturais e como essas alterações estão
impressas no cotidiano dos seus moradores nas suas relações internas e com a cidade.
Por fim, caberá pensar o bairro de forma comparativa com outros bairros da cidade, tanto
aqueles que fazem parte da mesma unidade de planejamento da Regional Nordeste, como é o
caso do Concórdia (Ribeiro, 2008), quanto com bairros que também podem ser definidos como
históricos e situam-se em outras regionais da cidade com o intuito de destacar as questões
relativas à não visibilidade e/ou (in)visibilidade neles presentes, entre outros aspectos que serão
tomados para efeito da comparação.
6.1 Bairros “Históricos” em Belo Horizonte: definição e características
A cidade de Belo Horizonte tem pouco mais de um século, mais precisamente 112 anos, e
caracteriza-se como uma cidade moderna antiga, de acordo com a denominação de Zukin
(1996)46. Nesse cenário que se constituiu como moderno antigo não é mais possível pensar a
cidade a partir das divisões que se estabeleceram no seu plano original: zona urbana, suburbana e
rural, pois as mudanças que ocorreram ao longo do tempo, fruto das ações do poder público e
também das ações cotidianas de seus moradores relativas às formas de apropriação e a
implementação de usos no espaço citadino. Frente a essa paisagem que ainda mantém traços de
sua história, não só em termos das edificações ainda do tempo da construção da cidade, mas
também no modo de viver o cotidiano, está em andamento uma pesquisa sobre bairros da
cidade47. Os bairros que se constituem como objeto de interesse dessa pesquisa são aqueles
definidos como “históricos” a partir de duas características:
• Bairros da época da construção da cidade: são antigos
46 Zukin (1996) assinala que as cidades modernas antigas são aquelas construídas entre 1750 e 1900 e as cidades modernas recentes são aquelas que foram construídas entre 1900 e 1950. 47 Essa pesquisa Bairros Históricos de Belo Horizonte: patrimônio cultural e modos de vida é coordenada por Luciana Andrade e realizada pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais em parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte (Gerência do Patrimônio) e é financiada pela FAPEMIG (2009-2010).

173
• Bairros que guardam muito de suas características da ocupação inicial, ou seja, da época
da construção da cidade, tanto em termos arquitetônicos como nos modos de vida
(ANDRADE e ARROYO, 2009).
Além dessas características, os bairros investigados nessa pesquisa situam-se na antiga
zona suburbana, fora do perímetro da Avenida do Contorno que, conforme já mencionando no
capítulo dois, definia o limite da zona urbana. De acordo com Andrade e Arroyo (2009) a
explicação para a sobrevivência desses bairros na zona suburbana deve-se ao fato de que aquela
região não sofreu com tanta intensidade as mudanças que se processaram na zona urbana no que
se refere, por exemplo, às transformações das edificações unifamiliares em estabelecimentos
comerciais ou a sua substituição pela construção de prédios. Essas mudanças de uso e ocupação
na zona urbana fizeram com que sua característica de área residencial fosse cedendo lugar para as
atividades comerciais. Esse mesmo processo aconteceu em alguns bairros da zona suburbana,
mas outros ainda se mantiveram como bairros majoritariamente residenciais. Além dessas
permanências ao longo do tempo, vários desses bairros da zona suburbana tiveram como marca
algum estigma originário de questões relativas à localização – pelo fato de estarem em uma
região fronteiriça ao centro, mas menos nobre – e também relativas às atividades consideradas
marginais que abrigavam/abrigam, como os cabarés e a boemia. São esses os bairros
considerados “históricos” que se constituem como foco daquela pesquisa.
Como as denominações de zona urbana e suburbana não mais se aplicam para identificar
os espaços da cidade, é importante mencionar as denominações atuais que são utilizadas ora pelo
poder público e população, ora somente pelo poder público. Uma dessas denominações é
referente à divisão de Belo Horizonte em nove regionais48, não somente o poder público
municipal, mas também os moradores da cidade se valem dessas denominações como forma de
localização espacial. Uma outra denominação que também se tornou referência de localização de
espaços da cidade foi elaborada pelo extinto órgão de planejamento metropolitano – PLAMBEL
– que dividiu a cidade e a região metropolitana em oito macro-regiões, são elas: o Núcleo
Central, a Área Pericentral, a Pampulha, as Periferias, o Eixo Industrial, as Franjas, as Áreas de
Expansão Metropolitana e as Áreas de Comprometimento Mínimo. Entre essas, a que mais se
48 Conforme mencionado no capítulo três são nove as regionais da cidade que abarcam um conjunto de bairros. Cf Mapa 1, p. 122

174
aproxima da região onde hoje estão localizados alguns dos bairros considerados “históricos”,
conforme enunciam Andrade e Arroyo (2009), é a área pericentral. Essa área da cidade tem sua
localização próxima ao centro da cidade, mas tem características diferentes em termos de usos e
formas de apropriação dos espaços, reiterando a característica de que os bairros “históricos”
conformam um estigma sócio-geográfico em relação à área central da cidade.
Segundo Teixeira e Souza (2003), a área pericentral tem uma marca importante em Belo
Horizonte porque aponta para a história da imigração em direção à nova capital do estado
mineiro, bem como para o processo de reivindicações de serviços urbanos ao poder público.
Caracteriza-se como um espaço apropriado para as classes médias e verifica-se que as camadas
de menor renda permanecem nas porções mais afastadas. Outro elemento que também contribui
tanto para sua caracterização quanto para sua crescente valorização regional é o fato de ter havido
a substituição do uso residencial para o comercial e de serviços ao longo de suas vias arteriais.
Mesmo que a partir dos anos 1980 tenha começado a perder população em termos absolutos
ainda apresenta a densidade mais alta da Região Metropolitana de Minas Gerais
Os bairros “históricos” como Lagoinha, Bonfim, Santa Teresa, Santa Efigênia e Floresta,
por exemplo, estão localizados na área pericentral e têm como uma de suas marcas a
ambiguidade, no que se refere à sua imagem, de acordo com Andrade e Arroyo (2009). Essa
ambiguidade está relacionada com o fato de serem considerados bairros tradicionais e
provincianos, porque são antigos e sofreram poucas transformações ao longo do tempo, mas por
outro lado já abrigaram ou ainda abrigam atividades como a boemia, as práticas de prostituição
ou instituições como hospitais de isolamento, cemitérios. Atividades e instituições com aspectos
estigmatizantes que desafinam com o tradicionalismo.
Frente a essa caracterização dos bairros “históricos” de Belo horizonte, o Cachoeirinha
pode ser considerado como um deles pelo fato de localizar-se na área pericentral, mesmo que sua
história não date da época da construção da cidade. Entretanto, sua “antiguidade” é referente às
primeiras décadas do século XX, ou seja, as primeiras décadas de crescimento e ocupação dos
espaços periféricos da cidade. Ocupação essa que, como já mencionado, demonstrou uma das
contradições do planejamento da nova capital de Minas Gerais, pois o previsto – expansão do
centro para a periferia – foi contradito. O Cachoeirinha foi uma das expressões desse crescimento
da cidade para além dos limites da zona urbana. Sendo assim, ainda guarda resquícios de um
tempo passado e algumas de suas edificações denotam essa característica, mas um tempo que não

175
tem relação com a época da construção da cidade, mas com seus primeiros anos de expansão.
Uma das características da área pericentral presente no Cachoeirinha está relacionada com os
processos reivindicativos por serviços urbanos. Como um bairro localizado fora dos limites da
Avenida do Contorno, os serviços urbanos eram alcançados por meio de reivindicações da
população. Então, de certa forma, o Cachoeirinha pode ser pensado como um bairro “histórico”.
Outra característica dos bairros “históricos” está relacionada tanto com atividades
consideradas marginais (estigma sócio-cultural) quanto à sua localização em região fronteiriça,
limítrofe e menos nobre em relação à área central da cidade. Quanto ao estigma relacionado à
localização isso não se configura como uma característica do bairro Cachoeirinha. Apesar da
distância em relação ao centro ser algo em torno de 4 km, à época de seu surgimento isso era uma
distância considerável a ser percorrida, face à escassez dos meios de transporte. Então seus
moradores ficavam mais circunscritos ao seu interior do que voltados para a vida na cidade, como
mencionou D. Conceição, por exemplo.49 Em se tratando da existência de atividades
estigmatizantes pode-se mencionar o fato de que ser operária de uma indústria têxtil nos anos
1950/1960 indicava no interior da própria fábrica a existência de situações discriminatórias.
Sendo assim, o Cachoeirinha pode ser considerado um bairro “histórico” em termos de sua
localização na área pericentral, e por abrigar uma atividade que, pelos relatos das ex-funcionárias
da CIBH, era estigmatizada.
Em se tratando do caráter ambíguo presente na imagem dos bairros “históricos”, o
Cachoeirinha pode ser pensado como uma expressão dessa ambiguidade, mas com outras marcas
que referenciam essa caracterização. Como já foi enunciado, a ambiguidade presente no bairro
pode também ser pensada a partir dos referenciais de construção de uma nova capital para o
estado de Minas Gerais que fosse a representação do moderno tanto em termos do planejamento
das ruas, avenidas, das edificações, da definição de locais para o exercício de quais atividades
quanto do modo de viver que também deveria ser experimentado sem os ares do tradicional e do
barroco que impregnava a antiga capital mineira. Mas a história da cidade foi se fazendo de
forma a contrariar muito do que estava previsto no plano e entre essas contraposições está a
forma de seu crescimento e ocupação. De certa maneira, isso possibilitou que os “ares
provincianos” dessem mostras de sua existência na jovem Belo Horizonte. Esse fato é um ponto
da ambiguidade presente na própria história da capital mineira e que pode ser apreendido não
49 Conforme relato mencionado na página 157.

176
somente pelos resquícios dos ares interioranos na capital em suas áreas nobres, mas também
como o moderno não alcançava toda amplitude da cidade. Desse modo, uma das faces da
ambiguidade do bairro Cachoeirinha pode ser apreendida como uma forma dos habitantes de
Belo Horizonte, em suas primeiras décadas, não experimentarem em todos os seus espaços, como
previsto, os “ares de modernidade”. O Cachoeirinha, assim como outros bairros da cidade,
contém a ambiguidade que é presente na própria história de Belo Horizonte: a não consecução em
sua totalidade do ideal de progresso e modernidade previsto no plano da cidade. A ocupação do
bairro Cachoeirinha não só é uma das expressões da contraposição ao plano da cidade, mas
também uma expressão da ambiguidade que perpassou a história da cidade.
Para além da expressão da ambiguidade presente na história de Belo Horizonte, é preciso
ressaltar que o bairro Cachoeirinha ainda guarda, mesmo com todas as transformações na/da
cidade e no/do bairro, modos de viver o cotidiano que se assemelham aos modos de viver das
cidades interioranas. O bairro pode ser pensado como uma das expressões da ambiguidade do
moderno na história de Belo Horizonte, mas também como um reduto desses “ares interioranos”
que ainda se faz presente no cotidiano de seus moradores. A ambiguidade é que Belo Horizonte
já não mais se assemelha aos seus anos iniciais, no que se refere às suas edificações e atividades,
mas apesar de todas as mudanças e da sua configuração atual ser de um ambiente metropolitano
ainda é possível encontrar resquícios de modos de viver e experimentar o cotidiano que parecem
ser de um tempo que já não existe mais. Como se fosse possível dizer que essa ambiguidade da
história da cidade não deixa de existir, ela se atualiza, ganha novas roupagens.
[...] os bairros da zona suburbana foram reconhecidos como tradicionais, sobretudo pela ação dos seus moradores que, ao longo, dos anos, contribuíram por meio de diversas ações para o reforço de suas identidades locais e seus valores simbólicos. Enquanto novos modos de vida e novas dinâmicas sociais e culturais marcam a zona urbana, o universo representacional dos bairros da zona suburbana (ou pericentral, como é mais conhecida hoje) manteve-se como objeto a ser reforçado pela própria população. (ANDRADE e ARROYO, 2009, p. 14)
As novas roupagens têm velhos conteúdos: a manutenção de uma identidade que é
recoberta por um modo de viver que, em muitos momentos e variadas situações, contradiz o que
Simmel (1987) apregoava como sendo o “modo” moderno de viver na metrópole: a reserva. As
relações de vizinhança, por exemplo, ainda se mantêm vivas e é uma das características mais
realçadas do bairro Cachoeirinha por seus moradores.

177
6.2 As Relações de Vizinhança no bairro Cachoeirinha
As relações de vizinhança nos bairros existem e permanecem ao longo do tempo ou não,
de acordo com Mendonça e Andrade (2007). Se vizinhança é compreendida como um tipo de
interação não mediada entre pessoas que se conhecem ou têm laços de parentesco, provavelmente
ela só será encontrada em cidades pequenas ou em bairros tradicionais. “A vizinhança seria então
um fenômeno em extinção nas grandes cidades, até porque nos bairros mais novos e também nos
mais centrais predomina o desconhecimento entre os moradores, ela deixaria de existir.”
(MENDONÇA e ANDRADE, 2007, p. 3) A pergunta que aqui se apresenta é se os chamados
bairros “históricos” ou mais precisamente, se o bairro Cachoeirinha pode ser considerado espaço
de relações de vizinhança, a despeito das mudanças ocorridas em sua estrutura física. Para
discorrer sobre essa questão valerá retomar a discussão de Tönnies sobre os conceitos de
comunidade e sociedade e a discussão de Simmel (1987) da vida mental na metrópole.
O ponto de partida das reflexões de Tönnies (1947) em torno dos conceitos de
comunidade e sociedade é a interação. Suas referências ao constante processo de interação
humana são relativas ao conceito de vontade que poderia, então, ser pensado como revelador das
constantes interações humanas. É como se os indivíduos conseguissem materializar essas
vontades que estariam presentes em múltiplas relações e de diversas formas: vontades realizadas,
vontades sofridas, construídas e/ou destruídas. As vontades não podem ser descritas como
indivíduos, mas como unidades biológicas dirigidas por instintos de reprodução, auto-
preservação, nutrição. Esse tipo de vontade foi denominado por Tönnies (1947) como vontade
natural. A união é decorrente das ações provenientes das vontades de auto-preservação,
conservação ou mesmo destruição. Essa união quando dirigida de forma predominante pela
vontade natural se caracterizaria como comunidade. Além da vontade natural, Tönnies assinala
que existem outros vetores, além dos orgânicos, que as orientam como as representações sobre os
homens e o mundo que os rodeia. A vontade passa então a ter caráter racional, propositivo e
caracteriza-se como arbitrária. Os homens reunidos por meio dessa vontade formariam o que se
caracterizaria como sociedade. Por meio da vontade natural os indivíduos entram em interação
não por interesses exteriores ou ulteriores, pois elas têm valor por si só. Já as interações pela
vontade arbitrária obedecem a equação entre meios e fins, visto que é racional e orientada por

178
motivações exteriores. É como se a partir da vontade natural se estabelecesse uma entidade
durável e por meio da vontade arbitrária se estabelecesse uma entidade mutável, pois submetida
aos interesses individuais. Sendo assim, o tipo de vontade predominante é importante para
determinar o tipo de configuração das relações sociais: relações comunitárias e relações
societárias.
As relações comunitárias foram definidas por Tönnies (1947) como toda forma de vida
social experimentada em conjunto que fosse íntima, exclusiva e interior. Em se tratando das
relações societárias, suas características estavam embasadas nas formas de sociabilidade de
domínio público, relativas ao exterior. A metáfora que poderia ser aplicada às relações
comunitárias seria a de um organismo vivo que nasce, cresce e se desenvolve naturalmente, de
forma harmoniosa e coordenada. Já a metáfora aplicável às relações societárias seria aquela de
uma máquina ou ferramenta que é colocada em funcionamento por meio de engrenagens
mecânicas, como um artifício racional e friamente planejado para o alcance de certos fins.
A teoria da comunidade de Tönies (1947) estava, então, vinculada à disposição gregária
dos indivíduos baseada em laços de consanguinidade (pais, filhos, irmãos) e afinidade (vizinhos)
tendo como característica a inclinação emocional recíproca, o consenso e o conhecimento íntimo.
As leis principais da teoria da comunidade estaria baseada no fato de que parentes, cônjuges,
vizinhos e amigos se gostam e entre aqueles que se gostam há consenso, por isso se entendem,
convivem e permanecem juntos ordenando sua vida em comum. Tönnies (1947) estabelece três
padrões de sociabilidade comunitária que convergem, cada qual, para um tipo de ordenamento:
• Tipo de sociabilidade: laços de consangüinidade → ordenamento: comunidade de sangue
(parentesco)
• Tipo de sociabilidade: coabitação territorial → ordenamento: lugar (vizinhança)
• Tipo de sociabilidade: afinidade espiritual → ordenamento: espírito (amizade)
Esses padrões se realizariam territorialmente por meio de três núcleos espaciais: a casa, a
aldeia e a cidade. Na casa seria prevalecente a sociabilidade de família, na aldeia a de vizinhança
e na cidade a de afinidade. Apesar dessas separações, Tönnies acreditava que os três padrões
estavam imbricados e que, dessa forma, a cidade seria o lócus que compartilharia dos elementos
das sociabilidades de sangue e lugar, pelo menos num primeiro momento, em uma morfologia
mais simples. Ressaltou que na cidade a irmandade profissional é que seria a relação comunitária
mais emblemática.

179
Com efeito, a transição da vida rural para a vida citadina urbana teria como característica
marcante uma ruptura nesses padrões de sociabilidade, pois quanto mais se multiplicava a vida na
cidade, mais perdiam forças os vínculos de parentesco e de vizinhança. É como se nesse
momento em que a vida urbana passa a preponderar sobre a vida rural houvesse também a
transição da vontade natural para a vontade arbitrária que, em se tratando de termos espaciais
poderia ser descrita como a submissão do campo e/ou da pequena cidade pela vida metropolitana.
Essa última, por sua vez, tem como marca o fato de que a sociabilidade mediada pelo parentesco,
pelos costumes, pela tradição, é enfraquecida prevalecendo aquelas mediadas pelo cálculo, pela
racionalidade e pelo interesse.
Partindo desses pressupostos Tönnies (1947) cunhou sua teoria das relações societárias.
Nesse âmbito o que prevalece é a vontade arbitrária, que aqui também pode ser entendida como
produto das sociabilidades mercantis que são orientadas pelo contrato, pela razão. Os indivíduos
seriam e estariam conscientes de seus interesses para estabelecer suas relações com os outros, se
valendo dos meios disponíveis para a consecução de seus objetivos. O dinheiro, no caso das
relações societárias e urbanas, é um elemento importante para estabelecer a igualdade social, pois
por meio dele tudo pode ser trocado desde os objetos até posições de prestígio. A tendência da
prevalência das relações societárias sobre as comunitárias se dá na medida em que a existência do
Estado se consolida, pois esse seria o representante da ciência, da opinião pública, das leis em
detrimento dos costumes e da religião, mais pertinentes às relações comunitárias. Entretanto, é
importante mencionar que os padrões de sociabilidade comunitária não deixariam de existir na
sociedade urbana, mesmo que fossem marginais e residuais, mas apontando inclusive para a
possibilidade de articulação com outras sociabilidades híbridas.
As ideias de Tönnies (1947) sobre relações comunitárias e societárias possibilitam o
estabelecimento de um diálogo com Simmel (1987) e suas considerações sobre a vida mental na
metrópole. De acordo com Simmel (1987) ao serem expostos a uma quantidade excessiva de
estímulos na cidade grande, os indivíduos se protegem, adotando a atitude de reserva, a
impessoalidade e o anonimato. Essas atitudes se contrapõem ao comportamento dos indivíduos
de cidades pequenas onde os relacionamentos se fundam na intimidade. Diferentemente da cidade
grande, onde reage com a cabeça e toma como referência a impessoalidade, nas cidades pequenas
os indivíduos reagem com o coração, com o sentimento, de maneira passional. A adoção da
atitude blasé, de uma atitude que torna os indivíduos incapazes de reagir às novas sensações com

180
energias apropriadas, é reiterada pela economia do dinheiro que equipara as diferenças
qualitativas das coisas em termos de valor monetário, que “[...] arranca irreparavelmente a
essência das coisas, sua individualidade, seu valor específico e sua incomparabilidade.”
(SIMMEL, 1987, p. 16) A economia monetária que tem na cidade grande seu local de mais alta
expressão, seria também responsável pela tendência de intelectualização do espírito dos seus
habitantes. A todo instante esses habitantes respondem aos tipos que lhes aproximam, às
mercadorias que lhes são apresentadas, aos modos de agir da exterioridade com classificações
intelectualistas. Isto é marcante na vida interior do indivíduo da cidade grande, do indivíduo
moderno que elabora formas de preservação de sua vida psíquica contra a diversidade de modos
de vida que se lhe apresentam. É como se na cidade grande, por meio da atitude de reserva,
houvesse um enfraquecimento das relações de vizinhança.
As relações comunitárias da forma como Tönnies (1947) as caracteriza se aproximariam
mais dos modos de viver das cidades pequenas, tal como enuncia Simmel (1987), visto que há
prevalência da vontade natural que pressupõe experimentar formas de relações sociais íntimas,
interiores, exclusivas e que são duráveis. Já as relações societárias se aproximariam mais da
forma de viver dos indivíduos modernos daqueles que vivem nas cidades grandes de acordo com
as reflexões de Simmel (1987). Nesse tipo de relação a vontade racional orienta as ações dos
indivíduos de forma a estabelecer metas e selecionar os meios de agir para alcançá-las, sendo o
dinheiro um elemento importante para o estabelecimento das relações societárias urbanas que se
caracterizam também como mutáveis.
Partindo das considerações de Tönnies (1947) sobre relações comunitárias e societárias e
das reflexões de Simmel (1987) em torno do homem moderno e urbano, primeiramente torna
possível pensar o bairro como uma entidade espacial onde, de uma maneira geral, se encontra o
lócus das relações de vizinhança e, poder-se-ia também mencionar, que o bairro seria o
equivalente da aldeia. De acordo com Tönnies (1947) a aldeia é o referente espacial das relações
de sociabilidade relativas à coabitação territorial. Pensando então a vizinhança como uma
interação típica da comunidade, o bairro pode ser analisado a partir desse viés, como o espaço
referencial de relações comunitárias experimentadas por meio da vizinhança. Isso, de certa forma,
aproxima da ideia de Simmel (1987) sobre a forma de viver em cidades pequenas onde não há o
imperativo da economia monetária e tampouco das atitudes de reserva e impessoalidade, pois, ao
contrário, os indivíduos se relacionam uns com os outros por intermédio do coração, das

181
emoções. Se tomarmos o equivalente a esse tipo de relação a partir de Tönnies encontraremos as
relações comunitárias embasadas na intimidade, no interior.
Ainda sobre relações de vizinhança cabe recuperar aqui os representantes da Escola de
Chicago, Park e Wirth, que também teceram considerações sobre esse aspecto da vida em cidades
grandes e urbanas. Park (1987) afirma que vizinhança tem relação com sentimentos, tradições e
uma história particular. Ele menciona essas características para dizer que ao longo do tempo cada
parte da cidade é recoberta por sentimentos e qualidades peculiares de seus moradores e é isso
que faz com que um determinado espaço urbano deixe de ser apenas uma localização geográfica
e passe a ter forma de vizinhança. Segundo o autor, a vizinhança, expressa pela proximidade e
contato entre vizinhos, seria a forma mais elementar e simples de associação que têm lugar na
vida citadina e ela existe sem uma organização formal. Ela é erigida com base na espontaneidade
das relações de vizinhança e existe também com a intenção de conferir expressão ao sentimento
local em relação aos interesses locais. Park (1987) ressalta ainda que o sentimento de vizinhança
tem sofrido mudanças nas cidades grandes e, para retratar o fato, menciona a existência de
vizinhança nascente e vizinhanças em processo de dissolução. Essa última pode ser oriunda de
mudanças no próprio perfil do bairro ou mesmo pelo fato de que viver na cidade e estar em
contato com facilidades de transporte e comunicação que coloca os indivíduos em contato com
vários mundos diferentes. Ao mesmo tempo, comenta a existência de vizinhanças urbanas que
sofrem de isolamento por se localizarem nos chamados guetos de colônias raciais e/ou de
imigrantes, mas que no seu interior podem preservar e intensificar a intimidade e solidariedade
dos grupos locais.
Ao tratar do tamanho da população de uma cidade, Wirth (1987) assinalou que quanto
maior a população, maior diversidade ela contém. Quanto mais diferentes forem os traços
individuais e pessoais, quanto às ocupações e ideias dos indivíduos de uma comunidade urbana,
mais amplamente estarão separados do que se comparados aos habitantes de um meio rural. Essa
separação, de acordo com o autor, também será perceptível espacialmente, já que “[...] as
variações dão origem à separação espacial de indivíduos de acordo com a cor, herança étnica,
status econômico e social, gostos e preferências.” (WIRTH, 1987, p. 99) Aliado a essa separação
espacial notar-se-ia o enfraquecimento dos traços comuns, pois as origens e formação cultural,
econômico e social dos indivíduos é tão diversa. Quanto maior o crescimento populacional, maior
a possibilidade de não se conhecer pessoalmente os componentes de uma comunidade. Ao

182
reconhecer o significado desse fato Weber (apud Wirth, 1987) ressaltou que em termos
sociológicos o grande número de habitantes e a densidade do agrupamento significam que as
relações de vizinhança, ou seja, de conhecimento pessoal mútuo entre esses habitantes, estariam
faltando. As relações sociais sofreriam alterações oriundas do aumento populacional. Wirth
(1987) retoma Simmel e suas considerações a respeito da metrópole e como os indivíduos que
nela vivem adotam no seu cotidiano um comportamento do tipo superficial, baseado no
anonimato e no caráter transitório das relações sociais. Ao mencionar as ideias simmelianas a
respeito do homem da cidade grande Wirth (1987) ressalta o fato de que a multiplicação de
pessoas que estabelecem contatos superficiais produz a segmentação das relações humanas “[...]
em relação ao número de pessoas que eles vêm e com quem se encontram sistematicamente no
transcurso da vida diária, eles conhecem uma proporção menor e com estes mantêm relações
menos intensivas.” (WIRTH, 1987, p. 100) Um último ponto diz respeito aos seus traços
característicos, ou seja, o modo de viver urbano implica na “[...] substituição dos contatos
primários por secundários, no enfraquecimento dos laços de parentesco e no declínio do
significado social da família, no desaparecimento da vizinhança e na corrosão da base tradicional
da solidariedade social.” (WIRTH, 1987, p. 109)
Diante do exposto até aqui, pode-se pensar as relações de vizinhança como algo em
processo mais ou menos intenso de enfraquecimento ou quase desaparecimento, a partir das
considerações sobre o modo de viver nas cidades grandes e urbanas de Simmel, Park e Wirth. As
ideias de Tönnies (1947) dada, inclusive, sua anterioridade aos demais teóricos aqui
mencionados, tem pertinência para analisar o teor das interações e das formas de sociabilidade
presentes nas “já quase extintas” relações de vizinhança. E, então, o que pensar do contexto
contemporâneo e, mais especificamente, como pensar o bairro Cachoeirinha a partir dessas
reflexões? Primeiramente é possível dizer que a partir de uma observação preliminar sobre como
os moradores do bairro se relacionam nas suas ruas com aqueles que podem ser tanto outros
moradores quanto apenas transeuntes, mas que, de maneira geral, podem ser descritos como
desconhecidos na/da cidade, não se observa a presença do conteúdo das relações comunitárias, tal
como enunciou Tönnies, e tampouco as referências de relações de vizinhança como descritas por
Simmel, Park e Wirth50. Isto é, de uma forma geral, os vários desconhecidos da cidade, dada sua
50 Ao colocar os três teóricos reunidos para mencionar a reflexão sobre relações de vizinhança não quero dizer que os três partilharam das mesmas noções.

183
densidade populacional e heterogeneidade, são tratados como tais e não são/estão envolvidos com
os moradores do bairro Cachoeirinha como se fossem vizinhos, pois não têm com eles qualquer
laço de parentesco ou amizade. Isso pode levar a pensar que as relações de vizinhança num
ambiente citadino urbano têm mesmo a tendência ao enfraquecimento, ao desaparecimento, dada
a diversidade de formas de viver, a diversidade de origens, ocupações, etnias, orientações
religiosas etc. Só que não se pode perder de vista que o exemplo dado é relativo aos moradores
ou transeuntes desconhecidos, esses não são os sujeitos de relações de vizinhança, pois são
efetivamente do espaço exterior, público e não da intimidade. Isso estaria mais próximo do que
Simmel (1987) menciona que na cidade grande a impessoalidade possa parecer frieza aos olhos
de um morador de uma cidade pequena. Ou mesmo, como Andrade e Mendonça (2007)
assinalam, isso seria uma pista para corroborar com a ideia de que o ambiente das grandes
cidades não é propício para as relações de vizinhança? Não necessariamente, pois uma
observação mais detida e uma aproximação efetiva com moradores do bairro permitiu perceber o
quão valorosas são consideradas as relações de vizinhança. Os vizinhos são, efetivamente,
sujeitos que têm uns com os outros laços de amizade ou parentesco. Foi recorrente em
praticamente todos os relatos recolhidos a menção a alguma situação rememorada da qual o
vizinho era um sujeito fundamental da história ou mesmo a importância dos vizinhos para o
sentimento de pertencimento e enraizamento no bairro.
O comércio mudou, mas a vizinhança continua, é como se fosse uma família (Sr. Armando, 88 anos, 28 mar. 2009) Não tenho coragem de sair daqui não. É uma vida inteira. E aqui é um bairro assim, sabe, se a gente precisar de alguma pessoa, essa pessoa está sempre pronta a ajudar. No dia em que minha filha morreu, essa que morreu por último, parecia que o comércio fechou, porque todo mundo tava lá no velório. Parece que o bairro ficou de luto. (D. Conceição, 80 anos, 31 mar. 2009) Olha, em primeiro lugar eu ia te falar que eu nunca conheci outros bairros. Não tinha outro bairro melhor, porque aqui eu tive minhas lutas e muitas vitórias também. Amor uns com os outros tem, aqui tem pessoas amigas mesmo, a vizinhança é bom mesmo. (D. Manuela, 57 anos, 30 maio 2009) Eu conheço todo mundo aqui no bairro, eu paro converso com um, converso com outro tem amizade, tem minha mãe, meus irmão, amizade também. As casas vizinhas são de gente da família. Eu sei quem mora aqui na frente, ali na esquina, paro, converso. (Nely51, 47 anos, 20 abr. 2009)
51 Essa moradora nasceu no bairro Cachoeirinha, casou-se e foi morar no bairro Jaraguá, Regional Norte, onde permaneceu por 14 anos. Faz dois anos retornou ao bairro onde nasceu para estabelecer moradia.

184
É como se os moradores do bairro tivessem seus olhares muito voltados para o local onde
moram. Esse é o espaço onde se situam na cidade, os mais velhos fazem referência ao bairro e
aos vizinhos, amigos e conhecidos que têm ali, como se fossem parte da vida inteira vivida e
experimentada naquele lugar, naquela vizinhança. Assim, percebe-se que a experiência dessas
relações ainda é grande e que o sentimento de enraizamento àquele bairro tem forte ligação com
as relações comunitárias, nos termos de Tönnies (1947), que não ficam circunscritas somente aos
laços de consangüinidade, mas também aqueles relativos à coabitação territorial.
Mas como forma de atualizar a reflexão em torno das indicações dos teóricos sobre as
questões referentes à vizinhança e aproximar o olhar para o bairro aqui em questão, valerá
capturar duas possibilidades de análise para o contexto contemporâneo, de acordo com Andrade e
Mendonça (2007):
1. a vizinhança ou o bairro ainda podem ser considerados como um lugar de referência para
os habitantes de uma cidade, por isso a ainda atualidade da pergunta: onde você mora?
2. a ideia de Simmel sobre o morador da cidade grande como possuidor de uma
independência maior em relação ao espaço devido a maior possibilidade de mobilidade
e/ou porque tem capacidade de manter relações com aqueles que estão distantes ao
mesmo tempo que se distancia de quem está próximo.
Essas questões possibilitam pensar o bairro como um espaço citadino onde os seus
moradores entrelaçam seus cotidianos a partir das interações e das relações de sociabilidade que
desenvolvem com aqueles que lhes são próximos e, em muitos casos, consequentemente,
conhecidos. Proximidade e conhecimento que podem ser revelados por uma trajetória
ocupacional compartilhada em um mesmo local, pela freqüência a uma mesma instituição
religiosa, pelos anos de estudos numa mesma escola, por questões geracionais, por relações de
afeto em outros momentos da vida (infância, adolescência) e, evidentemente, pelo fato das
residências serem no mesmo espaço da cidade que pode ser mais amplamente definido como o
bairro ou como uma de suas ruas e/ou esquinas. No caso dos moradores do Cachoeirinha, essas
formas de proximidade e conhecimento aqui descritas perpassam muitos dos relatos coletados,
visto que é possível montar uma rede de conhecimento entre aqueles que conversei, porque me

185
foram indicados e apresentados uns pelos outros, ou porque por outras vias acabava percebendo
o quanto a vida de alguns deles, principalmente os mais velhos, esteve entrelaçada, ou melhor, foi
tecida pelos acontecimentos sociais que ali tiveram lugar. D. Amélia é irmã da D. Dolores e da
D. Imaculada e todas nasceram no bairro Cachoeirinha. D. Imaculada é comadre do Sr. Jarbas
que é amigo do marido da D. Amélia. As irmãs, Amélia, Dolores e Imaculada, e a esposa do Sr.
Jarbas trabalharam na fábrica. D. Eliana é mãe da Cristina que foi colega de colégio da Nely. D.
Amélia, D. Dolores, D. Maria, D. Tamira e D. Imaculada trabalharam na fábrica, se conhecem
desde a juventude e hoje se encontram no grupo de atividades físicas que acontece na Igreja ou
mesmo nas atividades religiosas. D. Maria incentivou o namoro da D. Conceição com o Sr.
Armando. O Sr. Luiz foi contemporâneo do Sr. Armando quando trabalharam na fábrica.
Isso é apenas um exemplo de como as relações de conhecimento e partilha de
experiências ocorreram entre eles, moradores do bairro. Tomando como referência essas relações
é possível pensar o bairro a partir da ideia de um lugar de reconhecimento, como assinala Mayol
(1996), bem como a partir das considerações de Gonçalves (1988) sobre a apropriação dos
espaços como forma de desvendar percepções e significados construídos a partir da relação entre
os moradores do bairro e as práticas sociais que nele desenvolvem Essas práticas sociais, de
acordo com Gonçalves (1988), são recobertas por valores afetivos que não se circunscrevem
somente ao fato de significarem envolvimento e relação com outros moradores, mas também de
valores afetivos relativos ao lugar onde tais envolvimentos e relações aconteceram, ou seja, o
bairro é também recoberto por valores afetivos. Sendo assim, é possível dizer que as relações de
vizinhança foram citadas de forma tão recorrente nos relatos sobre o bairro Cachoeirinha e esse
pode ser percebido, pelos menos por alguns de seus moradores, como um espaço de
reconhecimento de lugares, trajetos, relações com vizinhos e comerciantes. Como assinala Mayol
(2005), o vizinho permite a prática do reconhecimento, pois não é anônimo, e o bairro, onde essa
prática é realizada se apresenta como um sinal de pertencimento a um espaço da cidade, o lugar
onde a prática cotidiana da vida pública primeiramente se realiza. É como se a cidade fosse re-
fabricada pelo uso cotidiano que seus moradores realizam no bairro. Logo, o bairro pode ser
considerado por seus moradores como um lugar de referência na cidade.
Mesmo que o espaço citadino urbano favoreça, como mencionou Simmel (1987), uma
liberdade maior dos indivíduos uns em relação aos outros e que as distâncias e proximidades
entre eles sejam fruto de escolhas, o espaço do bairro acaba por favorecer a aproximação e não o

186
distanciamento. A liberdade não é utilizada necessariamente para manter distâncias entre uns e
outros, mas ao contrário, o cotidiano pode traçar entrelaçamentos de trajetos, de ocupações, de
vizinhança que acabam por facilitar as aproximações. Então, é como se o bairro não fosse o
espaço ideal para a existência desse tipo de liberdade típica do centro urbano, ou melhor, é como
se no bairro essa liberdade de escolhas em torno da proximidade e distanciamento fosse praticada
diferentemente, pois a proximidade física das residências, a possibilidade da realização das
atividades de trabalho no mesmo local, a frequência à igreja, entre outras atividades, favorecerem
o contato e a intensidade das relações entre vizinhos que se fixam ao longo do tempo. O
distanciamento, muitas vezes, é experimentado em função da distância física das residências.
O sentido de pertencimento ao bairro é muito forte, visto que vários moradores, em
especial os mais velhos, se pronunciam dizendo que não têm a menor intenção de deixar o bairro,
os argumentos para essa permanência têm relação com os vínculos sociais e físicos que
estabeleceram e que se encontram entrelaçados. Para avançar essa ideia de pertencimento a um
lugar por meio dos vínculos sociais e físicos, ou seja, a relação entre os valores simbólicos e a
forma urbana, a noção de território pode ser elucidativa. Segundo Roncayolo (2001, p. 189) “[...]
mais do que percebido, o território é aprendido pelo indivíduo e construído pelas práticas e
crenças que são de natureza social.” Isso implica dizer que os referenciais culturais são
importantes para uma leitura das percepções espaciais as quais não se constituem apenas pelos
elementos da ordem do visível. Dessa maneira, o sentimento de pertencimento territorial está
fortemente associado às instituições como família, comunidade, cidade e a ideia de que “[...]
territorialidade antes de ser expressa pela ligação a um lugar específico é, antes de mais nada,
relação entre homens. Assim sendo, as comunidades territoriais são reconhecidas
institucionalmente ou simplesmente derivadas da prática constituindo referência para o
indivíduo” (RONCAYOLO, 2001, 195) O território pode, então, ser considerado o repositório
das relações entre as pessoas, das atribuições de sentido e significado fruto dessas relações, bem
como pode ser pensado como uma forma de leitura e apreensão da passagem do tempo, da
inscrição de marcas de outros momentos, outras pessoas, ou as mesmas pessoas em outros
momentos. Com efeito, para que ocorra uma possibilidade de análise de um território, seja ele a
cidade ou o bairro, é necessário ter acesso a esse conjunto de sentidos oriundos das práticas dos
homens em tais lugares para que não se incorra no equívoco de “ler” bairros e cidades, apenas a
partir de sua morfologia, pois essa também sofre com a passagem do tempo e acaba por conter

187
suas marcas ou mesmo desaparecer. A vinculação dos sujeitos com um lugar, a realização de
práticas e usos cotidianas que ali ocorrem ou ocorreram contribuem para que se possa apreender
não só a passagem do tempo, mas também os sentidos e significados que foram atribuídos ao
longo do tempo.
Entre as práticas e os usos cotidianamente realizados no bairro ressalta-se aqui as relações
de vizinhança que podem ser analisadas como uma das formas que os moradores explicitam sua
maneira de sentir a sua ligação, o seu pertencimento ao bairro. Relações de vizinhança que foram
construídas ao longo do tempo que são fruto de entrecruzamentos de atividades e subjetividades e
que, consequentemente, marcaram a trajetória dos moradores de um dos espaços de Belo
Horizonte, bem como deixaram marcas no espaço e no tempo por eles experimentados no bairro
Cachoeirinha.
6.3 O bairro Cachoeirinha: suas marcas e impressões a partir do trabalho de campo
Uma primeira característica que pode saltar aos olhos de um visitante ao bairro
Cachoeirinha é a predominância de residências unifamiliares em grande parte de suas ruas. Se se
chega ao bairro pela rua Itapetinga, paralela à Avenida Antônio Carlos, ainda é possível deparar
com alguns, não mais que cinco, pontos de comércio, em sua maioria oficinas automotivas, até a
chegada do cruzamento com a rua Simão Tam. Prosseguindo a rua Itapetinga depois do
cruzamento com a Simão Tam, até a Avenida Bernardo Vasconcelos, outros pequenos pontos
comerciais que, majoritariamente, são pequenos bares. As ruas mais internas do bairro também
guardam essa característica de conterem predominantemente residências unifamiliares e alguns
pequenos edifícios, com altimetria de no máximo três andares. A Avenida Bernardo Vasconcelos
separa duas partes do bairro, a que fica à sua direita, para quem está de costas para a Avenida
António Carlos, é onde situa-se, até hoje, a edificação onde funcionou a CIBH durante mais de 60
anos, a Igreja Nossa Senhora da Paz, o antigo Cine Pax52, o prédio que abrigou a sede social do
Textil Futebol Clube, a Escola Estadual Mariano de Abreu, a Escola Municipal Eleonora
52 Edificação onde eram exibidos os filmes, denominados de cinema do Padre, bem como as peças teatrais encenadas pelos moradores, tal como enunciado no capítulo quatro. Durante muitos anos o Centro Municipal de Saúde Cachoeirinha funcionou nesse prédio. Em 2009 é que houve a mudança para a nova sede.

188
Pierucetti que foi construída em terreno cedido pela fábrica nos anos 1970 e parte do comércio
local (pequenas mercearias, padarias, salão de beleza, loja de variedades e bares). As residências
são, como foi dito, em sua grande maioria unifamiliares e podem ser descritas, de uma forma
geral, como edificações simples, muitas delas aparentam ser antigas e não sofreram reformas ao
longo do tempo. A parte do bairro que se situa à esquerda da Avenida Bernardo Vasconcelos,
contém residências também unifamiliares, mas algumas delas em formato de pequenos conjuntos
habitacionais que se configuram como algo próximo de uma vila com casas de dois pavimentos,
por vezes geminadas e, por vezes, localizadas umas defronte às outras, formando um corredor
central de circulação. Essa parte à esquerda da Avenida ainda contém marcas de uma vila que ali
existiu por muito tempo: a Vila dos Aflitos. Os resquícios dessa vila podem ser observados em
algumas construções e em algumas vias de trânsito que, apesar de comportarem tráfego de
ônibus, inclusive, são mais estreitas que as vias da outra parte do bairro.

189
Cachoeirinha
a
Cachoeirinha
Mapa 2 Bairro Cahoeirinha e seu entorno
Fonte: GOOGLEMAPS

190
Uma primeira impressão que marcou minha percepção do bairro Cachoeirinha, a partir
das primeiras visitas e conversas com seus moradores, é que ele se constituía como um bairro
envelhecido. Um dos fatores que corroborou para essa impressão foram os contatos iniciais com
ex-trabalhadores da CIBH que atualmente contam com mais de 60 anos, mulheres que sonharam
completar 15 anos para realizar uma ruptura com o mundo doméstico ao adentrar o mundo do
trabalho na fábrica do bairro e que realizaram a segunda ruptura ao interromperem as atividades
do mundo do trabalho para construir seus próprios ambientes domésticos por meio do casamento.
E, além das mulheres que vivem no bairro e que tiveram parte de sua vivência marcada pelo
trabalho na fábrica, os homens que conversei logo no início do trabalho também são moradores
do bairro e dedicaram uma vida inteira de trabalho a CIBH, por isso já contam com idades entre
65 e 88 anos.
Diante de moradores tão antigos do bairro, das visitas às suas residências que nem sempre
se constituem como ambientes modernos, nem no sentido da aparência externa e, tampouco dos
elementos decorativos do seu interior, mas ao contrário, são edificações que parecem não ter
sofrido alterações ao longo do tempo, mantendo externa e internamente marcas de um outro
tempo que não é o atual contribuiu para que a impressão do bairro como um lugar envelhecido
continuasse forte. Então, para além das pessoas, dos moradores efetivos do bairro, suas
características físicas também impactaram aquela primeira impressão. Em se tratando das ruas e
das vias de tráfego interno do bairro foi possível perceber que elas guardam muitas construções
que remetem ao passado. O prédio da CIBH e a área por ele ocupada, por exemplo, é um dos
mais fortes elementos que marcam o tempo passado, não necessariamente pela forma da sua
edificação, mas pela história que contém, visto que para muitos moradores do Cachoeirinha
aquela área além de uma referência de localização para locomoção no bairro remete a história
pessoal, pois se constituiu como local de trabalho. Foi comum durante os relatos ouvir sobre a
localização de alguma residência ou outro tipo de edificação sempre em referência a fábrica,
como se vê nas frases abaixo:
Nasci na rua Nossa Senhora da Conceição, a rua da fábrica, inclusive a entrada da fábrica era pela Nossa Senhora da Conceição.(D. Eliana, 78 anos, 21 mar. 2009) Treinava toda quinta-feira, saia um pouco mais cedo, começava às vezes cinco horas. O primeiro campo do Textil era onde é hoje a estamparia, aqui descendo na Simão Tam. Depois o campo foi transporte para onde é hoje a escola Eleonora Pierucetti., antes de ser escola era terreno da fábrica.(Sr. Luiz, 75 anos, 21 mar. 2009)

191
A entrada dela era em frente o Bar do Careca. Todo o movimento era ali, no Bar do era do Jorge, do Tonho, não era do Careca não, onde é que eu tinha o açougue. O açougue era no 429, o careca é no 395. (Sr. Jarbas,73 anos, 03mar. 2009) Aqui na Cachoeirinha é tudo assim: rua dos Operários, por causa da fábrica, rua Industrial, por causa da fábrica, rua Primeiro de Maio, por causa da fábrica, tudo por causa da fábrica. (Sra. Elza, 85 anos, 01 mar. 2010)
Além da fábrica, é importante mencionar o prédio onde funcionava a sede social do Têxtil
Futebol Clube palco das horas dançantes do final de semana e hoje um comércio de verduras,
frutas e legumes.
Figura 12
Antiga Sede Social Do Textil Futebol Clube Fonte: Acervo Pessoal (2009)
O prédio hoje está fechado, mas tem como referência o local de funcionamento da
Cooperativa dos Funcionários da CIBH, que vendia gêneros alimentícios.

192
Figura 13
Sede da Cooperativa dos Funcionários da CIBH Fonte: Acervo Pessoal (2009)
A Escola Estadual Mariano de Abreu, a primeira do bairro e ainda em funcionamento. Ela
apareceu nos relatos dos informantes como a escola da infância da maioria e para uma das
informantes, como o local de trabalho, além de ter sido referência de localização do ponto final
do bonde.
Figura 14
Escola Estadual Mariano de Abreu Fonte: Acervo Pessoal (2009)

193
Outros prédios da rua Simão Tamm53 que merecem destaque no que se refere a esse
aspecto das marcas do tempo e da história do bairro, são: a casa onde funcionava os Correios,
Figura 15 Antiga sede dos Correios
Fonte: Acervo Pessoal (2009)
a casa onde funcionou a primeira farmácia do bairro,
53 Essa é uma das ruas centrais no bairro em termos de localização espacial, pois além de cortar uma grande extensão ela é uma das ruas que circunda o quarteirão onde funcionava a Companhia Industrial de Belo Horizonte –CIBH.

194
Figura 16
Prédio onde funcionou a primeira farmácia do bairro Fonte: Acervo pessoal (2009)
e o antigo armazém do Sr. Mellem:
Figura 17
Prédio onde Funcionava o armazém do Sr. Mellem Fonte: Acervo Pessoal (2009)
Essas são algumas das marcas temporais expressas nas edificações do bairro, todas elas
localizadas nas imediações da área onde funcionou a CIBH, na parte à direita da Avenida
Bernardo Vasconcelos.

195
O comércio local também guarda marcas de um outro tempo. Efetivamente atende às
necessidades locais e não funciona da mesma forma que em outros bairros de Belo Horizonte, tal
como enuncia Sarlo (2000), como um centro de bairro, mas conta com estabelecimentos
comerciais que visam atender à demanda local que, muitas vezes, na voz dos próprios moradores,
nem isso é possível, o que traz como consequência o deslocamento para os bairros do entorno em
busca de serviços e mercadorias que não são encontrados no bairro. Assim, a relação com o plano
externo é intensa, apesar dos relatos em torno do pertencimento e enraizamento ao bairro serem
fortes.
Moro aqui desde 1950 quando me casei. Hoje sinto falta, por exemplo, de uma agência bancária, de um comércio mais evoluído. Quando precisamos desses serviços temos que ir na Renascença, na rua Jacuí. A padaria do bairro ainda resolve, mas armarinhos bons não têm mais. Hoje tem o empório da fábrica que vende tecidos a varejo e no atacado. (Sr. Armando, 88 anos, 28 mar. 2009) Moro há 56 anos nessa casa. (D. Eliana, 78 anos, 21 mar. 2009) Nasci na Cachoeirinha, nessa casa que moro hoje. Sou a quinta filha, tenho 47 anos. Só a primeira filha que não nasceu aqui. Depois eu casei morei na Cachoeirinha, aqui mais embaixo na rua Indianópolis, depois meu pai morreu e eu voltei aqui pra casa da minha mãe. Eu nunca sai do bairro, sempre morei na Cachoeirinha. [...] Eu sou a única filha que nunca saiu do Cachoeirinha. Eu casei e morei no Cachoeirinha, meus filhos nasceram no Cachoeirinha (Cristina, 47 anos, 20 abr. 2009) Eu nasci em 1937, então vai fazer 72 anos agora em outubro. Só que eu fiquei sete anos ausente do bairro quando eu me casei eu fui morar no bairro Universitário, que é um bairro vizinho, depois voltei e nunca mais sai. (D. Amélia, 72 anos, 15 abr. 2009) Muita gente fala assim: que pena a Cachoeirinha não tem nada, nada que eles falam é nada pra vender, nada pra você comprar. Aqui por exemplo, acabou o pó de café você tem que pegar o carro e sair pra comprar. Aí pra pegar o carro e comprar, pra que que eu vou no supermercadinho daqui, vou pro Epa54, vou pro Shopping. O Epa não é aqui no bairro, é na Jacuí55 ou no IAPI56.. Já que você vai pegar o carro, você já vai num lugar que vai encontrar de tudo. (Cristina57, 47 anos, 21 mar. 2010) Só nessa casa tem mais de trinta anos que eu moro. (D. Elza, 85 anos, 01 mar. 2010) Tenho 73 anos e vim de Dom Joaquim com três anos. Vim morar na Cachoeirinha, nunca morei em outro lugar, não. (Sr. Jarbas, 73 anos, 03 mar. 2010)
54 Rede de supermercados espalhados em vários bairros de Belo Horizonte 55 Rua de grande movimento localizada no bairro Renascença, vizinho ao bairro Cachoeirinha. 56 Conjunto habitacional dos anos 1940 localizado na Avenida Antônio Carlos no bairro São Cristóvão, próximo ao bairro Cachoeirinha. 57 Nasceu no bairro e tem 47 anos.

196
Então, a primeira impressão de que o bairro estava envelhecido ficou marcada em mim
por essas questões relativas à idade dos moradores, ao tempo em que moravam no bairro, às
características físicas das edificações, das vias de tráfego interno, bem como dos
estabelecimentos comerciais. Com efeito, o tempo surge como categoria fundamental para
decifrar essa primeira impressão e para suscitar novas reflexões em torno daquela realidade
espacial que começava a se descortinar para a análise.
A questão das marcas do tempo impressas na morfologia física e na vida dos moradores
do bairro Cachoeirinha, permite refletir em torno da relação entre tempo e espaço, ou seja, pensar
o tempo não só como categoria fundamental para nossa localização espacial, mas também como
elemento importante para a compreensão da duração tanto das ações quanto dos usos que são
experimentados pelos moradores dos mais variados espaços citadinos.
O tempo se refere à duração ligada àquela das práticas, que, por sua vez, vincula-se a um uso limitado – geralmente expresso na morfologia, pelo construído; no traçado e na largura das ruas e avenidas, pelo fluxo, tipos e densidade da freqüência pela relação entre construído e não construído. (CARLOS, 2001, p. 46)
A duração a que Carlos (2001) se refere pode remeter também à percepção do
entrecruzamento de temporalidades: o ponto de partida deste trabalho foi o presente, mas a
sugestão, que mais se configura como uma provocação, apresentada aos moradores do bairro
Cachoeirinha, foi para uma volta no tempo no intuito de resgatar lembranças que, ao serem
narradas, tornassem visíveis um tempo que já se foi e que eles elegeram como significativo em
suas vidas pelas experiências que vivenciaram e que, por isso, o selecionaram e apresentaram em
suas narrativas quando indagados sobre o(s) espaço(s) do bairro que habitam.
De acordo com Kofes (2001), narrar implica rememorar um tempo passado e como ele é
percebido hoje, pois narrar não é necessariamente montar como um espelho a experiência vivida,
mas, suscitá-la. Narrar possibilita trazer à tona o que foi experimentado da maneira que deseja
aquele que narra. E uma narrativa é sempre temporal, remonta a um determinado tempo que foi
selecionado como relevante para ser apresentado. Dessa forma, a apreensão do entrecruzamento
dos tempos marcados tanto nas edificações do bairro Cachoeirinha quanto nas memórias de
alguns de seus moradores, foi possível por meio da resgate das lembranças tecidas por suas
narrativas. E foi exatamente ao trabalhar no resgate das lembranças que a ideia de bairro
envelhecido começou a se esvaecer e outros sentidos começaram a prevalecer. As narrativas

197
foram relativas a um tempo passado, visto que tinha como propósito recuperar lembranças desses
moradores, mas essas narrativas também alcançaram o presente, não só pelo fato de ser o
momento em que estavam sendo requisitados a rememorar, mas também porque o campo das
experiências vividas no bairro se estende até o momento, já que as trajetórias dos informantes
aqui apresentados não foi interrompida. O entrecruzamento dos tempos diferenciados se
configura mesmo como uma característica de suas vidas: o tempo deles no bairro ainda na
infância e juventude, o tempo construído a partir da constituição de suas famílias, o tempo das
novas gerações que traz o presente e suas novidades para as experiências dos mais vividos e
como eles percebem e interpretam essas “novidades”.
6.4 O passado no presente: o “envelhecimento” do bairro Cahoeirinha e sua (in)visibilidade
O entrecruzamento de tempos diferenciados foi elemento marcante das narrativas dos
moradores do bairro Cachoeirinha fossem eles mais velhos (aqueles com mais de 60 anos) ou
mais jovens (na faixa dos 40/50 anos). Houve sempre uma referência a um outro momento do
tempo que não o presente para, inclusive, situar configurações físicas ou até mesmo mencionar
diferentes formas de relações sociais. O entrecruzamento dos tempos ficou, então, explicitado
pelo tempo vivido, experimentado, guardado na memória, e o tempo atual que está se fazendo e
esse fazer consiste também em decifrar marcas do que já existiu. As imagens apresentadas no
tópico anterior deram uma mostra da resistência do tempo passado marcado nas edificações, que
mesmo com outros usos ainda têm as marcas da história, do tempo passado: o tempo que
efetivamente passou, contando, inclusive, com a mudança do século, e o tempo que os moradores
guardam não só nas suas memórias, mas insistem em fazer presentes no seu cotidiano. Partindo
da questão temporal é que buscarei identificar como a passagem do tempo permite compreender
o bairro de três perspectivas:
• como um lugar envelhecido;
• a partir da relação entre bairro envelhecido e invisível;

198
• como envelhecimento e invisibilidade insistem em existir mesmo frente as mudanças
ocorridas na cidade: será que a mudança ficou no exterior do bairro?
Para elucidar o primeiro ponto vale mencionar que quando indaguei aos moradores do
bairro Cachoeirinha sobre o que identificavam como mudanças ocorridas ao longo do tempo, eles
falaram tanto mudanças físicas, estabelecimentos comerciais, serviços e o próprio funcionamento
da fábrica que não existe mais, como dos fatos relativos aos acontecimentos culturais, como o
cinema, o teatro, as barraquinhas da igreja, o futebol e mesmo o footing que foi lembrado pelos
mais velhos. Interessante foi perceber que mesmo com a ausência dos estabelecimentos
comerciais, de alguns serviços, das festas e dos eventos culturais eles também foram enfáticos em
dizer o quão intensa é a ligação com o bairro, que dele não desejam sair, demonstrando um forte
sentimento de pertencimento ao lugar. Daí as questões: como interpretam as mudanças, o que
permanece frente às mudanças e como permanecem.
O bairro Cachoeirinha foi aprovado pela Prefeitura nos anos 1930 e ao longo de sua
existência as mudanças que ali ocorreram são referentes às obras de infra-estrutura urbana, visto
que os serviços de abastecimento de água, esgotamento, calçamento de ruas, edificação de
escolas, posto de saúde, foram fruto de reivindicações dos moradores, pois os bairros localizados
fora da área central de Belo Horizonte contrariaram a forma de crescimento planejada para a
cidade e surgiram sem os serviços básicos de infra-estrutura urbana. Sendo assim, o bairro foi
sofrendo alterações físicas em sua morfologia, fruto do atendimento às reivindicações dos
moradores e construiu sua história na cidade configurando-se como um bairro popular que,
posteriormente, ganhou o rótulo de operário em face à transferência das atividades da CIBH para
o Cachoeirinha.
Hoje o bairro tem suas ruas asfaltadas, escolas, posto de saúde, as residências em sua
maioria são edificações unifamiliares, mas já encontram-se alguns prédios de apartamentos de
baixa volumetria, não há mais as atividades da CIBH, porém suas instalações contam hoje com
atividades de outra industria têxtil. Além das mudanças físicas, algumas atividades também não
fazem mais parte do cenário cotidiano do bairro, como a realização do footing, as apresentações
de teatro e as sessões de cinema no antigo Cine Pax, as barraquinhas da Igreja, a própria igreja
ganhou novo prédio e mudou de endereço. A capelinha existente na rua Senhora da Paz faz parte
apenas da lembrança de alguns moradores. O prédio do Cine Pax chegou a abrigar o posto de

199
saúde municipal que somente em 2009 foi transferido para uma nova sede, hoje o desejo dos
moradores é que essa edificação se constitua em um Centro Cultural58, o terreno onde eram
realizadas as barraquinhas nas festas da igreja conta hoje com um prédio comercial onde funciona
um laboratório de medicamentos, o footing não faz parte das atividades de lazer existentes em
mais nenhum lugar da cidade, os times de futebol também não realizam mais jogos e tampouco as
horas dançantes, sendo que um deles, a Associação Atlética Cachoeirinha, comemorou 50 anos
de existência em 2001.
O bairro, então, viveu a passagem do tempo que nele se efetiva com as mudanças físicas e
de hábitos, usos e costumes dos moradores em relação à fruição de seus espaços e das atividades
neles realizadas. Mesmo que a paisagem tenha mudado, alguns traços de “velhas” relações ainda
se mantêm presentes. Os espaços públicos modificaram-se, mas a experiência de viver o bairro
como extensão do espaço privado do ambiente doméstico ainda existe visto que as relações de
vizinhança expressam a extensão do mundo doméstico, a extensão das relações do mundo
privado. O uso cotidiano desse espaço público – o bairro – é que o permeia de características
mais próximas do espaço privado. Segundo Mayol (2005, p. 40) “pode-se apreender o bairro
como esta porção do espaço público em geral (anônimo de todo o mundo) em que se insinua
pouco a pouco um espaço privado particularizado pelo fato do uso quase cotidiano desse espaço.”
Pensar que os usos e práticas realizados em determinados lugares da cidade podem ser
lidos como formas de expressão e identidade do grupo ou grupos que nesses lugares se instalam
seja como transeuntes, pedestres ou como espaços de moradia, permite pensar o bairro como um
desses lugares da cidade. No bairro onde residem, os moradores expressam, de alguma forma, por
meio de suas formas de experimentar e viver o cotidiano como é ser morador daquele lugar da
cidade e como se vive sendo morador daquele lugar da cidade. Por meio da fixidez da moradia
naquele lugar, do costume com a vizinhança, dos processos de reconhecimento e identificação
que são experimentados devido à proximidade é que torna possível identificar os elementos que
revelam a vida cotidiana dos moradores de um bairro e, assim, aproximar de uma apreensão
daquilo que foi narrado como a forma como viveram/vivem, experimentaram/experimentam os
espaços e tempos da vida que se construiu/constrói nesse espaço da cidade. Os moradores do
bairro Cachoeirinha relatam que o seu cotidiano é permeado por atividades que acontecem nas
ruas, instituições e estabelecimentos comerciais. O cotidiano que experimentam é perpassado
58 Solicitação já enviada ao Conselho do Patrimônio da cidade de Belo Horizonte em 2009.

200
pelos encontros com os vizinhos, que literalmente vivem ao lado, pelos encontros nas atividades
físicas com os amigos da igreja, do tempo do trabalho na fábrica, pelas relações de compadrio,
pela freqüência aos estabelecimentos comerciais, enfim, pelas atividades recorrentes que
recobrem o cotidiano de alguns de seus moradores. Esses encontros reiteram as mudanças e
realimentam as tradições. Como isso se dá? As mudanças são reiteradas visto que muitos relatam
que eles próprios mudaram e que não mais têm tempo e vontade para que os encontros, tão usuais
no passado, continuem a ocorrer, bem como as mudanças das comemorações das datas religiosas
e das atividades cotidianas em consonância com os modos de viver contemporâneos também
foram objeto de referência para relatar mudanças de hábitos.
o que mudou foi isso: deixou de ser um bairrozinho que parecia uma família e esse bairro agora a gente não conhece quase ninguém. Agora tem uma coisa, eu fiquei muito caseira, sabe. Eu passo quinze, vinte dias sem ir no portão, porque não gosto mesmo, não gosto de sair, por meu gosto eu só ficava dentro de casa e com isso fui perdendo também o contato com as pessoas (D. Conceição, 80 anos, 31 mar. 2009)
De acordo com relatos dos moradores em um jornal veiculado no bairro,59 o Sr. Luiz
afirmou que foi a televisão que contribuiu para prender as pessoas em casa. Outro morador
refere-se às mudanças nas formas de manifestações culturais do bairro como relativas à paróquia,
pois segundo ele houve um “padre de estilo menos extrovertido de atuar”, que contribuiu para
que houvesse uma desmobilização das atividades. Disseram também que a facilidade dos
transportes e dos meios de comunicação contribuiu para que as pessoas criassem grupos de
convivência em outros bairros distantes de onde moravam. Assim, elos que uniam os moradores
de outrora deixavam de existir. Duas entrevistadas mais jovens, uma na faixa dos 35 e dos 25
anos trataram desse último aspecto, ao dizer que as relações de amizade da infância cultivadas no
bairro não são mantidas até hoje, os amigos atuais não necessariamente são moradores do bairro.
Quando criança a gente ficava na rua o dia inteiro. Sentava uma pessoa no poste, chegava na janela e via que tinha uma pessoa no poste, na hora que assustava tava todo mundo sentado no poste conversando, brincando, a gente inventava queimada, vôlei, era muito bom. (Paula, 26 anos, 30 maio, 2009) Hoje muita gente mudou, muitos meninos começaram a mexer com drogas, tem gente que tá preso, aí não deu mais. [...] Quando ficamos mocinhas não passeamos mais no bairro porque é perigoso. Até nossos amigos da meninice ficaram perigosos, amigos que a gente gostava muito ficaram perigosos, infelizmente. Mas eles respeitam muito a gente, lembram da gente, cumprimentam. (Sônia, 37 anos, 30 maio, 2009 )
59 Jornal Promoção para a Qualidade de Vida Comunitária, junho de 2001.

201
Os moradores mais velhos (45 anos em diante), entretanto, são enfáticos ao mencionar a
turma dos jovens que existia no bairro e como ainda hoje se relacionam
Quando eu adolesci tinha um grupo de jovens chamado Tuca – Turma Unida da Cachoeirinha – que era da Igreja. Então a gente freqüentava muito o Tuca, fazia campanha do alimento, visitava creche, asilo. Tinha um sopão que os mais velhos faziam, eu ajudava fazendo a campanha. Até a minha adolescência foi muito em volta da igreja. [...] Não tinha muito o que fazer, tinha uma padaria onde a gente reunia. Nunca teve nada muito significativo aqui no bairro. Era mais a reunião do grupo mesmo. Hoje alguns dos meus amigos da juventude continuam morando aqui. (Crisitna, 47 anos, 20 abr. 2009)
É possível perceber como o Cachoeirinha foi sofrendo alterações em sua morfologia e
como os moradores foram, concomitantemente, alterando suas rotinas, seus hábitos e seus
costumes e com isso as atividades cotidianas também mudaram. Tais modificações não são, de
fato, oriundas de um movimento interno, ou seja, as mudanças que ocorrem no bairro são, em
certa medida, reflexos de mudanças na própria estrutura urbana da cidade. Sendo assim, vale
ressaltar mais uma vez a ideia de que o bairro não pode ser pensado somente como uma unidade
isolada, como um lugar da cidade que tem sua história e características, mas, como assinalou
Lefebvre (1975), deve ser pensado de maneira temporal e sem ignorar a história da cidade. Dessa
maneira, o bairro Cachoeirinha modificou-se ao longo do tempo no que se refere à sua paisagem,
mas também às formas de viver de seus moradores; mudanças essas que devem ser pensadas em
relação à cidade e não remetidas somente à realidade local. Assim como Belo Horizonte foi
sendo modificada fisica, econômica, urbanisticamente e nas formas como seus moradores
experimentam o cotidiano na cidade, o bairro Cachoeirinha também mudou. É como se a cidade –
vista como totalidade (LEFEBVRE,1975) – fosse mudando ao longo do tempo e seus bairros,
consequentemente, fossem os espaços onde tais transformações também se revelariam.
O entorno do bairro alterou de maneira bem mais intensa que o seu interior. Novos bairros
surgiram, como foi o caso do Palmares,60 com a inauguração do Minas Shopping no início da
década de 1990. Um dos impactos desse crescimento do entorno do cachoeirinha foi o não
desenvolvimento, por exemplo, do comércio local. Sobre esse aspecto os moradores são
queixosos e uns alegam que a fábrica foi a grande culpada no que eles consideram o não 60 É possível chegar a esse bairro apenas seguindo em linha reta a Avenida Bernardo Vasconcelos, uma das principais vias de acesso ao Cachoeirinha, que no seu final encontra-se com a Avenida Cristiano Machado no ponto onde se localiza o Minas Shopping.

202
desenvolvimento do bairro e outros vão mencionar, inclusive, o desenvolvimento de
estabelecimentos comerciais de grande porte, como redes de supermercados e shoppings que
impedem o crescimento do comércio local.
[...] existe o problema do comércio ser muito pobre, o comércio da Cachoeirinha hoje é mais pobre do que já foi, por causa da construção do Minas Shopping, que é ali pra nós, do lado, muito fácil de ir. Aliás estamos entre dois: tem o Shopping Del Rey e o Minas. O Del Rey é mais longe, o acesso é um pouco mais difícil, mas mesmo assim é perto. De modo que não há assim uma premência do pessoal abrir um bom comércio aqui, não tem. As pessoas têm medo de construir uma coisa e depois não possa dar bom resultado. O melhor que eu acho aqui do bairro é justamente a amizade do pessoal. E houve uma época que a gente podia ficar sentado lá fora conversando até meia noite no tempo de calor sem nenhuma preocupação. Agora já não pode mais, como em toda parte as coisas agora não é segura mais. Mas mesmo quando nos outros bairros já não havia segurança aqui ainda era seguro. (D. Conceição, 80 anos, 31 mar. 2009) A padaria tem que descer lá embaixo. O comércio é muito pobre aqui na Cachoeirinha. Na Mexiana61, que já pertence a Renascença, tem padarias boas, na Descalvado62 também tem uma padaria boa. Açougue não tem, tem supermercado que tem açougue. Lotação aqui ta péssimo. (D. Amélia, 72 anos, 15 abr. 2009) O Cachoeirinha evoluiu pouco, podia ter evoluído mais, não evoluiu mais porque os lote melhor era tudo da Companhia63, eles não venderam, não fizeram negócio nenhum, ficou essa bomba. Não tinha um lugar de fazer um comércio bom, nem nada, parou, o bairro parou. (D. Maria, 78 anos, 20 abr. 2009) Por causa da fábrica o bairro não cresceu porque tomou muito espaço. Hoje acabou tudo. Cachoeirinha hoje é até perigoso descer a rua hoje, porque não tem quase ninguém na rua à noite, não tem aquele movimento de antigamente. Era muito movimentado, hoje não tem movimento nenhum, mas hoje a cidade ficou perto do bairro com muita lotação. [...] O comércio antigo foi deixando de existir, eu acho que é evolução, por exemplo, surge um supermercado grande como o Epa, e o pessoal vai dando preferência para ele e os outros vão quebrando, vão sendo engolidos, ai não tem jeito. (Sr. Luiz, 75 anos, 21 mar. 2009)
Outro elemento importante sobre as mudanças ocorridas no bairro é a existência da CIBH
e o encerramento de suas atividades depois de quase sessenta anos de funcionamento. Antes de
iniciar o trabalho de campo tive a impressão de que a fábrica seria um dos elementos que mais
fortemente apareceria nas narrativas dos moradores como marco de suas vidas, mas ela apareceu
como elemento importante apenas nas falas daqueles que a tiveram como o único local de
trabalho: no caso das mulheres porque se casaram e dos homens porque lá trabalharam até a
61 Renascença é um bairro vizinho, mas atualmente a correta denominação da rua “Mexiana” é “Clara Nunes” uma homenagem à cantora que trabalhou na fábrica de tecidos do bairro Renascença. 62 Rua Descalvado é a continuação da Rua Simão Tamm uma das ruas centrais do bairro que circunda o terreno da Companhia Industrial de Belo Horizonte – CIBH. 63 A Companhia que a moradora se refere é a Companhia Industrial de Belo Horizonte – CIBH.

203
aposentadoria. Os demais moradores mencionaram a fábrica porque algum familiar foi ex-
funcionário ou porque foram por mim inquiridos. Os ex-trabalhadores guardam boas lembranças
do trabalho porque esse constituiu parte importante de suas vidas. O morador mais velho do
bairro que conheci trabalhou na fábrica por mais de cinqüenta anos, pois depois de aposentado
(1980) voltou a trabalhar e só parou quando a fábrica fechou, então, nesse caso, a Companhia
Industrial Belo Horizonte – CIBH fez parte de toda a sua vida no mundo do trabalho. Sua esposa
e seus filhos tinham receio que ele sofresse algum mal físico com o encerramento das atividades.
Além disso, há divergências quanto à importância da CIBH para o desenvolvimento do bairro.
Alguns são partidários da ideia de que a fábrica foi fundamental para o desenvolvimento do
bairro e mencionam que seu fechamento impactou fortemente o bairro, outros já mencionaram o
quanto a fábrica foi prejudicial ao desenvolvimento do bairro.
A fábrica foi boa para o bairro. Uns falam que tomou muito, que não cresceu. Você vai na Simão Tamm ali, o único lugar que a Simão Tamm é larga é no vão da fábrica, porque a fábrica cedeu terreno. Empregou muita gente, tratou de muita gente. (Sr. Jarbas, 73 anos, mar. 2010)
Mas mesmo que o bairro seja uma expressão das próprias modificações que ocorreram na
paisagem urbana de Belo Horizonte o que aparece como marca dessas mudanças? O que se
configura como especificidade da passagem do tempo nesse lugar específico da cidade de Belo
Horizonte? Sobre esse ponto volto a discutir o aspecto do envelhecimento do bairro. Como pode
ser lida, em uma cidade tão jovem como Belo Horizonte, a situação de envelhecimento de uma de
suas partes? Esse envelhecimento pode ser descrito como restrito às questões morfológicas
devido ao fato de que suas edificações não apresentam sinais de atualização arquitetônica? Esse
envelhecimento diz respeito ao fato de seus moradores estarem ficando idosos e os jovens não se
apropriarem de seus espaços com novos usos? O envelhecimento do bairro pode ser interpretado
como um dos aspectos da sua (in)visibilidade na cidade?
Para buscar respostas para essas questões as pistas que apareceram foram relativas às
narrativas colhidas junto aos seus moradores. São eles os primeiros a me fornecer sinais desse
envelhecimento que, algumas vezes, relacionam com o envelhecimento pessoal e do que ele
significa. As marcas mais visíveis de tal envelhecimento dizem respeito à idade dos moradores e
aos formatos das edificações. Mas, por mais que isso fosse visível pelas formas físicas das
edificações e pelas idades dos moradores, foi o próprio discurso de que o bairro envelheceu que

204
corroborou para que minha impressão do seu envelhecimento fosse mesmo realidade. Com isso,
minhas suposições começaram a se firmar como uma forma de caracterização do Cachoeirinha:
estudava um bairro da cidade que poderia ser descrito como envelhecido tanto pelas edificações
quanto pela idade dos moradores, mas também por um discurso relativo às mudanças endógenas
do lugar que se referiam ao seu envelhecimento.
Era um bairro jovem e o bairro envelheceu. Até a minha geração, minha época, você saia na rua era cheia de jovem, vinha o pessoal da rua de cima, da rua de baixo, juntava todo mundo, eram os namoricos. Hoje você não vê jovens na rua. (Cristina, 47 anos, 21 mar. 2010) Pra juventude de hoje não tem uma diversão, não tem uma distração. Agora todo mundo vai pra cidade, mas os encontros de jovens que acontecem não têm muita repercussão. [...] Não vê jovem na rua. Precisamos de sangue novo na Igreja. (D. Eliana, 78 anos, 21 mar. 2009) Bairro nunca toma aspecto moderno porque não pode construir prédio alto. (D. Conceição, 80 anos, 31 mar. 2009) A gente envelheceu e o bairro também. Eu na minha idade, o bairro pra mim hoje não tem nada. (D. Amélia, 72 anos, 15 abr. 2009) Todos que moravam na época da minha avó, continuam morando na rua. Os vizinhos são os mesmos. Aqui é uma rua de gente mais idoso. Dá nove horas não tem mais ninguém na rua. (Sônia,37 anos, 30 abr. 2009) A cachoeirinha é um bairro velho, muito conservador Não progrediu. Não tem casas boas. Na Simão Tamm tem 20 anos que não faz uma casa na Simão Tam. Senhora da Conceição64 não faz casa. Na Cahoeirinha casa chic é só naquele alto lá65. (Sr. Jarbas, 73 anos, 03 mar. 2010)
Esses discursos, mesmo que tímidos, sempre foram ditos ao final dos meus encontros com
os moradores como uma forma de caracterização atual do bairro. Eles contêm um tom de
nostalgia, uma lembrança de um tempo que não existe mais e de um espaço que não se configura
mais a partir dos mesmos usos e apropriações. “[...] ´nostalgia´ que parece decorrente do fato de
que as mudanças na vida cotidiana aparecem como perdas; de certo “estilo” que tinha a vida e
não tem mais; [...]” (CARLOS, 2001, p. 249) E o ato de rememorar apresentava-se aos moradores
com quem conversei como uma possibilidade de tornar presente o passado, de atualizar o tempo.
Nesses momentos era perceptível como a possibilidade da narração só ocorria porque o
testemunho da experiência estava sendo revelado, pois como assinala Sarlo (2007), não há
testemunho sem experiência. Fazer vir à tona os relatos de um outro momento no tempo era como
selecionar os eventos, os acontecimentos, as situações de outrora que tiveram sentidos 64 Rua perpendicular a Simão Tamm. 65 Esse alto que o morador se refere já é próximo à divisa com o bairro Concórdia.

205
importantes, marcantes na trajetória de vida desses moradores da cidade de Belo Horizonte pelo
que experimentaram em suas vidas. É como se esse rememorar significasse uma forma de não
permitir que o passado escape, que as formas antigas de relações não deixem de existir, que elas
possam resistir, mesmo que por momentos efêmeros relativos à lembrança de determinados
acontecimentos.
Interessante pensar que as modificações ocorridas no Cachoeirinha não são mencionadas
pelos moradores como imposições de modos de viver externos ao lugar. Quero dizer com isso
que as mudanças não foram fruto de imposições do poder público, por exemplo, mas resultado
mesmo da passagem do tempo, da inserção na história que tem como conseqüência as alterações
que indicam o dinamismo dos tempos e lugares. O crescimento de Belo Horizonte e seu
dinamismo econômico propiciaram o incremento das atividades da CIBH que transferiu suas
atividades para o bairro. A mobilização da população trouxe os serviços urbanos. Os times de
futebol fizeram parte do entretenimento dos moradores do bairro e dos arredores. Todas essas
atividades referentes a outros momentos do tempo são retrato da inserção do bairro na história.
Mesmo que as mudanças não tenham sido, então, fruto da ação de planejadores ligados ao poder
público, o uso dos espaços foi sendo redefinido pelos próprios moradores que ao se tornarem
mais velhos e já não realizam mais as mesmas atividades; bem como pelo fato de que “aquelas”
atividades de outros tempos, seja o footing, os jogos de futebol, os bailes nas sedes sociais dos
times, o cinema do padre (Cine Pax), os encontros do Tuca (Turma Unida da Cachoeirinha) não
têm também mais como serem revividos e tampouco espaço para se efetivarem.
O tempo passado é sempre referência para pensar o presente, seja para as indicações das
mudanças físicas ocorridas, seja para dizer de fatos e acontecimentos que não fazem mais parte
da paisagem do bairro, seja para marcar como o tempo passou e como o morador decifrou essa
passagem. O teor de envelhecimento é inscrito nas rememorações dos moradores, e uns mais
outros menos, falam com saudades do tempo e das atividades que já se foram, mas
inevitavelmente falam do passado como forma de referenciar o presente. O que e como foi o
bairro e o seu cotidiano frente ao que é e como se apresenta hoje. O bairro aparece então como
envelhecido na própria fala dos moradores que recorrentemente voltam no tempo para explicar
acontecimentos atuais. A memória figura, então, como elemento fundamental para presentificar o
tempo passado e o espaço que não pode mais configurar-se nem como suporte material de
atividades, usos, práticas que não acontecem mais. Ocorre a rememoração dos espaços de

206
enraizamento, pois com são familiares, são também embebidos de significados relativos às
experiências passadas.
Gosto de tudo aqui. É minha vida. Meus meninos nasceram aqui, estudaram no Mariano de Abreu, batizaram na igreja da Cachoeirinha, casaram na igreja da Cachoeirinha. É minha vida. Não mudo daqui por nada, por dinheiro nenhum. Tenho minha casa, eu costumo brincar com meus filhos dizendo que se o juiz me tomar minha casa por causa de dívida, eu não vendo não. Meus dois filhos moram lá, meus netos moram lá. Não mudo daqui por nada. Só gosto da Cachoeirinha mesmo. Só vou daqui pra Colina66. [...] Lugar aqui é maravilhoso. (Sr Jarbas, 73 anos, 03 mar. 2010) E pra falar a verdade, se você me perguntasse: em Belo Horizonte se você quisesse morar em algum lugar, qual seria? É o Cachoeirinha. Aqui é muito gostoso, muito tranqüilo. [....] Pra sair da Cachoeirnha eu tenho que sair da cidade, não tem um outro bairro assim, Cachoeirinha realmente é o melhor bairro. Meu marido não gostava do Cachoeirinha, mas já incorporou. (Cristina, 47 anos, 20 abr. 2009) Eu me acostumei aqui, gosto daqui, se saísse daqui eu ia sentir falta. Eu ia sentir falta do lugar que eu moro, eu ia sentir falta dos meus vizinhos, eu brinco com eles todo dia, a gente pode gritar, cumprimentar. Eu ia estranhar se fosse pra um bairro até melhor que esse. Eu ia dizer assim: eu era feliz e não sabia É muito gostoso aqui, o que é gostoso que não vou saber explicar, mas que eu gosto, eu gosto do bairro. (Sr. Luiz, 75 anos, 21 mar. 2009)
Os moradores disseram de suas impressões sobre o tempo vivido e o tempo que se vive
atualmente a partir de suas experiências no bairro o que, de certa forma, permite pensar como era
e como é viver em um dos espaços pericentrais da cidade de Belo Horizonte. Isto é, realizar uma
leitura de um bairro pode também tornar possível ler a cidade. Cidade essa que mesmo depois de
um século de existência ainda guarda resquícios de um certo provincianismo, ou melhor, daquela
ambivalência presente em suas primeiras décadas: materializar a modernidade na edificação de
residências, prédios públicos e estabelecimentos comerciais, e impregnar de ares modernos os
modos de viver dos seus moradores. Isso ainda pode, num certo sentido, ser percebido em
pequenos espaços de seu interior. O bairro Cachoeirinha apareceu neste trabalho como um lugar
recoberto de significações referentes a um modo de viver que mais se assemelha à província do
que a metrópole. Mesmo que o passar do tempo tenha propiciado mudanças na paisagem do
bairro, seus moradores, principalmente os mais velhos, não só rememoram as formas como
vivem o cotidiano marcado pelas relações de vizinhança, pelos encontros nas ruas e na Igreja,
como se ainda fosse possível viver ares interioranos na capital do estado de Minas Gerais.
Preservar modos interioranos de viver seria também uma marca do envelhecimento porque os
66 Colina é um cemitério de Belo Horizonte.

207
moradores mais velhos relatam esse modo de viver mais próximo de uma cidade do interior como
um resquício do tempo, como uma forma de presentificar o que já se foi, mencionando que ainda
hoje os vizinhos são muito importantes, ou seja, um discurso nostálgico que tem forte relação
com o passado, com o passar do tempo, com o envelhecer.
É também importante ressaltar algumas falas dos moradores relativas à questão da
violência que, segundo eles, teve repercussões no bairro, mesmo que de forma menos intensa.
Essa referência à violência também torna forte a passagem do tempo e como mesmo assim o
bairro ainda mantém características que seriam mais próximas de um outro momento no tempo
que não o atual. Mesmo dizendo que o bairro sofreu impactos da violência urbana, tratam do
passado como momento de tranquilidade ou enfatizam que ainda é tranqüilo para se viver e que a
violência tal como enunciada nos jornais não ocorre no bairro Cachoeirinha e sim nas áreas
vizinhas que concentram vestígios de uma vila – a Vila dos Aflitos.
Eu gosto mais do meu bairro de quando eu nasci, meu bairro era muito mais gostoso, era uma delícia as ruas, liberdade total, não tinha trânsito não tinha nada, era liberdade total pra andar, pra tudo,e a gente andava tudo sozinha, era muito tranqüilo. Hoje o trânsito que já é violento, é um movimento danado. (D. Amélia, 72 anos, 15 abr. 2009) É um bairro, graças a Deus, bem livre de violência. Eu vou te contar que já teve. [...]. Aconteceu um crime aqui há muitos anos na Simão Tamm que chocou, mas foi gente de fora. Era um tiro, morreu uma pessoa na Simão Tamm, tem muitos anos, eu era solteira ainda. Pra agora assim, tem esses assaltozinho, rouba celular, rouba um carro e deixa no meio do caminho, isso aí é comum em todo lugar, mas nós não temos violência aqui não.(D. Eliana, 78 anos, 21 mar. 2009) Existe uma certa violência assim, aparece às vezes no jornal violência no Cachoeirinha, não é no Cachoeirinha é no Nova Cachoeirinha, que é a parte de lá. Aqui nesse miolinho todo mundo conhece todo mundo, o vizinho vigia o outro.[...] Mas Cachoeirinha é um lugar bom de se viver, ainda em Belo Horizonte, tem violência, tem, mas é muito pequeno. Tem essa favela aqui na frente, mas o pessoal nunca se envolveu com a gente, eram os peões da fábrica que invadiram o terreno, mas nunca tivemos problema nenhum com eles, sempre foram muito bem comportados. É um bairro muito tranqüilo. Bom, minha filha já foi assaltada, mas você vê que não é gente do bairro, é gente de fora. (Cristina, 47 anos, 21 mar. 2009) Eu gosto de morar no bairro Cachoeirinha, é um bairro tranquilo, um bairro de paz. (Sr. Luiz, 75 anos, 21 mar. 2009)
Mesmo os pequenos atos de violência que ocorrem no interior do bairro Cachoeirinha,
várias vezes são delegados aos de “fora”, pessoas que não são do bairro, pois esse é um lugar de
todo o universo da pessoalização visto que “todo mundo conhece todo mundo”, “um vizinho

208
toma conta do outro” tornando-se para os moradores um repositório de um ideário relativo ao
mundo da casa, da vizinhança, da esfera do privado.
O território onde se desdobram e se repetem dia a dia os gestos elementares das artes de ´fazer´ é antes de tudo o espaço doméstico, a casa da gente. De tudo se faz para não ´retirar-se´ dela, porque é o lugar ´em que a gente se sente em paz´. ´Entra-se em casa´, no lugar próprio que, por definição, não poderia ser o lugar de outrem. Aqui todo visitante é um intruso, a menos que tenha sido convidado a entrar. (CERTEAU e GIARD, 2005, p.203)
É como se o bairro figurasse não somente como o lugar onde a casa se localiza, onde a
esfera do privado é praticada, mas como se ele fosse a extensão dessa prática do privado. Não é
só a casa que é descrita como lugar aconchegante, boa para se viver, mas a rua do bairro e os
vizinhos também o são. Assim como a casa é uma das primeiras referências da esfera do privado
em relação aos seus donos, é como se o bairro assim o fosse em relação à cidade, ou seja, a casa
referencia o âmbito do privado em relação ao indivíduo, assim como o bairro e seus moradores
estivessem relacionados com o privatizado em relação à cidade.
As adjetivações contidas na forma como decifram o bairro, descrevem a ligação que têm
com ele e como essa ligação é carregada de elementos que remetem à esfera do privado e da
pessoalidade. Não se pode deixar de mencionar que a alegação de que são os “outros” os
responsáveis e autores da violência é também uma forma de se definir em termos identitários, se
diferenciar do “outro”, apresentar o “outro” como diferente de “nós”, quem é daqui não realiza
esse tipo de ação. Marca-se a diferença e afirma-se a identidade. (SILVA, 2000)
Partindo, então, desse pressuposto do bairro como um universo de pessoalização e da
ideia de Mayol (2005) de que o bairro seria algo próximo da privatização do espaço público, um
lugar de conhecimento e reconhecimento – de pessoas, lugares e trajetos – é que levanto a
suspeita sobre a questão da invisibilidade que recobre o bairro. O que faz parte da esfera da
intimidade, do universo pessoal, não é para ser participado publicamente e fica, então, reservado
ao mundo privado. O bairro Cachoeirinha, tal como descrito por seus moradores, contém um
modo de viver que está relacionado com um universo de pessoalidade, pois carrega marcas da
esfera privada, por isso se assemelha a um modo de viver interiorano, de cidade pequena. Dessa
forma, o desconhecimento de grande parte dos habitantes de Belo Horizonte sobre a existência
e/ou localização do bairro Cachoeirinha pode ser atribuído à ideia que seus moradores expressam

209
de que aquele lugar é, de algum modo, íntimo, privado, é só de quem mora lá67. Os “outros”, os
de “fora” não têm acesso ao imaginário que recobre o bairro e por isso nem sequer sabem da
existência ou se sabem, localizá-lo geograficamente na cidade é que é difícil. Mas em outros
bairros de Belo Horizonte também é possível deparar com esse modo de viver. Então a
especificidade do bairro Cachoeirinha é o fato de estar voltado para “dentro” e a forma como se
apresenta para fora, ou seja quais são os usos e valores que o recobrem.
Em sua análise sobre o bairro Concórdia que também pertence à Regional Nordeste,
Ribeiro (2008) assinala esse aspecto discutido por Mayol (2005) em torno da privatização do
espaço público. A autora destaca a questão do tempo como fundamental para os processos de
apropriação do(s) espaço(s) e familiarização com os demais moradores do Concórdia. O
sentimento de pertencimento e enraizamento ao lugar está relacionado com “[...] o conhecimento
pessoal das residências e dos estabelecimentos comerciais, da convivência prolongada e do
contato diário, que permite romper com o anonimato e conquistar a familiaridade.” (Ribeiro,
2008, p. 45) A análise da autora sobre o bairro como privatização do espaço público não
pressupõe que isso ocorra no Concórdia pelo fato do bairro não se abrir ao exterior e sim como
uma forma de apreender os sentidos que os moradores dali recobrem o espaço que habitam e
onde experimentam o cotidiano na cidade.
Nos bairros Esplanada e Pompéia, localizados na Regional Leste de Belo Horizonte,
segundo Castro (2009), a privatização dos espaços públicos ocorre com a intermediação da Igreja
Católica ao realizar as celebrações religiosas nas ruas e praças dos bairros, uma tradição que
remonta aos tempos coloniais e que resiste até hoje. Outra forma de apropriação dos espaços
públicos que indicam uma privatização, mesmo que provisória da rua, de acordo com a autora é a
realização das “peladas”, da brincadeira com o skate.
Assim como nos bairros Concórdia, Esplanada e Pompéia seus moradores experimentam
a privatização de seus espaços públicos, no Cachoeirinha isso foi importante para pensar a sua
(in)visibilidade na cidade. Essa (in)visibilidade pode estar relacionada não só com o modo de
viver parecido com o de uma cidade pequena onde predominam as relações comunitárias
(TÖNNIES,1947), mas como esse modo de vida que não se mostra para a cidade como um todo.
É como se nos espaços internos do bairro prevalecesse o reconhecimento e o conhecimento, a
67 Relacionado a essa questão faço aqui referência a um pergunta que praticamente todos os moradores entrevistados me colocaram: como e por que você decidiu estudar esse bairro se você não é daqui?

210
prática de tornar privados os espaços públicos como as calçadas, por exemplo. Os moradores
adotam comportamentos mais próximos das interações comunitárias, de práticas relativas à esfera
privada. Já em relação ao exterior prevalece o desconhecimento, o bairro apresenta ares de cidade
grande, o movimento dos carros, o trânsito de pessoas, a visita aos bairros vizinhos, à esfera
pública é que aparece fazendo com que as relações societárias prevaleçam. Daí pensar que sua
(in)visibilidade tem até ares modernos visto que na cidade grande e moderna frente à quantidade
de estímulos nervosos, no intuito de preservar sua individualidade, as pessoas adotam a
indiferença, o anonimato e a atitude de reserva (SIMMEL, 1987). Os indivíduos assim se
mostram, se apresentam na cidade grande. Os moradores do Cachoeirinha assim o fazem em
relação ao restante da cidade, se apresentam como os anônimos da cidade grande, da multidão,
mas no seu interior reclamam para si a característica do conhecimento mútuo frente aos que são
de lá. Para Belo Horizonte e seus habitantes o bairro Cachoeirinha é quase anônimo, (in)visível,
mas para seus moradores ele é o reduto onde a vida privada extrapola os limites da residência e
onde preservam seu modo de viver provinciano na metrópole, onde exercitam a prática do
privado além dos muros de suas casas.
Os relatos dos moradores descrevem o bairro como eles o percebem e essa visão é
carregada de uma ideia de bairro ideal assim, o definem como o melhor lugar da cidade para se
viver d enfatizam, a falta que sentiriam dali caso precisassem se mudar. É como se o bairro fosse
um lugar especial da cidade de onde seus moradores não quisessem sair e, mais, é como se
pudessem se preservar da indiferença e do movimento da cidade não se mostrando, se guardando
só para os seus. É como se quisessem envelhecer com tranqüilidade e para tanto tornam-se
invisíveis.
O bairro Andaraí, localizado na Grande Tijuca no Rio de Janeiro, pode ser tomado aqui
como parâmetro para pensar a (in)visibilidade do Cachoeirinha. Com uma raiz operária, visto ter
abrigado várias fábricas no início do século XX, o Andaraí cristalizou, mesmo com as alterações
ao longo do tempo, uma identidade de bairro operário. (LEITE e FABIÃO, 2003). Assim como
os bairros vizinhos, Tijuca, Grajaú e Vila Isabel, o Andaraí hoje é habitado por estratos médios,
mas os três primeiros são considerados bairros “nobres” com predominância de imóveis
residenciais, enquanto o Andaraí ficou preso à sua imagem antiga de bairro operário. Como no
presente a visibilidade do bairro ocorre em relação às favelas do seu entorno, sua condição de
subalterno na região da Grande Tijuca permanece e ainda se alia a outros estigmas como a

211
violência, a identificação do bairro com a favela do Morro do Andaraí, por exemplo. Assim, seus
moradores fazem referência a essa imagem negativa que foi associada ao bairro, inclusive com
reforço da mídia que reitera os acontecimentos violentos localizados no Morro do Andaraí, que
engloba parte do Grajaú, mas esse último tem uma imagem de moderno e bem servido de
equipamentos urbanos não sendo contaminado com os aspectos negativos do vizinho. Desse
modo, foi comum, segundo Leite e Fabião (2003) ouvir os moradores do Andaraí fazerem
referência aos bairros vizinhos (Grajaú, Tijuca, Vila Isabel) como sendo seus locais de moradia.
“Tudo isso levou [...] a sustentar que o bairro do Andaraí vem, progressiva e acentuadamente, se
tornando ´invisível´”. (LEITE e FABIÃO, 2003, p. 72)
A questão da invisibilidade no bairro carioca do Andaraí, diferentemente do Cachoeirinha,
diz respeito à associação do bairro, ao longo do tempo, com uma imagem negativa vinculada ao
seu passado operário e à existência, atualmente, de favelas que compõem o complexo do Morro
do Andaraí. Mesmo que o conjunto de favelas abarque bairros vizinhos, como é o caso do Grajaú,
os aspectos negativos relativos à proximidade das favelas impregnaram o bairro com imagens da
violência. Dessa forma, seus moradores, evitando externalizar que habitam uma região de
“perigo”, acabam por mencionar que residem nos bairros vizinhos que fazem fronteira com o
Andaraí, conferindo-lhe, então, um tom de invisibilidade na cidade.
O Cachoeirinha, diferentemente, não apresenta esse conteúdo de imagens negativas
vinculadas ao bairro em relação ao seu aspecto de (in)visibilidade, pois mesmo tendo sido
caracterizado à época do seu surgimento como bairro operário e hoje se configure como um
bairro popular68, seus moradores não fazem referência a um conjunto de imagens negativas para
se referir ao seu local de moradia. Identificam tanto interna quanto externamente que seus
endereços residenciais são no Cachoeirinha e não em um dos bairros de sua vizinhança, ou seja,
reiteram a sua experiência de pertencimento àquele lugar como sendo algo positivo, visto que nos
seus relatos, vários deles afirmam seu gosto de morar no bairro e seu desejo de nunca sair dele.
Eu amo o bairro, aqui é perto do centro, qualquer ônibus eu posso pegar. É muito central, dá pra ir a pé para o centro é muito pertinho. (Paula, 26 anos, 31 maio 2009) Não existe um bairro melhor que o Cachoeirinha pra morar. (Sr. Jarbas, 73 anos, 03 mar. 2010)
68 Essa classificação do Cachoeirinha como popular será apresentada na próxima página.

212
Talvez uma descrição mais precisa do bairro fosse uma referência ao fato de não ter
visibilidade. Isso pode parecer apenas um jogo de palavras, mas o que significa é mais, pois não
ter visibilidade não é simplesmente um sinônimo de invisível, mas contém a impressão de que
não há nenhum movimento no sentido de se apresentar diferentemente ao “outro”, aos de “fora”,
ou seja, não há intenção de ser visto, percebido de alguma forma pelos demais habitantes da
cidade, o que o torna um bairro que não oferece atrativos aos que não são de lá e que
desconhecem a forma como o cotidiano ali é tecido. Dito de outra forma, os moradores do
Cachoeirinha, numa atitude de preservar o anonimato, mantêm a atitude de reserva em relação ao
restante da cidade, como forma de não serem vistos, percebidos e assim manterem o modo como
vivem preservado e mantido frente às mudanças. É como se fosse possível ser moderno –
reservado, anônimo – para fora, mas tradicional no seu interior – com a preservação de um modo
provinciano de viver o cotidiano.
De acordo com Castro (2009), os moradores do Esplanada e Pompéia também apresentam
essa característica de adotar uma atitude blasé e de reserva em ambientes externos aos bairros
onde residem, mas no interior deles as formas de interação são marcadas pelas relações face-a-
face, pois segundo a autora, caso se comportassem diferentemente nos seus bairros, poderiam,
inclusive, ser mal interpretados, visto que negariam a dinâmica social ali existente.
Outro ponto relativo à não visibilidade do bairro pode ser identificado a partir do tipo de
mudanças que nele ocorreram. Como já foi dito, as residências do Cachoeirinha são em sua
maioria unifamiliares e de arquitetura simples, o que coaduna com a caracterização do bairro
como sendo popular. Essa caracterização foi realizada pela Fundação Instituto de Pesquisas
Econômicas, Administrativas e Contábeis de Minas Gerais – Ipead – a partir dos dados do censo
de 2000 disponibilizados por setor censitário e de acordo com a renda mensal do chefe de
domicílio em salários mínimos. Os bairros de Belo Horizonte foram caracterizados em quatro
tipos:
• popular: até 5 salários mínimos;
• médio: igual ou maior do que 5 salários mínimos e menor do que 8,5 salários mínimos;
• alto: igual ou maior do que 8,5 salários mínimos e menor do que14,5 salários mínimos;
• luxo: igual ou superior a 14, 5 salários mínimos.

213
O bairro Cachoeirinha caracteriza-se como popular, assim como grande parte dos bairros
da cidade, mas diferentemente de seus dois vizinhos mais próximos: Concórdia e Renascença que
são considerados médios. Como bairro popular as mudanças mais significativas ocorreram no
entorno do Cachoeirinha, as grandes avenidas e suas obras de revitalização e ampliação: a linha
verde na Avenida Cristiano Machado e a ampliação da Avenida Antônio Carlos. Os
empreendimentos comerciais como o Minas Shopping e o Shopping D´el Rey nos bairros
vizinhos. Tais mudanças no seu entorno e uma das características que o apresentam como um
bairro pericentral – sua proximidade do centro da cidade – não serviram como atrativos para a
mudança da paisagem interna ao bairro, já que seu entorno sofreu alterações com obras de grande
porte, mas seu interior permanece, ou pelo menos, tenta permanecer como no passado. Alguns
moradores são enfáticos em dizer que nenhum tipo de investimento, principalmente, no ramo
comercial, tem bons resultados no bairro.
Cachoeirinha é um bairro que nada vai pra frente, mas é um bairro super aconchegante. Todo mundo conhece todo mundo. É um bairro super tranqüilo com pouquíssima incidência de algum crime, de coisas bárbaras. Nada vai pra frente. Monta uma pizzaria dura um ano arrastado, monta uma padaria legal, um açougue e não dá. Não tem opções de nada aqui no bairro. Tem lá na Clara Nunes que já não é Cachoeirinha, é Renascença, mas na Cachoeirinha nada nunca foi pra frente. [...] o bar do careca é a única exceção a regra. (Cristina, 47 anos, 20 abr. 2009) Se o Bar do Careca dependesse da Cachoeirinha ele já tinha fechado. [...] Uma cerveja no bar alo deve ser R$ 2,20 e no Careca deve ser R$3,50 ou R$4,00. O Careca já ganhou há uns dois anos atrás o “Comida de Buteco”. (Sr. Jarbas, 73 anos, 03 mar. 2010) Se tivesse um teatro aqui na Cachoeirinha o dono ia quebrar, por isso que não tem, a falta de espectadores. (Sr. Luiz, 75 anos, 21 mar. 2009)
É como se o bairro resistisse às mudanças. Os moradores não aderem à novidade que nele
se instala, seja o bar, a pizzaria, mas ao mesmo tempo esse bar e agora a pizzaria pertencente a
uma rede da cidade, existem mais para aqueles que estão de passagem pelo bairro e não para seu
moradores. Comerciantes tradicionais resistem, como é o caso da loja do “Alvim” e o Bar do
Careca na área entre a Avenida Bernardo Vasconcelos e a rua Itapetinga. Já o Bar e Restaurante
Diplomata, na Avenida Cachoeirinha, endereço desde os anos 1960, localiza-se em uma área que
já é divisa com o bairro vizinho chamado Santa Cruz. Mas é como se as mudanças não os
alcançassem diretamente, no sentido de que “novidades” em termos, por exemplo, de
estabelecimentos comerciais, não fossem atrativas para o bairro, ou melhor, o bairro não é

214
atrativo para esse tipo de negócio. Assim, dá a impressão de que as mudanças não o alcançam,
não o tomam como alvo direto.
O Cachoeirinha não apresenta atrativos para visitas ao seu interior, bem como não se
constitui como atrativo, por exemplo, para novos empreendimentos imobiliários, mesmo que
esses tivessem que observar a altimetria permitida. O bairro Santa Mônica, por exemplo, também
classificado como popular pelo Ipead, localizado na Regional Norte de Belo Horizonte, partilha
com o Cachoeirinha a proximidade da Avenida Antônio Carlos como forma de acesso ao centro
da cidade. O que pode ser assinalado, em linhas gerais, como uma das diferenças atuais entre os
dois bairros, é o fato de que o Santa Mônica já é atrativo para os empreendimentos imobiliários
voltados para a classe média. O presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do
Estado de Minas Gerais, Paulo Tavares, assinalou que um dos fatores que têm atraído as
construtoras para áreas fora do eixo centro-sul69 é a inexistência de espaços e acrescenta que face
às modificações que acabaram de ser definidas pelo Plano Diretor70 da cidade, a opção é construir
imóveis de alto padrão de acabamento em outras regiões da cidade que não apresentam ainda
essas opções. Os bairros Santa Tereza (Regional Leste) e Prado (Regional Oeste) também já
atraem os empreendimentos com residências de alto padrão, face a saturação e alto custo dos
imóveis no eixo centro-sul. Assim, morar em apartamentos amplos, com alto padrão de
acabamento, com serviços de segurança, área de lazer completa também é possível fora dos
limites da Avenida do Contorno. Na Regional Nordeste, onde localiza-se o Cachoeirinha, os
bairros que apresentam esse tipo de atrativo são o Palmares e o Silveira71. Esse tipo de mudança
não alcançou o Cachoeirinha, o que contribui para que sua classificação como popular seja
mantida e, assim, se volta ainda mais para o seu interior, mesmo que seus moradores se dirijam
ao exterior em busca de serviços e produtos.
Em relação à estagnação do bairro, vale retomar as considerações de Ribeiro (2008) sobre
o Concórdia vizinho ao Cachoeirinha. A autora coloca que os moradores do Concórdia também
assinalam que as mudanças ali ocorridas não seriam significativas, ao dizerem que o bairro não
69 Região nobre de Belo Horizonte que corresponde, em parte, ao que foi definido como zona urbana no plano de Aarão Reis e que ficava circunscrita aos limites da Avenida do Contorno. Hoje esses limites se ampliaram, mas mesmo assim é uma região que apresenta saturação no que se refere às possibilidade de construção de novos empreendimentos face aos poucos espaços disponíveis. 70 Entre as mudanças ressalta-se a modificação nas formas de construção em bairros mais populosos do eixo centro-sul, por exemplo. 71 Informações obtidas no Caderno Habitar do Jornal Pampulha que tem publicação semanal em Belo Horizonte (14 a 20 de novembro de 2009 e 13 a 19 de março de 2010).

215
foi para frente assim como alguns de seus vizinhos. Eles fazem esse tipo de referência ao bairro
onde moram por realizarem comparações com bairros vizinhos72 e, segundo Ribeiro (2008, p. 57)
porque houve a “[...] permanência das famílias que passaram a residir nesse espaço logo após sua
fundação.” Isso significa que famílias de poder aquisitivo menor do que os moradores dos bairros
vizinhos, em especial, Nova Floresta, Renascença e Cidade Nova, conquistaram o direito de se
manterem em uma região pericentral, mas ao mesmo tempo construíram uma percepção do
Concórdia como bairro estigmatizado em relação aos seus espaços circunvizinhos. O estigma tem
relação com a presença da favela Tiradentes que segundo os moradores do Concórdia, acaba por
generalizar uma visão daqueles que não residem no bairro, de que o bairro Concórdia é lugar de
pobre. As imagens de que o bairro “Concórdia não muda”, “não vai para frente” são atribuídas
aos não moradores do bairro, visto que Ribeiro (2008) assinala que nenhum entrevistado assumiu
essa percepção do bairro.
Os moradores do Cachoeirinha, diferentemente, aludem à estagnação do bairro, ao seu
envelhecimento não como um aspecto estritamente negativo que faz com que o bairro apareça
aos “de fora” como parado no tempo. As referências aos moradores de outros bairros da região,
não dizem respeito a uma visão negativa que possam ter do bairro, eles os mencionam para falar
de aspectos negativos como a presença de atos de violência, bem como para dizer da
disponibilidade de serviços e estabelecimentos comerciais dos bairros vizinhos. Nesse sentido, os
moradores do Cachoeirinha tornam-se (in)visíveis aos olhos daqueles que são de fora e, assim,
definem-se a partir da forma como vivem no interior do bairro, nas relações que estabelecem com
seus vizinhos, com seus familiares, com as pessoas que fazem parte das relações de afeto. São
visíveis para os “seus outros” que se definem como os moradores do bairro e não para os “outros”
de fora. A visibilidade depende da alteridade e essa é experimentada de forma mais evidente
pelos moradores do Cachoeirinha nas interações que realizam no interior do bairro.
A condição de visibilidade na cidade tem forte relação com o reconhecimento da
identidade tanto pelo espelhamento frente aos seus iguais quanto pela distinção do outro, segundo
Ribeiro (2009). Assim, aquilo que pode nos tornar visíveis pode, também, ao mesmo tempo, nos
72 Interessante observar que as comparações são com os bairros que os moradores consideram que “foram para frente” como o Nova Floresta e o Renascença, por exemplo. O bairro Cachoeirinha não aparece nas comparações o que sugere como pista o fato dos moradores do Concórdia não considerarem o Cachoeirinha um bairro que “foi para frente”. Pela classificação da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, Administrativas e Contábeis de Minas Gerias – Ipead, o Concórdia é um bairro médio, sendo assim, seria justificável não realizar comparações com o Cachoeirinha, seu vizinho, em termos de progresso e modernização, visto que ele é classificado como popular.

216
tornar invisíveis aos olhos do outro. Por isso a autora menciona que a condição de visibilidade
depende da alteridade: o eu e o outro não existem sem se referenciarem. Partindo desse
pressuposto é possível pensar o fato dos moradores do Cachoeirinha não se tornarem visíveis aos
“outros” que são de fora do bairro como uma estratégia identitária e de apresentação no cenário
urbano, mesmo que inconsciente. Eles tomam como referência para a experiência da alteridade os
“seus outros” que habitam o bairro e neles se espelham para se distinguirem daqueles que são de
fora. Dessa forma, ao mesmo tempo em que se tornam visíveis para o interior do bairro, tornam-
se (in)visíveis para o exterior. No cenário que lhes é familiar os moradores do Cachoeirinha e o
próprio bairro são visíveis, mas ao se descolarem desse universo de familiaridade a
(in)visibilidade é que se faz presente.
Sobre a relação do envelhecimento do bairro e sua (in)visibilidade, cabe salientar que essa
ideia de guardar-se no seu interior para ali tornar-se visível e não apresentar-se ao exterior como
forma de resguardar, não só a memória de um outro tempo, mas de efetivar práticas e relações
desse outro tempo no cotidiano, torna possível pensar que o próprio bairro tem como elemento
identitário uma forma de envelhecer que implica em tornar-se visível somente para os seus. A
visibilidade para o exterior não é perceptível no bairro como uma necessidade dos seus
moradores apresentarem-se aos outros da metrópole e indicar seus atrativos, mas antes disso é
uma forma de resistir às mudanças externas e a possibilidade que representam de romper com as
relações de vizinhança, de amizade e com os laços de pertencimento ao lugar.
As mudanças que ocorreram em Belo Horizonte, impactaram de forma mais intensa o
entorno do bairro, mas alcançaram lentamente o Cachoeirinha e dessa forma ele se mantém como
um reduto de provincianismo, ao mesmo tempo que sua demanda por serviços bancários e um
comércio mais variado, por exemplo, seja pertinente com o estilo de vida em uma cidade grande.
Como assinala Costa (2008) o bairro não se configura somente como lugar de práticas sociais,
mas também é um referente de representações identitárias que são resultado das interseções entre
as dinâmicas da cidade e as dinâmicas locais. Frente às dinâmicas exógenas o bairro reinterpreta,
re-significa seu cotidiano, elegendo o que mantém e o que exclui como características do
processo de interseção com a cidade. Isso sugere uma reflexão em torno da hibridização nos
termos propostos por Canclini (2003), ao analisar a cultura latino americana na
contemporaneidade. O híbrido, tomado de empréstimo da biologia, indica a constituição de algo
novo a partir da combinação de práticas discretas que, segundo o autor, não são puras e existem

217
separadamente. Sua proposta de análise recoloca questões relativas à modernidade e como esse
período da história da humanidade lidou/lida com a tradição que, por vezes, tentou excluir ou
superar. O híbrido é útil, entre outras reflexões, para pensar o quanto o moderno além de buscar
excluir ou superar, se misturou com a tradição. Essa “mistura” que pode ser pensada como
exemplo do híbrido é que trago aqui como forma de interromper momentaneamente a reflexão
em torno do Cachoeirinha. Nesse lugar da cidade a tradição de modos de viver o cotidiano
encontra repercussão entre seus moradores, ao mesmo tempo em que eles usufruem das efetivas
mudanças propiciadas pela modernização de Belo Horizonte: as novas vias de tráfego, o
encerramento do serviço de bondes, a nova fábrica têxtil, os novos bairros do entorno, as
mudanças dos párocos da Igreja Católica, das festas religiosas e dos seus ritmos, das demais
atividades culturais como os jogos de futebol, o footing, o cinema e o teatro no Cine Pax. As
novas dinâmicas internas foram impregnadas dos impactos que as mudanças externas acarretaram
ao bairro, constituindo novas configurações morfológicas, mas essas conseguiram manter
características de outros tempos conferindo um ritmo diferenciado no cotidiano de quem reside
nessa parte da cidade. Esse ritmo diferenciado diz respeito ao quanto o Cachoeirinha absorveu da
modernização da cidade e como essa absorção não implicou em romper ou superar com as
tradições do lugar, mas conferir-lhes novas formas de existência que tornam claro o embate e a
ambiguidade do moderno, mas não como forma de extinção de modos de viver e sim como
possibilidade de resistência de modos de viver.
É como se no Cachoeirinha, os moradores não estivessem afeitos a abrir mão de
elementos identitários que os conforma em moldes de vida tradicionais, assim ainda se pautam
por essa referência para se identificarem perante os outros, em especial, os demais residentes do
bairro, como se entre eles fosse possível não se sujeitar à urbanidade prevalecente na cidade
como um todo. Dependendo da situação os indivíduos se valem de um dos elementos compósitos
de suas identidades para alcançar determinados efeitos. As identidades podem, então, ser
compreendidas como mediadoras entre a estrutura social e a ação dos sujeitos, isto é, elas são
feitas e refeitas de acordo com as mudanças sociais e se pautam por uma constante interiorização
de pulsões e constrangimentos. Não se esquivando de ressaltar seu caráter relacional e interativo,
Fortuna (1997) assinala que com a crescente complexificação das sociedades contemporâneas, a
identidade moderna apresenta-se como contingente e remete os indivíduos a uma estrutura
pessoal, afetiva e cognitiva que é por eles constantemente (re)construída. Sobre essa

218
(re)construção das identidades, o autor aponta que está implícito aí um processo dinâmico de
confronto constante entre o velho e o novo e em torno deste confronto afirma que as identidades
estão sujeitas a um processo de destruição criadora.73 Essa destruição criadora das identidades diz
respeito a ação contínua de reelaboração dos critérios de auto-validação pública dos sujeitos no
cotidiano, bem como das transformações econômicas, sociais, políticas, científicas e culturais que
caracterizam os cenários citadinos contemporâneos e, desta forma, propiciam um constante
reajustamento das matrizes identitárias dos indivíduos. È no embate entre o novo e o velho, entre
o tradicional e o moderno que se constitui a particularidade do Cachoeirinha, o bairro como
expressão do híbrido, da fissura do urbano. Transpondo a ideia de destradicionalização de
Fortuna (2001) da cidade para o bairro é como se no Cachoeirinha houvesse uma resistência às
inovações da cidade, mas ao mesmo tempo reconhece-se que para fora do bairro não é o modo de
vida, ainda provinciano, que deve ser apresentado como característica local, mas classificações
relativas à presença do urbano e do moderno. Como assinala Fortuna (2001), não há o absoluto
da tradição nem da inovação.
73 Fortuna (1994) assinala que o conceito de destruição criadora é utilizado de forma análoga a que Schumpeter se vale para analisar o processo evolutivo do capitalismo.

219
7 CONCLUSÃO
O ponto de partida foi pensar Belo Horizonte a partir de sua urbanidade como uma marca
impressa em seu projeto, como característica dos modos de viver em seus espaços públicos e
privados, como expressão de tensões e conflitos em diferentes momentos de sua história e como
elemento importante na constituição de sua(s) identidade(s). Diante da amplitude do cenário
dessa cidade me indaguei como alcançá-la. Uma primeira ideia foi perscrutar alguns de seus
lugares para identificar o quanto de urbano eles continham, mas ainda me pareceu amplo demais.
Fixando o olhar e o pensamento em lugares da cidade e como eles poderiam revelar
particularidades de Belo Horizonte, a ideia de estudar um de seus bairros me instigou e também
apresentou-se como um objeto de pesquisa de amplitude menor. Mas daí teve origem uma nova
indagação: como definir qual de seus bairros investigar. A definição do Cachoeirinha aconteceu a
partir do exercício de rememorar, pois foi aguçando lembranças familiares que me deparei com o
fato de como as fábricas têxteis estavam presentes nesse ato de remontar algumas histórias.
Recordei das várias visitas à cidade dos meus pais onde esteve em funcionamento uma dessas
fábricas, como vários de seus parentes e amigos lá trabalharam, como continuaram no ramo têxtil
mesmo ao mudarem-se para Belo Horizonte. A mudança para a capital, para muitos deles,
significou continuar o ofício no ramo têxtil ou algo similar, ou seja, a fábrica de tecidos
continuava a fazer parte de suas vidas. Foi pensando nessas lembranças, nos bairros onde se
instalavam em Belo Horizonte é que alcancei o Cachoeirinha.
Deter meu olhar para pensar a cidade a partir de um de seus lugares, tornou o olhar mais
preciso, pois me dediquei a analisar algumas de suas características como possibilidade de
identificar os pontos de interseção da sua história com a da cidade, bem como identificar suas
particularidades, visto que sua existência não se define apenas pelo entrecruzamento de dados
históricos relativos à Belo Horizonte, mas também como esses dados foram vividos e re-
significados pelos moradores do bairro. Alcançar a cidade por meio do bairro, não significou
somente estar atenta aos aspectos físicos e morfológicos do Cachoeirinha e como eles se
constituíram e modificaram ao longo do tempo, mas significou uma aproximação com seus
moradores. Assim, alcançar a cidade passou a significar, neste trabalho, estar em contato com os
moradores de um dos seus lugares que abrigou uma fábrica têxtil por mais de cinquenta anos e

220
que muitos dos seus moradores a tiveram como local de trabalho e, hoje, mesmo que não esteja
mais em funcionamento é, no mínimo, referência de localização espacial, bem como um fato que
se insinua nas lembranças de seus ex-funcionários e moradores do bairro para enaltecê-la ou para
acusá-la de não permitir o desenvolvimento do Cachoeirinha.
Se o Cachoeirinha definiu-se como objeto empírico deste trabalho por meio de
lembranças, essas, por sua vez, tornaram-se o meio pelo qual passei a me ater aos relatos dos
moradores do bairro. Isso significa dizer que assim como a memória foi o que me possibilitou
remontar traços de histórias passadas, foi exatamente a memória que se definiu não só como um
conceito central deste trabalho, mas também como um instrumento metodológico que viabilizou
resgatar lembranças dos moradores do Cachoeirinha. Esse resgate de lembranças é que permitiu
meu acesso ao universo de significações que os sujeitos desta pesquisa atribuem ao lugar onde
vivem em Belo Horizonte, foram essas lembranças que me permitiram decifrar os sentidos sobre
a experiência de viver na metrópole, mas ter um cotidiano que não é marcado ostensivamente
pela urbanidade e suas características, como o trânsito intenso, o volume de pedestres, o comércio
e os serviços disponíveis em abundância. Ou seja, houve e há entrecruzamentos de tempos entre a
cidade e o bairro, entretanto esse último não se configura como um espelhamento das mudanças
da cidade em toda sua intensidade, por isso seus moradores ainda preservam, como
particularidade do Cachoeirinha, modos de viver que não são próprios de um ambiente citadino
urbano. Assim, pode-se dizer que os espaços da cidade não são um continuum do urbano, mas
alguns deles, por ainda guardarem resquícios de outros tempos, são reveladores de que além da
interseção, os espaços podem manter-se como “pequenos mundos” que estão próximos, mas não
necessariamente passíveis de interpenetração.
A partir dessa percepção de que o Cachoeirinha pode ser a expressão da descontinuidade
do urbano, ou das fissuras do urbano no cenário belo-horizontino, mais uma indagação se
constituiu. Se os moradores do Cachoeirinha preservam modos de viver na metrópole pautados
pela prevalência das relações comunitárias, experimentadas pelos laços com a vizinhança e com
os familiares, podem assim, ser definidos como indivíduos que têm um comportamento que não
se pauta pelas atitudes de reserva e anonimato apontadas por Simmel (1987) como características
do indivíduo que vive em um ambiente urbano. Mas esse comportamento baseado nas relações de
afeto e de amizade não é externado para o restante da cidade, ou seja, os moradores do
Cachoeirinha adotam posturas de indiferença em relação àqueles que não são moradores do

221
bairro ou que não são assim reconhecidos. Dessa maneira, a forma de comportamento no interior
do bairro faz com que isso seja uma de suas peculiaridades. Na tentativa de decifrar essa
particularidade dos seus moradores percebi que esse comportamento no interior do bairro junto
aqueles que são reconhecidos como pertencentes àquela localidade além de apontar para uma de
suas diferenças em relação a outros bairros de Belo Horizonte, possibilitava uma leitura da
imagem do Cachoeirinha para o seu exterior. Essa imagem foi delineando-se cada vez com mais
força e se traduziu como invisibilidade que decifrei não somente como o fato do bairro ser
invisível para a cidade, mas também como o fato de não ter visibilidade. É como se o bairro se
voltasse para o seu interior e não tivesse – ou pelo menos não considerasse – a possibilidade de
apresentar suas características tanto físicas quanto sociais aos de “fora”. Seus moradores vivem
como que encapsulados em um pequeno mundo da cidade, como se estivessem protegidos por
uma concha e ouvissem sons ao fundo: “ah, deve ser a Avenida Antônio Carlos”, “não, acho que
esse barulho foi da Avenida Bernardo Vasconcelos”, enfim, se preservam do mundo exterior e
assim preservam um modo de viver. O bairro modificou-se lentamente, seus moradores e
edifícios envelheceram e guardaram não só lembranças, mas também experiências de decifrar e
significar o lugar em que se localizam na cidade, baseadas no conhecimento e reconhecimento do
outro que vive no bairro, nos trajetos pelas calçadas, esquinas e ladeiras do Cachoeirinha, ou
seja, nas práticas espaciais realizadas pelos moradores nos ambientes e espaços que lhes são
familiares. Interpretei isso como uma estratégia identitária, mesmo que adotada
inconscientemente, pois o não se apresentar, o não ter visibilidade, o ser invisível na cidade, é
também uma forma de se definir, de se identificar, de mostrar-se timidamente aos outros, de se
resguardar dos outros para preservar o seu modo de viver. A alteridade é experimentada pela não
apresentação, pela (in)visibilidade. Essa forma de se resguardar do(s) outro(s) não residentes no
bairro pareceu-me uma resistência à velocidade das mudanças externas e um receio de estranhar
o próprio espaço de localização na cidade, um receio de que ele se torne desconhecido. De acordo
com Carlos (2001, p. 329)
Diante de uma metrópole em que a morfologia urbana muda e se transforma de modo muito rápido, os referenciais dos habitantes, produzidos como condição e produto da prática espacial modificam-se em uma outra velocidade, produzindo uma sensação do desconhecido, do não-identificado.

222
É importante, então, nesse momento, apresentar algumas interseções e entrecruzamentos
da cidade com o bairro para ressaltar que uma das fissuras do urbano em Belo Horizonte pode ser
encontrada no Cachoeirinha que, como parte da cidade, tem seu texto escrito pela prática dos seus
moradores que difere da prática de tantos outros, como se fosse um pequeno mundo dentro da
metrópole. Frente à velocidade das mudanças na morfologia urbana, o ritmo que os indivíduos do
Cachoeirinha vivem o seu cotidiano é diferente, mais lento. Isso conferiu particularidades ao
bairro, permitindo que ele fosse caracterizado como um bairro quase desconhecido em Belo
Horizonte, um desconhecimento para os não residentes, os de fora, mas percebido contrariamente
pelos residentes.
A invisibilidade do Cachoeirinha, nesse momento de reflexões finais, parece poder se
articular com uma das discussões que perpassou este trabalho: a ambivalência do moderno. O que
ainda pode ser discutido é se a manutenção de certo modo de viver pode também ser lida como
uma expressão dessa ambivalência, no sentido que indica, de alguma forma, a manutenção da
tradição. Ao longo do tempo, a ideia de moderno trouxe para o debate a questão da permanência
ou supressão da tradição. O que se percebe é que mesmo a história de Belo Horizonte tendo sido
marcada por essa ambivalência não é possível prosseguir a reflexão pensando somente na
viabilidade de apenas duas saídas frente ao dilema de manter ou suprimir a tradição. Pensar
também os entrecruzamentos entre as duas instâncias – permanência e supressão – é mais
pertinente e condizente com a história de Belo Horizonte e da própria relação do bairro com a
cidade. Sendo assim, é possível permanecer com alguns traços e suprimir outros, romper ou
permanecer definitivamente, permanecer rompendo ao longo do tempo, romper e criar o novo,
permanecer, mas conferir um novo conteúdo à permanência. Isso também remete à ideia do
híbrido, proposta por Canclini (2003), que é fruto de intercâmbios e cruzamentos.
Considerando que as possibilidades do embate entre tradição e moderno são mais amplas,
o que se pode enunciar é que os modos de viver dos moradores do Cachoeirinha podem ser
apreendidos tanto como uma permanência frente à tentativa de supressão da forma provinciana de
viver o cotidiano quanto uma forma estratégica e, porque não dizer, moderna, de rompimento, de
distanciamento, de diferenciação em relação à cidade como um todo no intuito de manter uma
das características de sua identidade de bairro. Vale ressaltar, sobre essa questão da identidade, o
que Costa (2002) assinala como ambivalência de conotação valorativa constante. Essa
ambivalência presente nas reflexões sobre identidade na contemporaneidade é originária, segundo

223
o autor, do entrelaçamento das dinâmicas de sentido positivo ou negativo que revelam o
freqüente entrelaçamento de dinâmicas tanto de ostentação como de ocultação, ou seja, o caráter
sempre situacional, interativo, contextualizado e estratégico no seu acionamento. Costa (2002)
propõe o que ele denomina como um esboço de modelo teórico de caráter típico-ideal, para
demonstrar o entrelaçamento da coexistência e sobreposição das formas de manifestação das
identidades culturais em contextos urbanos globalizados. Entre eles, é importante mencionar aqui
aquele denominado identidades experimentadas ou vividas: são relativas às representações
cognitivas e aos sentimentos de pertencimento, referentes a coletivos (categoriais, institucionais,
grupais, territoriais ou outros) partilhado por um conjunto de pessoas e que emergem de suas
experiências de vida e situações de existência social. Essa titpificação permite pensar a identidade
do Cachoeirinha a partir das experiências partilhadas por seus moradores que produzem
representações sobre os tempos e os espaços de convívio com o interior do bairro e com a cidade
definida. Revelam também suas formas de pertencimento ao lugar onde residem. Essas
experiências denotam as práticas espaciais de sentidos referentes às vivências específicas no
bairro, mas também aos acontecimentos relativos à cidade.
A ambivalência, então, está presente no bairro, permanece, mas com novos conteúdos,
visto que o tempo não é mais aquele de apresentar as diferenças a partir do que se constituía
como específico de um bairro situado fora dos limites da área central de Belo Horizonte, ou seja,
pela carência de serviços de infra-estrutura básica. Hoje, os moradores do Cachoeirinha nem
tanto se “apresentam” ao exterior, mas o novo conteúdo dessa maneira de se posicionar na cidade
em relação aos outros e de acionar conteúdos identitários é que indica a capacidade dos
indivíduos de tecer símbolos, de perceber a sua situação no lugar que ocupam e de interpretá-lo
no presente as experiências do passado que indicam possibilidades para o futuro. Os novos
conteúdos delineiam-se pelo “velho” e antigo modo de viver em comunidade, conjugando as
relações de vizinhança com as relações familiares, experimentando os velhos trajetos realizados
no bairro, mas percebendo-os como distintos, porque tanto o espaço quanto o tempo já deixaram
suas marcas impressas e, diante desse “novo-velho” cenário, os moradores re-significam suas
experiências passadas, se apresentam no presente e se relacionam com a cidade tanto a
observando a partir de seu “pequeno mundo” que os resguarda dos grandes impactos das
transformações morfológicas do entorno, quanto da indiferença dos habitantes de uma cidade
grande. Eles não são simplesmente os moradores do Cachoeirinha, eles são vários e se debatem

224
cotidianamente com o viver em um bairro situado na cidade grande e como essa última nele se
faz presente. Além disso, o embate diz respeito também à forma como o bairro se “ausenta” da
cidade, se faz invisível, como se fosse para se proteger, para permanecer, mas, ao mesmo tempo,
isso também indica ruptura com o que é considerado característico para o cenário urbano. Nesse
“pequeno mundo” do Cachoeirinha, os moradores permanecem rompendo com traços da
urbanidade que insistem em não adotar em suas práticas espaciais no interior do bairro e é assim
que se “apresentam” para os seus vizinhos, para os íntimos, para aquele universo que, segundo
Mayol (2005), indica a privatização do público, mas quando necessário se apresentar aos outros
que não residem no bairro adotam a indiferença, a reserva é o momento de indicar que a
urbanidade também está presente naquele cotidiano, é o momento de acionar elementos que
compõem a identidade do bairro que são diferentes daqueles utilizados no seu interior. Para além
do embate entre tradição e moderno, o bairro apresenta-se como uma fissura do urbano que
permite a permanência da tradição, mas também a passagem dos traços do urbano que marcam
Belo Horizonte.
Esse cenário é, então, composto por espaços que não se traduzem como eminentemente
tradicionais ou exclusivamente modernos e, assim, o Cachoeirinha não é somente expressão do
provinciano, mas também guarda as experiências do moderno. A expressão disso é passível de
ser identificada pelas mudanças morfológicas processadas ao longo do tempo no seu entorno
como as grandes vias de tráfego, os novos empreendimentos comerciais74, bem como pelas novas
práticas espaciais que incluem ainda a necessidade de saída do bairro, de explorar territórios
diferentes, mesmo que vizinhos, já que o Cachoeirinha, como um dos traços de seu
provincianismo, não tem, como assinala Sarlo (2000), o seu “centro”. Assim, quando os
moradores processam esses deslocamentos, a urbanidade e a modernidade são identificáveis no
bairro, mas quando permanecem no seu interior o que prevalece são os reconhecimentos dos
percursos e das pessoas que neles transitam, a reserva e indiferença não fazem parte do cotidiano
dos moradores quando estão nos seus deslocamentos internos.
Com efeito, a leitura da cidade por meio do bairro que aqui se processou, se constituiu,
então, como uma possibilidade de identificar processos internos e externos ao Cachoeirinha, suas
74 Vale lembrar que no caso das alterações nas vias de tráfego, o alargamento das pistas da Avenida Antônio Carlos impactou mais diretamente o bairro, visto que o Cachoeirinha se localiza ao lado da pista no sentido Centro-Pampulha, região norte da cidade. Essa obra fez parte da c parte da obra teve início em julho de 2009 e já está concluída.

225
interseções com a cidade, e como resultado desses entrecruzamentos de espaços e tempos o
reconhecimento do que se define como peculiar, próprio e característico do bairro no cenário
belo-horizontino. O bairro foi pensado como um texto escrito a partir dos movimentos dos
moradores pelos seus espaços ao longo do tempo, por isso a necessidade do exercício de resgate
das lembranças para que tornasse possível a identificação das alterações processadas e em que
medida os movimentos de mudança, internos ao bairro, tiveram relação com os movimentos
externos, relativos à cidade como um todo. Pensar o bairro a partir dos seus elementos móveis,
como assinala Lynch (1998), como suporte de biografias, de acordo com Eckert e Rocha (2005) é
que também permitiu que o Cachoeirinha fosse identificado como expressão do híbrido.
Biografias individuais que se constituíram no bairro, mas que foram também contaminadas pela
história da cidade, resultado do entrecruzamento de dois universos, o pessoal e o citadino, que,
por sua vez, revela o quanto a cidade está no bairro e por ele é absorvida e vice-versa.
O bairro também é pensado com Agier (1998) visto de fora e a partir de dentro. Para o
autor a visão de fora se relaciona com a cidade tomada como referência para o bairro e a visão a
partir de dentro indica os posicionamentos no interior do bairro, a constituição de redes e
itinerários urbanos considerados próprios daquele lugar. Sendo assim, a visão de fora foi
constituída pelas fontes secundários e descrições da morfologia do bairro ao longo do tempo e a
visão de dentro teve como referência o resgate de lembranças que se constituíram como os dados
primários deste trabalho. O bairro não foi, então, pensado como “pequeno mundo” da cidade,
mas sim percebido como um “pequeno mundo” na cidade. Desde o início desta pesquisa o bairro
foi pensado em relação à cidade, pois só assim é possível existir (Lefebvre, 1975). É como se o
bairro fosse uma possibilidade de conhecimento da cidade e das práticas experimentadas por seus
habitantes em microescala, conforme ressalta Cordeiro (2004).
A leitura em microescala se processou a partir da identificação das mudanças ocorridas no
bairro como forma de perceber em que medida e com que intensidade as modificações físicas,
sociais e econômicas da cidade o impactaram e como contribuíram para a constituição do híbrido.
Assim, o footing deixou de existir não apenas na área central da cidade, mas também no
Cachoeirinha. O fim da CIBH impactou o bairro economicamente bem como a chegada dos
shoppings centers e das grandes redes de supermercados que tiveram impacto no comércio local.
O que pretendo enfatizar é que as mudanças da cidade são sentidas no bairro, mas a absorção
dessas modificações não foi experimentada com a mesma intensidade. É como se os

226
acontecimentos da cidade grande não fossem completamente digeridos pelos habitantes do
“pequeno mundo”. Isso contribuiu para que, além das mudanças, o Cachoeirinha experimentasse
novas práticas espaciais que acabaram por revelar as permanências que ali tiveram lugar ao longo
do tempo o que lhe confere, hoje, a sua peculiaridade frente ao cenário urbano metropolitano de
Belo Horizonte: um “pequeno mundo” da cidade que mantém ares de cidade pequena, de um
provincianismo que ainda resiste no século XXI. Esse “pequeno mundo” que se revela a partir
do Cachoeirinha é também representação da fissura do urbano, ou seja, a expressão de que a
urbanidade não é experimentada da mesma forma pelos habitantes de uma cidade, que essa fenda
aberta insinua possibilidades de ser morador da metrópole e selecionar o que interessa preservar,
manter e/ou romper para indicar a sua forma de existência, o seu modo de viver. Conforme
assinalam Cordeiro e Costa (1999, p. 64)
os habitantes do bairro elaboram, a respeito dele, sentimentos de pertença e referências identitárias, mas de outro tipo, a partir de suas próprias experiências de vida quotidiana e do seu quadro de existência social. (...) Trata-se de representações cognitivas do bairro e de referenciações afectivas a ele enquanto território de práticas diárias, palco de existência corrente, contexto de familiaridade, fonte de recursos, sede de estratégias sociais, cenário de episódios vividos ou narrados, lugar de experiências partilhadas, marco de relações de pertença coletiva.
Assim, o sentimento de pertencimento a um bairro da cidade é indicativo da forma como
seus moradores se relacionam afetiva e espacialmente com esse lugar que é recoberto por sinais
de familiaridade e se constitui como um dos seus referenciais identitários. O exercício de
aproximação, de realização de trajetos no Cachoeirinha, do resgate de lembranças, da apreensão
do bairro como espaço de resistência ao moderno, de manutenção de traços da tradição, de
constituição do híbrido expresso na sua morfologia como nos discursos de seus moradores,
permitiu a compreensão de que a microescala pode ser reveladora de fenômenos mais amplos e
que não se restringem somente a determinados espaços do ambiente urbano. O bairro
Cachoeirinha possibilitou eleger um novo ponto de partida para pensar o cenário urbano:
identificar espaços em Belo Horizonte que se definem a partir da invisibilidade como estratégia
de manutenção de modos de viver, de práticas espaciais não condizentes com as mudanças que se
processam na cidade como um todo. Quais os tipos de espaços belo-horizontinos seriam mais
propensos a se definirem como invisíveis? Quais e que tipos de recursos são acionados pelo
grupo para a permanência de hábitos e comportamentos frente ao contexto mais amplo de

227
mudanças? Novas questões se apresentam, mas ainda estão em busca de pistas que se configurem
como norteadoras de um próximo trabalho.

228
REFERÊNCIAS ABREU, Maurício de Almeida. Sobre a Memória das Cidades. In: Revista da Faculdade de Letras – Geografia I, Porto, v. XIV, p. 77-97, 1998. Disponível em: http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/1609.pdf Acesso em 20 out. 2007. ANDRADE, Carlos Drummond de. O amor da cidade. Minas Gerais. Órgão Oficial dos Poderes do Estado. Belo Horizonte, 13/14 jul de 1931. p.11. (Notas sociais. Um minuto, apenas). ANDRADE, Luciana, ARROYO, Michele. Patrimônio Cultural em Bairros Populares e os Atuais Desafios de Patrimônio em Belo Horizonte. 33° Encontro Anual da ANPOCS: Caxambu, 2009. pp. 1-22. ANDRADE, Luciana Teixeira, MENDONÇA, Jupira Gomes de. Estudo de Bairros: construindo uma metodologia qualitativa com suporte quantitativo. 31° Encontro Anual da ANPOCS: Caxambu, 2007. pp. 1-23.
ANDRADE, Luciana. A Belo Horizonte dos Modernistas: representações ambivalentes da cidade moderna. Belo Horizonte: Editora PUC Minas: C/Arte, 2004.
ANDRADE, Luis Aureliano Gama de, AZEVEDO, Sérgio de. Habitação e Poder: da funfação da casa popular ao banco nacional de habitação. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1982. ARANTES, Antônio A. A Guerra dos Lugares: sobre fronteiras simbólicas e limiaridades no espaço urbano. Revista do Patrimônio Histórico Nacional, São Paulo, n. 23, p. 190-203, 1994. ARAÚJO, Wânia M. População de Rua em Belo Horizonte: a reinvenção de espaços domésticos no improviso da moradia. Belo Horizonte: Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da PUCMinas, 2004. 204p. (Dissertação, Mestrado em Ciências Sociais). ARGAN, Giulio Carlo. História da Arte como História da Cidade. São Paulo: Martins Fontes, 1993. BALANDIER, Georges. O Poder em Cena. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1982. BARRETO, Abílio. Belo Horizonte: memória histórica e descritiva - história antiga e história média -. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro/Centro de Estudos Históricos e Culturais, 1995. BARROS, José Márcio. Cidade e Identidade: a Avenida do Contorno em Belo Horizonte. In: MEDEIROS, Regina. (org.) Permanências e Mudanças em Belo Horizonte. Belo Horizonte: Autêntica, 2001. BARROS, José D’Assunção. Cidade e História. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007.

229
BARTHES, Roland. Semiologia e Urbanismo. In: BARTHES, Roland. A Aventura Semiológica. Lisboa: Edições 70, 1994. BECKER, Howard. Conferência A Escola de Chicago. In: MANA, v. 2, n.2, 1996, p.177-188. BOMENY, Helena B. Guardiões da Razão: modernistas mineiros. Rio de Janeiro: Editora UFRJ/Tempo Brasileiro, 1994. BOMENY, Helena B. Cidade, República, Mineiridade. In: Dados – Revista de Ciências Sociais. Rio de Janeiro, v. 30, n.2, 1987, p. 187-206. BONALDI, Eduardo Vilar. Tönnies e o Paradoxo Criativo da Sociologia. In: Intratextos. Rio de Janeiro, v. 1, n.1, pp. 104-126, 2009. Disponível em http://www.e-publicacoes.uerj.br/index-php/viewfilw/220/232 Acesso em 1° abr. 2010. BOSI, Ecléa. Memória e Sociedade: lembrança de velhos. 3. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1994. BRANCALEONE, Cássio Cunha Soares. Comunidade, Sociedade e Sociabilidade: revisitando Ferdinand Tönnies. In: Seminários de Sociologia e Política do IUPERJ. Disponível em http://www.iuperj.br/publicacoes/forum/csoares.pdf Acesso em 1° abr. 2010. BUENO, Antônio Sérgio. O Modernismo em Belo Horizonte: década de vinte. Belo Horizonte: PROED/ Imprensa – UFMG, 1982. CANEVACCI, Massimo. A Cidade Polifônica: ensaio sobre a antropologia da comunicação urbana. São Paulo: Studio Nobel, 1993. CANCLINI, Nestor Garcia. Culturas Híbridas: estratégias para entrar e Sair da Modernidade. 4 ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2003. CARLOS, Ana Fani Alessandri Carlos. Espaço-Tempo na Metrópole: a fragmentação da vida cotidiana. São Paulo: Contexto, 2001. CARLOS, Ana Fani Alessandri. Os Lugares da Metrópole: a questão dos guetos urbanos. In: CARLOS, Ana Fani Alessandri. O Lugar no/do Mundo. São Paulo: Hucitec, 1996, p. 65-83. CASTRO, Andréa Matos Rodrigues Menezes de. POMPÉIA DE BELO HORIZONTE: o espelho de um cosmo provinciano u de uma província cosmopolita? Belo Horizonte: Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da PUCMinas, 2009. 168p. (Dissertação, Mestrado em Ciências Sociais). CERTEAU, Michel de. Práticas do Espaço. In: CERTEAU, Michel. A Invenção do Cotidiano: artes de fazer. 9 ed. Petrópolis: Vozes, 2003. CERTEAU, Michel de, GIARD, Luce. Os Fantasmas da Cidade. In: CERTEAU, Michel de. 6 ed. A Invenção do Cotidiano: 2. morar, cozinhar. Petrópolis, RJ, 2006.

230
CHAUÍ, Marilena. A Memória. In: CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática, 1997. COELHO, Paulo Henrique Ozório. Processo de Urbanização e Visão Histórica de BH. Revista da Fundação João Pinheiro, Belo Horizonte, n. 2, v.4,out./dez., 1972, p. 42-48. CORDEIRO, Graça das Índias. Uma Certa Idéia de Cidade: popular, bairrista, pitoresca. In: Revista da Faculdade de Letras. Porto, 2004, p.185-199 disponível em http://www.ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/artigo8491.pdf Acesso em 31 mar. 2009. CORDEIRO, Graça das Índias. Territórios e identidade sobre escalas de organização sócio-espacial num bairro de Lisboa. In: Estudos Históricos. Rio de Janeiro, n. 28, 2001, pp. 125-142. Disponível em http://www.cpdoc.fgv.br/revista/arq/313.pdf Acesso em 31 mar. 2009. CORDEIRO, Graça das Índias. Um Lugar na Cidade: quotidiano, memória e representação no Bairro Bica. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1997. CORDEIRO, Graça das Índias, COSTA, António Firmino da. Bairros: contexto e intersecção. In: VELHO, Gilberto (org.) Antropologia Urbana: cultura e sociedade no Brasil e em Portugal. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed, 1999. COSTA, António Firmino da. 2 ed. Sociedade de Bairro: dinâmicas Sociais da Identidade Cultural. Lisboa: Celta, 2008. COSTA, António Firmino da. Identidades culturais urbanas em época de Globalização. In: Revista Brasileira de Ciências Sociais, São Paulo, v. 17, n. 48, 2002. COSTA, António Firmino da, GUERREIRO, Maria das Dores. O Trágico e o Contraste: o fado no bairro de Alfama. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1984. COSTA, Heloísa Soares de Moura. Habitação e Produção do Espaço em Belo Horizonte. In: MONTE-MOR, Roberto Luís de Melo. Belo Horizonte: espaços e tempos em construção. Belo Horizonte: CEDEPLAR/PBH, pp.51-77, 1994. COULON, Alain. A Escola de Chicago. Campinas/SP: Papirus Editora, 1995. D´ALÉSSIO, Márcia Mansor. Intervenções da Memória na Historiografia: identidades, subjetividades, fragmentos, poderes. In: Projeto História, n. 17, p. 269-280, nov. 1998. DELGADO, Lucília de Almeida Neves. História oral, narrativas, tempo, identidades. In: DELGADO, Lucília de Almeida Neves. História Oral: memória, tempo e identidades. Belo Horizonte: Autêntica, 2006. DISTANTE, Carmelo. Memória e Identidade. In: Revista Tempo Brasileiro. n. 95, 73/76, out./dez, 1988.

231
DUMONT, Louis. O Individualismo: uma perspectiva antropológica da ideologia moderna. Rio de Janeiro: Rocco, 1988. Cap 1: Do Indivíduo-fora-do-Mundo ao Indivíduo-no-Mundo, p.35-71; Cap. 6: A Comunidade Antropológica e a Ideologia, p. 201-236. ECKERT, Cornélia, ROCHA, Ana Luiza Carvalho. O Tempo e a Cidade. Porto alegre: Editora da UFRGS, 2005. EUFRÁSIO, Mário A. A Formação da Escola de Chicago. Revista Plural: Sociologia. n. 2, 1995, p. 37-60. EUFRÁSIO, Mário A. A Estrutura Urbana e Ecologia Humana: a escola sociológica de Chicago (1915-1940). São Paulo: Ed. 34, 1999. FARIA, Maria Auxiliadora. Belo Horizonte: Espaço Urbano e Dominação Política. Revista do Departamento de História, Belo Horizonte, n. 1, nov, 1985, p. 26-43. FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DE MINAS GERAIS. 100 anos da Indústria em Belo Horizonte. Belo Horizonte: FIEMG/SESI, 1998. FERRARA, Lucrecia D´Aléssio. Olhar Periférico: Informação, Linguagem, Percepção Ambiental. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1993. FERRARA, Lucrecia D’Aléssio. O Signo Contextual. In: FERRARA, Lucrecia D’Aléssio. A Estratégia dos Signos. 2 ed. São Paulo: Perspectiva, 1986. FILGUEIRAS, Cristina Almeida Cunha. L’enjeu des droits sociaux au Bresil; organizations populaires et politiques sociales (etude de cas a Belo Horizonte dans les annes 1979-1988). França: Ecole Des Hautes Etudes en Sciences Sociales. (Tese, Doutorado em Sociologia), 1992. FORTUNA, Carlos. As Cidades e as Identidades: narrativas, patrimônios e memórias. In: Revista Brasileira de Ciências Sociais. São Paulo, n.33, ano 12, fev., 1997. Disponível em http//www.anpocs.org.br/portal/publicações/rbcs_00_33/rbcs33_08.htm Acesso em: 10 nov. 2007. FORTUNA, Carlos. Destradicionalização e Imagem da Cidade: o caso de Évora. In: FORTUNA, Carlos (org.) Cidade, Cultura e Globalização: ensaios de sociologia. 2 ed. Oeiras: Celta Editora, 2001. FRÚGOLI JÚNIOR, Heitor. Sociabilidade Urbana. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2007. FRÚGOLI JÚNIOR, Heitor. O urbano em Questão na Antropologia: interfaces com a sociologia. In: Revista de Antropologia. São Paulo, v. 48, n. 1, 2005, p. 133-165. FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD. Pesquisas em Mercado Imobiliário Belo Horizonte: Classificação dos Bairros de Belo Horizonte. Belo Horizonte: Faculdade de Ciências Econômicas, s/d. Disponível em

232
<http://www.ipead.face.ufmg.br/site/siteipead/downloads/Classes_Bairros_BH_com_mapa.pdf> Acesso em mar. 2010 GEERTZ, Clifford. A Iterpretação das Culturas. Rio de Janeiro: Editora Guanabara, 1989. GEERTZ, Clifford. El Antropólogo como Autor. Barcelona: Paidos, 1989a. GIROLETTI, Domingos. Fábrica Convento Disciplina. Belo Horizonte: Imprensa Oficial, 1991. GOMES, Renato Cordeiro. Modernização e Controle Social: planejamento, muro e controle espacial. In: MIRANDA, Wander Melo (org.). Narrativas da Modernidade. Belo Horizonte: Autêntica, 1999, p. 199-246. GONÇALVES, António Custódio. Os Bairros Urbanos como Lugares de Práticas Sociais. In: Revista da Faculdade de Letras – Geografia. Porto, I Serie, v. IV, 1988. pp. 15-31. Disponível em http://www.ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/157.pdf Acesso em 23 mar. 2009. GORELIK, Adrián. O moderno em debate: cidade, modernidade e modernização. In: MIRANDA, Wander Melo (org.). Narrativas da Modernidade. Belo Horizonte: Autêntica, 1999, p. 55-80. GOTTDIENNER, M., BUDD, L. Key Concepts in Urban Studies. London: Sage Publications, 2005. GOTTDIENER, Mark. A Produção Social do Espaço Urbano. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1993. GUIMARÃES, Berenice Martins. A Concepção e o Projeto de Belo Horizonte: a utopia de Aarão Reis. In: RIBEIRO, Luiz César de Queiroz, PECHMAN, Robert (orgs.) Cidade, Povo e Nação: gênese do urbanismo moderno. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1996. GUIMARÃES, Berenice Martins. Cafuas, barracos e barracões: Belo Horizonte, cidade planejada. Rio de Janeiro: IUPERJ, 1991. (Tese, Doutorado em Sociologia), 1991. HALBWACHS, Maurice. Les Cadres Sociaux de la Mémoire. Paris: Presses Universitaires de France, 1952. HALBWACHS, Maurice. A Memória Coletiva. São Paulo: Centauro, 2006. HANNERZ, Ulf. Exploring the City: inquires toward an Urban anthropology. New York: Columbia Press, 1980. HARVEY, David. A Condição Pós-Moderna. São Paulo: Loyola.1993. IANNI, Otávio. A Idéia de Brasil Moderno. São Paulo: Brasiliense, 1994.

233
IGLÉSIAS, Francisco. Trajetória e Significado de Belo Horizonte. In: MONTEIRO CORRÊA PROMOTORES ASSOCIADOS. Memória da Economia da Cidade de Belo Horizonte: BH 90 anos. Belo Horizonte, 1987. JULIÃO, Letícia. Belo Horizonte: itinerários da cidade moderna, 1891-1920. Belo Horizonte: FAFICH/UFMG. (Dissertação, Mestrado em Ciência Política), 1992. KOFES, Suely. Uma Trajetória, em Narrativas. Campinas/São Paulo: Mercado das Letras, 2001. LEFEBVRE, Henri. La Production de L’Espace. Paris: Éditions Anthropos, 1986. LEFEBVRE, Henri. Barrio y Vida de Barrio. In: LEFEBVRE, Henri. De Lo Rural a Lo Urbano. 3 ed. Barcelona: Ediciones Penísula, 1975. LEITE, Márcia Pereira, FABIÃO, Maurício França. De Volta para o Futuro: imagens e identidades no Andaraí. In: SANTOS, Alexandre Mello, LEITE, Márcia Pereira, FRANÇA, Nahyda (orgs.) Quando memória e História se Entrelaçam: a trama dos espaços na Grande Tijuca. Rio de Janeiro: IBASE, 2003. p. 63-79. LEPETIT, Bernard. É Possível uma Hermenêutica da Cidade. In: LEPETIT, Bernard. Por Uma Nova História Urbana. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2001. LE VEN, Michel Marie. Classes Sociais e Poder Político na Formação Espacial de Belo Horizonte (193-1914). Belo Horizonte: FAFICH/UFMG. Dissertação (Mestrado em Ciência Política), 1977. LEVINE, Donald N. Georg Simmel: on individuality and social forms. Chicago and London: The University of Chicago Press, 1984. LYNCH, Kevin. A Imagem da Cidade. São Paulo: Martins Fontes, 1988. LOWENTHAL, David. Como Conhecemos o Passado. In: Projeto História, n. 17, nov., 1998, p.63-202. MAGALHÃES, Beatriz de Almeida & ANDRADE, Rodrigo Ferreira. Belo Horizonte um Espaço para a República. Belo Horizonte: UFMG, 1989. MAIA, Andréa Casa Nova. O Novo Flâneur das cidades do Século XX – Culturas Híbridas do espaço belohorizontino. In: Varia História. Belo Horizonte, n.18, set., 1997, p. 135-149. MARX, Karl, ENGELS, Friedrich. A Ideologia Alemã. São Paulo: Martins Fonte, 2000. MAYOL, Pierre. O Bairro. In: CERTEAU, Michel de. 6 ed. A Invenção do Cotidiano: 2. morar, cozinhar. Petrópolis, RJ, 2005.

234
MELLO, Ciro F. B. de. A Noiva do Trabalho: uma capital para a república. In: DUTRA, Eliana de Freitas. Belo Horizonte: horizontes históricos. Belo Horizonte: C/Arte, 1996. MEYER, Regina Maria Prosperi. Segregação Espacial. In: BLAY, Eva Alterman (org.) A Luta Pelo Espaço: Textos de Sociologia Urbana. Petrópolis: Vozes, 1978. MORAES FILHO, Evaristo (org.) Simmel. São Paulo: Ática, 1983. MOURA, Antônio Plínio Pires de. Brasil Industrial: do capitalismo retardatário à inserção subordinada no mundo neocolonial. In: Bahia Análise & Dados, v. 11, n. 3, p. 82-89, dez., 2001. NORA, Pierre. Entre Memória e História: a problemática dos lugares. In: Projeto História, n. 10, p. 7-28, dez. 1993. OLIVEIRA, Roberto Cardoso. O Trabalho do Antropólogo: ver, ouvir e escrever. In: OLIVEIRA, Roberto Cardoso. O Trabalho do Antropólogo. 2 ed. Brasília: Paralelo 15; São Paulo: Editora UNESP, 2000. p. 17-35. PARK, Robert E. A Cidade: sugestões para a investigação do comportamento humano no meio urbano. In: VELHO, Otávio G. O Fenômeno Urbano. 5 ed. Rio de Janeiro: Editora Guanabara, 1987. PESAVENTO, Sandra Jatahy. Cidades Visíveis, Cidades Sensíveis, Cidades Imaginárias. In: Revista Brasileira de História, n. 53, v. 27, p. 11-23, jun., 2007. PESAVENTO, Sandra Jatahy. Entre práticas e representações: a cidade do possível e a cidade do desejo. In: RIBEIRO, Luiz César de Queiroz, PECHMAN, Robert (orgs.) Cidade, Povo e Nação: gênese do urbanismo moderno. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1996. p. 377-396. PIMENTEL, Thaís Velloso C. Belo Horizonte ou o Estigma da Cidade Moderna. In: Varia História. Belo Horizonte, n.18, set., 1997, p. 61-66. PLANEJAMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE - PLAMBEL. A Estrutura Urbana da R.M.B.H. Diagnóstico e Prognóstico; o processo de formação do espaço urbano da RMBH 1897 -1985. Belo Horizonte: [s.n.], 1986. PLAMBEEL. Os Complexos Diferenciados de Campos na RMBH. Belo Horizonte: [s.n.], [(1983) s.d.] POULET, George. O Espaço Proustiano. Rio de Janeiro: Imago, 1992. PREFEITURA DE BELO HORIZONTE. Relatório apresentado ao Conselho Deliberativo pelo Prefeito Dr. Bernardo Pinto Monteiro relativo ao período de 1899-1902. Belo Horizonte: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais, 1902.

235
PREFEITURA DE BELO HORIZONTE. Relatório apresentado a S. Ex. Governador Benedicto Valladares pelo prefeito Octacílio Negrão de Lima e relativo ao período administrativo de 1935-1936. Belo Horizonte: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais, 1937. PREFEITURA DE BELO HORIZONTE. Relatório dos exercícios de 1940 e 1941 apresentado ao Exmo Snr. Dr. Benedito Valladares Ribeiro pelo Prefeito Juscelino Kubitschek de Oliveira . Belo Horizonte: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais, 1942. PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE. Relatório de 1949 apresentado a Câmara Municipal pelo Prefeito Octacílio Negrão de Lima. Belo Horizonte: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais, 1950. PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE. Administração Oswaldo Pierucetti 1971-1975. RAMOS, Aluísio Wellichan. Espaço-Tempo na Cidade de São Paulo: historicidade e espacialidade do “bairro” da Água Branca. In: Revista do Departamento de Geografia. São Paulo, n. 15, 2002, pp. 65-75 Disponível em http://www.geografia.fflch.usp.br/publicacoes/Geousp/Geousp15/Artigo6.pdf Acesso em out. 2008. RIBEIRO, Rita A. C. Um Roteiro de Visibilidade e Invisibilidade na Cidade. In: Observatorium: Revista eletrônica de Geografia. v.1, n.1, jan. 2009, pp. 185-196. Disponível em: http://www.observatorium.ig.ufu.br/pdfs/1edicao/UMROTEIRODEVISIBILIDADEEINVISIBILIDADENACIDADE.pdf Acesso em abr. 2010. RIBEIRO, Andréia. Representações e Práticas Cotidianas de um Bairro Belorizontino: o Concórdia. Belo Horizonte: Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da PUCMinas, 2008. 112p. (Dissertação, Mestrado em Ciências Sociais). ROCHA, Ana Luiza Carvalho e ECKERT, Cornélia. O Tempo e a Cidade. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2005. RONCAYOLO, Marcel. La Ville et ses Territoires. Paris:Gallimard, 2001. SALGUEIRO, Heliana Angotti.(1989) Arquitetura e Ideologia de Uma Capital: Belo Horizonte e a Obra de José de Magalhães. Revista Comunicações e Artes. São Paulo, v. 14, n. 21, p. 47-52, ago., 1988. SALGUEIRO, Heliana Angotti. O ecletismo em Minas Gerais: Belo Horizonte 1894-1930. In: FABRIS, Annateresa. (org.) Ecletismo na Arquitetura Brasileirs. São Paulo: Nobel/Ed. Da USP, 1987. SANTOS, Myrian Sepúlveda. Sobre a autonomia das Novas Identidades Coletivas: problemas teóricos. In: Revista Brasileira de Ciências Sociais. n. 38, v. 13, out. 1998.

236
SANTOS, Myrian. O Pesadelo da Amnésia Coletiva: um estudo sobre os conceitos de memória, tradição e traços do passado. In: Revista Brasileira de Ciências Sociais. n. 23, ano 8, 1993. SARLO, Beatriz. Tempo Passado: cultura da memória e guinada subjetiva. São Paulo: Cia das Letras; Belo Horizonte: UFMG, 2007. SCHORSKE, Carl E. A Idéia de Cidade no pensamento europeu: de Voltaire a Spengler. In: SCHORSKE, Carl E Pensando com a História: indagações na passagem para o modernismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. SCHORSKE, Carl E. A Ringstrsse, seus Críticos e o Nascimento do Modernismo Urbano. In: SCHORSKE, Carl E. Viena Fin-de-Siècle: política e cultura. São Paulo: Companhia das Letras, 1988. SILVA, Tomaz Tadeu da. A Produção Social da Identidade e da Diferença. In: SILVA, Tomaz Tadeu da; HALL, Stuart; WOODWARD, Kathryn (orgs.) Identidade e Diferença: a perspectiva dos estudos culturais. Petrópolis: Vozes, pp. 73-102. SIMMEL, Georg. A Metrópole e a Vida Mental. In: VELHO, Otávio G. O Fenômeno Urbano. 5 ed. Rio de Janeiro: Editora Guanabara, 1987. SIMMEL, G. Sociologia: estúdios sobre lãs formas de socialización. Buenos aires: Compañia Editora Espasa – Calpe Argentina S. A., 1939. Cap. I: El problema de la sociologia, p. 9-51. SIMMEL, G. O Dinheiro na Cultura Moderna. In: SOUZA, Jessé, ÖELZE, Berthold (orgs.) Simmel e a Modernidade. 2 ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2005. SOMARRIBA, Maria das Mercês et al. Lutas Urbanas em Belo Horizonte. Petrópolis: Vozes/Fundação João Pinheiro, 1984. SOUZA, Jessé. A Crítica do Mundo Moderno em Georg Simmel. In: SOUZA, Jessé, ÖELZE, Berthold (orgs.) Simmel e a Modernidade. 2 ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2005. SOUZA, Marcelo José Lopes de. O Bairro contemporâneo: ensaio de abordagem política. In: Revista Brasileira de Geografia. Rio de Janeiro, v. 51, n. 2, abr./jun., 1989. pp. 139-172 Disponível em http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/monografias/GEBIS%20-%20RJ/RBG/RBG%201989%20v51_n2.pdf Acesso em out. 2008. TELLES, V. S. Trajetórias Urbanas: fios de uma descrição da cidade. In: TELLES, V. S e CABANES, R. (org.) Nas Tramas da Cidade: trajetórias urbanas e seus territórios . São Paulo: Associação Editorial Humanitas, 2006. TEIXEIRA, Gabriel, SOUZA, José Moreira. Espaço e Sociedade na Grande BH. In: MENDONAÇA, Jupira Gomes, LACERDA, Maria Helena (org.) População, Espaço e Gestão na Metrópole: novas configurações, velhas desigualdades. Belo Horizonte: PUC Minas, 2003.

237
TÖNNIES, Ferdinand. Comunidad y Sociedad. Buenos Aires: Losada, 1947. TUAN, Yi-fu. Topofilia: um estudo da percepção, atitudes e valores do meio ambiente. São Paulo/Rio de Janeiro: Difel, 1980. VAZ, Lilian Fessler. Moradia em Tempos Modernos. In: PIQUET, Rosélia & RIBEIRO, Ana Clara Torres (orgs.). Brasil, Território da Desigualdade: Descaminhos da Modernização. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed/ Fundação Universitária José Bonifácio, 1991. WAIZBORT, Leopoldo. A cidade, grande e moderna. In: WAIZBORT, Leopoldo. As Aventuras de Georg Simmel. São Paulo: Editora 34, 2000. WIRTH, Louis. O Urbanismo como Modo de Vida. In: VELHO, Otávio. O Fenômeno Urbano. Rio de Janeiro: Guanabara, 1987. ZUKIN, Sharon. (1996) Paisagens Urbanas Pós-Modernas: mapeando cultura e poder. Revista do Patrimônio Histórico Nacional. São Paulo, n. 24, p. 205-218.

238
APÊNDICE Quadro de referência das pessoas entrevistadas no bairro Cachoeirinha
Nome Tempo que reside no bairro
Idade Trabalhou na fábrica
Parentesco
Dona Amélia 72 anos 72 anos sim Irmã da D. Dolores e da D. Imaculada
Sr. Luiz 70 anos 75 anos sim Vizinho da D. Imaculada
D. Eliana 56 anos 78 anos sim Mãe da Cristina
Sr. Armando 58 anos 88anos sim Marido da D. Conceição
D. Conceição 58anos 80anos não Esposa do Sr. Armando
D. Maria 84 anos 78 anos sim Vizinha Sr. Armando
D. Tamira
75 anos 71 anos sim Mãe da Neli
Neli 47 anos 47 anos não Filha D. Tamira
Cristina
47 anos 47 anos sim Filha D. Eliana
Dolores
68 anos 68 anos sim Irmã D. Amélia e da D. Imaculada
D. Imaculda 74 anos 74 anos sim Irmão da D. Amélia e da D. Dolores
D. Manuela 57 anos 57 anos não Mãe da Paula e da Sônia
Paula 26 anos 26 anos não Filha D. Manuela
Sônia 37 anos 37 anos não Filha D. Manuela
Sr. Jarbas 70 anos 73 anos não Compadre da D. Imaculada
D. Elza 33 anos 85 anos não Avó do Rogério
Augusto 50 anos não Tio do Rogério
Rogério
20 anos 33 anos não Sobrinho do Augusto e neto da D. Elza
Jane
20 anos 49 anos não Prima
Talita
15 anos 15 anos não Filha da Jane
Ivan 32 anos 32 anos Não Filho da D. Imaculada
Celeste 47 anos 53 anos Não Cunhada da D. Imaculada