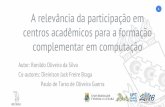Framework para predições e recomendações em dados acadêmicos
Luedy - Discursos Acadêmicos Em Música- Cultura e Pedagogia Em Práticas de Formação Superior
-
Upload
isaac-james-chiaratti -
Category
Documents
-
view
5 -
download
2
description
Transcript of Luedy - Discursos Acadêmicos Em Música- Cultura e Pedagogia Em Práticas de Formação Superior
-
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA PROGRAMA DE PS-GRADUAO
ESCOLA DE MSICA
DISCURSOS ACADMICOS EM MSICA: CULTURA E PEDAGOGIA EM PRTICAS DE FORMAO SUPERIOR
EDUARDO LUEDY
Salvador-Ba 2009
-
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA PROGRAMA DE PS-GRADUAO
ESCOLA DE MSICA
DISCURSOS ACADMICOS EM MSICA: CULTURA E PEDAGOGIA EM PRTICAS DE FORMAO SUPERIOR
EDUARDO LUEDY
Tese apresentada ao Programa de Ps-graduao em msica da Universidade Federal da Bahia como requisito parcial obteno do ttulo de Doutor em Msica (rea de concentrao Educao Musical)
Orientador: Prof. Dr. Joel Barbosa
Salvador-Ba 2009
-
Biblioteca da Escola de Msica - UFBA
L948 Luedy, Eduardo. Discursos acadmicos em msica : cultura e pedagogia em prticas de formao superior
/ Eduardo Luedy. - 2009. 325f. : il.
Orientador : Prof. Dr. Joel Lus da Silva Barbosa. Tese (doutorado) - Universidade Federal da Bahia, Escola de Msica, 2009.
1. Msica Instruo e estudo. 2. Msica Prtica de ensino. 3. Msica - Cultura - aspectos sociais. I. Barbosa, Joel Lus da Silva. II. Universidade Federal da Bahia. Escola de Msica. III. Ttulo.
CDD - 780.7
-
Agradecimentos
Aos colegas da rea de Fundamentos da Educao do Departamento de
Educao da UEFS, por me assegurarem o direito de me afastar das obrigaes acadmicas
para poder finalizar este trabalho com maior tranquilidade. Agradeo especialmente aos
colegas Z Mrio, Miguel Almir e Irlana Jane que assumiram algumas de minhas turmas
de arte-educao de modo que meu afastamento no causasse prejuzos instituio.
Mas, tambm da Uefs, agradeo a Antonia Silva, diretora do Departamento de
Educao que me apoiou em todos os momentos em que precisei de aconselhamento e
orientao administrativa. A Ana Magda Carvalho, minha amiga antroploga, que me
ajudou a pensar certas questes relativas diversidade cultural e s culturas indgenas. A
Lvia Vieira, secretria e amiga de todas as horas. E, especialmente, a Wilson de Jesus, que
leu comigo boa parte dos manuscritos e teceu crticas e comentrios encorajadores e
enriquecedores.
Aos colegas e amigos de ps-graduao da EMUS-UFBA: especialmente a
Maurlio Rafael e Cssia Virgnia, que sempre acreditaram que tudo isto seria possvel
tanto fizeram que passei a acreditar tambm. A Flvia Candusso, Marcelino Moreno e Ana
Margarida pelo companheirismo; a ngelo Castro e Luciano Caroso, amigos-irmos, pelo
apoio mesmo a distncia; a Ricardo Pamflio, por me lembrar sempre da importncia dos
rituais de passagem, principalmente quando passamos por eles. Meu agradecimento
especial a Agostinho, que com sua sagacidade muito me inspirou. A Masa Santos, nossa
secretria solidria do PPGMUS.
Mas tambm da EMUS-UFBA, Manuel Veiga, Alda e Jamary Oliveira, Fernando
Cerqueira, Cristina Tourinho, Agnaldo Ribeiro, Maria da Graa Santos, Paulo Costa Lima,
ngela Luhning: mestres e mestras, para sempre, professores que contriburam decisiva e
profundamente para eu ser musicalmente quem sou.
-
vi
A Joel Barbosa, pela amizade e orientao tranqila o que, no momento
certo, permitiu que tudo isso pudesse ocorrer. A Diana Santiago e Ricardo Bordini que, na
condio de coordenadores do PPGMUS da UFBA, cada um a seu tempo, foram
compreensivos e pacientes com meus descaminhos acadmicos. Ao professor Lucas
Robatto pelo longo depoimento esclarecedor acerca dos meandros e dos impactos
institucionais e acadmicos implicados na criao do curso de msica popular.
Aos meus entrevistados, sujeitos deste estudo, pela generosidade em
compartilhar comigo seus anseios, suas angstias, suas crticas.
A Anna Amlia e a Elenita Pinheiro, minhas amigas deleuzianas pela ateno
com que sempre me escutaram, pelas leituras e comentrios enriquecedores que fizeram de
partes deste trabalho. A Paquito, porque gostamos dos Beatles e de George Harrison all
things must pass!
A Alexandre Castro e J, que ficaram na torcida por mim. A Lia Mara, pelo
carinho e apoio de sempre, mas tambm por me ensinar a importncia de escutar o outro. A
meus pais, Luiz Gonzaga Marques e Ansia Luedy, por tudo.
A minha companheira inseparvel Shirleyne, por todo apoio e pela pacincia
com que me aturou nos momentos em que estive absorto pelo trabalho e em tantos outros
em que estive intratvel! A Guga e Gabi por compreenderem, ainda que de modo relutante,
as horas interminveis sem brincadeiras.
-
Resumo
O presente trabalho busca investigar o discurso acadmico em msica como
uma instncia cultural-pedaggica que tanto reflete um determinado regime de verdades,
sobre educao, msica e cultura, quanto contribui para reific-lo. tomado, pois, como
um discurso qualificado, que versa, em ltima anlise, acerca do que deve valer como
cultura e, consequentemente, do que se tem como legtimo de ser ensinado e de constar
como conhecimento curricular.
O discurso acadmico em msica, enquanto objeto de estudo, divisado aqui a
partir de dois pressupostos bsicos e inter-relacionados: o de que este discurso tanto reflete
quanto age sobre sistemas culturais e seus significados; mas, tambm, o de que estes
significados se vem confrontados com as recentes questes e demandas sociais, polticas e
educacionais postas pelo advento da noo de multiculturalismo compreendido tanto
como um corpo terico, quanto decorrente do reconhecimento da diversidade cultural, um
fenmeno claramente identificvel nas sociedades ocidentais contemporneas que
configuram o contexto social mais amplo no qual o discurso acadmico em msica se
insere mais contemporaneamente.
Este discurso, apesar de se encontrar manifestado em diversas instncias
textuais, tais como artigos cientficos, propostas pedaggicas, textos curriculares,
documentos institucionais e debates educacionais em msica de toda ordem, encontra-se
divisado aqui, primordialmente, a partir do que professores de uma determinada instituio
de ensino superior falam acerca de cultura, educao e currculo.
Referenciais tericos importantes para a problematizao do discurso
acadmico em msica advm dos Estudos Culturais (Hall 1997; 2003) e do
multiculturalismo crtico (Canen 2005; Moreira 2001; Costa 2003; McLaren 1997) que,
sob o impacto das teorizaes ps-modernas e ps-estruturalistas, animadas sobretudo pela
-
viii
chamada virada lingstica, enfatizam, de um lado, o papel da linguagem e do discurso
na constituio do social e, de outro, a noo de cultura como uma prtica de significao e
local privilegiado das polticas de representao.
Ao lado de tais contribuies tericas, h tambm a noo de pedagogia crtica,
tal como desenvolvida por autores como Giroux (1997; 1999) e McLaren (2000), que
tomam as prticas pedaggicas como instncias eminentemente culturais, implicadas em
mecanismos de regulao moral e social. Ambos os autores buscam explicitar criticamente
os limites auto-impostos pelos discursos pedaggicos dominantes, que compreendem e
reificam a cultura a partir de noes conservadoras de conhecimento e/ou definem a
pedagogia em termos instrumentais.
O discurso acadmico em msica , pois, localizado nesta compreenso de
textualidade articulada a formas dominantes de representao, evidentes, por exemplo, na
seleo de contedos, na maneira de hierarquizar campos de saber, no estabelecimento de
critrios de admisso para exames vestibulares; mas, principalmente, na maneira de
afirmar o que conta como conhecimento legtimo em msica.
A partir de tais consideraes, as seguintes questes norteiam o trabalho de
investigao: como professores/as de msica lidam com a emergncia da noo de
diversidade cultural em suas prticas pedaggico-curriculares?; Que respostas tm dado ao
desafio de encarar a condio multicultural de nossa sociedade?;Que concepes de cultura
e conhecimento se depreendem dos discursos acadmicos em msica? Mas,
principalmente: De que modo tais concepes estruturam/condicionam prticas
pedaggicas e curriculares em msica?
Assim, trs professores e duas professoras de uma instituio de ensino
superior de msica a Escola de Msica da UFBA foram tomados como sujeitos da
presente investigao, compondo um determinado grupo representativo das seguintes sub-
-
ix
reas de conhecimento a que cada um pertencia: educao musical; prticas interpretativas;
musicologia; etnomusicologia; composio e anlise. Estes sujeitos foram entrevistados
acerca de suas prticas pedaggico-curriculares, a partir de um roteiro semi-estruturado, no
qual se buscou discutir suas assertivas acerca de educao, currculo e cultura, tendo-se
como eixo de preocupaes acadmicas a temtica mais ampla da diversidade cultural.
O presente trabalho encontra-se estruturado da seguinte maneira: o primeiro
captulo Pontos de partida situa o referencial terico adotado e o contexto social e
educacional mais amplo em que a problemtica deste estudo se insere o advento da
noo de diversidade cultural e as estratgias adotadas para se buscar responder
institucionalmente ao reconhecimento desta diversidade como uma condio mesma das
sociedades ocidentais contemporneas.
O segundo captulo trata dos procedimentos metodolgicos adotados para a
escolha do grupo de professores que vieram a compor uma amostra, de certo modo
representativa, daquilo que, neste trabalho, tomado como o discurso acadmico em
msica. Busca-se, tambm, justificar a opo por um estudo de natureza qualitativa e de
cariz etnogrfico, que toma as entrevistas intensivas como principal instrumento de
investigao, bem como discorrer acerca das possibilidades heursticas da advindas.
Os dados analisados se encontram representados ao longo do terceiro captulo,
no qual as respostas obtidas em cada entrevista so discutidas separadamente em sub-
captulos.
Por fim, o ltimo captulo traz as consideraes finais e as recomendaes para
estudos futuros. Nesta parte, ressalta-se que, apesar da heterogeneidade discursiva
encontrada, uma parte significativa dos enunciados evocados pelos sujeitos decorre de uma
concepo cultural tradicional-conservadora de cariz modernista que, legitimada pela via
dos dispositivos institucionais-acadmicos, ainda assume proeminncia por entre o
-
x
discurso acadmico em msica. Depreendem-se, no entanto, dos atos de fala dos sujeitos,
criticidades e comprometimento para com as questes educacionais, culturais e sociais que
lhes assomam. Estas so tomadas enquanto possibilidades dialgicas que, na perspectiva
terica adotada, podem contribuir para o enriquecimento e aprofundamento dos debates
acerca de uma formao em msica atenta necessidade de se atentar para diversidade
cultural e de se problematizar a diferena.
-
Abstract
The present work seeks to investigate the academic discourse in music as a
cultural-pedagogic instance that reflects a certain regime of truths on education, music and
culture, as it contributes to reify notions of culture and education. It is taken, therefore, as a
qualified speech concerning what should be worth as culture and, consequently, what
should be legitimate of being taught as curricular musical knowledge.
The academic discourse in music, as an object of study, is depicted here from
two basic and interrelated aspects: this discourse reflects and, at the same time, acts upon
cultural systems and their meanings; but, also, these meanings are confronted with the
recent matters and social, politics and education demands put by the emergence of the
multiculturalism understood as much as a theoretical body, as due to the recognition of
the cultural diversity, a phenomenon clearly identifiable in the contemporary western
societies. Something that configures the wider social context in which the academic
discourse in music interferes nowadays.
This academic discourse, manifested in several textual instances, such as
scientific papers, pedagogical proposals, curricula, institutional documents and education
debates in music of every order, is depicted here from the ilocutory acts of teachers of a
certain higher education institution the School of Music of UFBA concerning culture,
education and curriculum.
Important theoretical references for the problematization of the academic
discourse in music came from the so called Cultural Studies (Hall 1997; 2003) and of the
critical multiculturalism (Canen 2005; Moreira 2001; Costa 2003; McLaren 1997) that,
under the impact of the post-modern and post-structuralism theories, emphasizes the
crucial paper of the language in the constitution of the social and the notion of culture as a
significance practice and privileged place of the politics of representation.
-
xii
Along such theoretical contributions, there is also the notion of critical
pedagogy (Giroux 1997; 1999; and McLaren 2000), that takes the pedagogic practices
eminently as cultural instances, implicated in mechanisms of moral and social regulation.
Both authors seek for critically uncover the limits of the dominant discourses in education
that reify conservative notions of culture and knowledge and that define pedagogy in
instrumental terms.
The academic discourse in music is, therefore, located in this understanding of
the notion of textuality as it encounters itself articulated in dominant forms of
representation, evident, for instance, in the selection of musical contents, and in the
establishment of admission criteria for entrance exams to university. All of this affirming
what counts as legitimate knowledge in music.
From such considerations about textuality and discourse, the following
questions orientated the investigation work: how music teachers deal with the emergency
of the notion of cultural diversity in their pedagogic and curricular practices?; What
answers have they given to the challenge of facing the condition multicultural of our
society? Wich concepts of culture and knowledge can be depicted from the academic
discourses in music? And, above all: How those conceptions structure and determine the
pedagogical and curricula practices in music education?
To answer those questions above, five teachers from an institution of higher
education in music the School of Music of UFBA were taken as subject of the present
investigation, composing a certain representative group of the following knowledge sub-
areas in music: music education; interpretative practices; musicology; ethnomusicology;
composition and analysis. These subjects were interviewed concerning their pedagogic and
curricula practices trying to discuss their thoughts concerning education, curriculum and
culture.
-
xiii
The present work is structured in the following way: the first chapter Starting
points presents the theoretical references and the social and education wider context in
wich the problem of this study interferes the emergency of the notion of cultural
diversity, understood as a condition of the contemporary western societies, but also as the
strategies developed to deal with it.
The second chapter deals with the methodological procedures concerning the
choice of the teachers group that came to compose a sample, in a representative way of
that that, in this work, is taken as the academic discourse in music. This chapter also seeks
to justify the option for a qualitative study that takes the interviews as main investigation
instrument.
The analyzed data are presented along the third chapter, in which the answers
obtained in each interview are discussed separately in sub-chapters.
Finally, the last chapter brings the final considerations and the
recommendations for future studies. In this part, it is stood out that, in spite of the found
discursive heterogeneity, a significant part of the statements evoked by the subjects elapses
a conservative and modern conception of culture that is legitimated by the institutional and
academics devices. That is something that still assumes prominence amongst the academic
discourses in music. However, in the ilocutory acts of the subjects we can find criticism
and compromising to education, cultural, and social matters that face them. These can be
considered as dialogical possibilities that, in the theoretical perspective adopted here, can
contribute to the enrichment of the debates concerning the education in music in the wider
context of cultural diversity.
-
Siglas utilizadas
BI: Bacharelado Interdisciplinar.
EMUS-UFBA: Escola de Msica da Universidade Federal da Bahia.
IES: Instituies de Ensino Superior.
LEM: Literatura e estruturao musical. Disciplina nuclear do currculo da Escola de Msica da UFBA que trata dos princpios de estruturao horizontal e vertical das alturas musicais, bem como da organizao formal das msicas de tradio europia ocidental.
PROLICEN: Programa de Formao Inicial para Professores em Exerccio no Ensino Fundamental e no Ensino Mdio (tambm conhecido como Pr-Licenciatura). um programa desenvolvido pelo MEC para professores em exerccio nas sries finais do Ensino Fundamental e no Ensino Mdio dos sistemas pblicos de ensino que no tenham a habilitao legal (licenciatura), exigida para o exerccio da funo.
REUNI: De acordo com o site do MEC, o programa Reestruturao e Expanso das Universidades Federais. Tal programa visa ampliar o acesso e a permanncia na educao superior, apresentando-se como uma das aes previstas pelo Plano de Desenvolvimento da Educao PDE, lanado pelo Presidente da Repblica, em 24 de abril de 2007.
UAB: Universidade Aberta do Brasil.
UCSAL: Universidade Catlica do Salvador. A qual, ao lado da UFBA possui tambm um curso superior em msica.
UEFS: Universidade Estadual de Feira de Santana.
UFRJ: Universidade Federal do Rio de Janeiro.
-
Sumrio Agradecimentos .................................................................................................................. iv Resumo ............................................................................................................................... vii Abstract ............................................................................................................................... xi Siglas utilizadas ................................................................................................................. xiv guisa de introduo ........................................................................................................ 17 Pontos de partida ............................................................................................................... 26
Situando o problema .................................................................................................................... 29 Currculo, discurso e subjetividade .............................................................................................. 33 O discurso acadmico como objeto de estudo ............................................................................. 34 O discurso como uma prtica ....................................................................................................... 36
Procedimentos metodolgicos ........................................................................................... 40 Justificando a amostra .................................................................................................................. 40
A quantidade como questo ................................................................................................................... 41 A amostra ............................................................................................................................................... 43 Situando os professores.......................................................................................................................... 44
A entrevista e seu processo de construo ................................................................................... 46 Roteiro de entrevista .................................................................................................................... 47
As implicaes da Lei 11.645 ................................................................................................................ 49 Desafiando a lgica dominante .............................................................................................................. 50 Processos seletivos: o vestibular e a noo de conhecimento em msica .............................................. 51 As declaraes do professor Natalino Dantas ........................................................................................ 52
Representando os dados ............................................................................................................... 53
Callado ................................................................................................................................ 54 Questes de diversidade: a Lei 11.645 ........................................................................................ 54 Desafiando a lgica dominante? O currculo como poltica cultural-identitria ......................... 56 Usos do etnocentrismo ................................................................................................................. 58 A diversidade subsumida cultura dominante ............................................................................ 59 Aes afirmativas ........................................................................................................................ 61 Agenda conservadora: o papel dos cursos superiores .................................................................. 65 Vestibular, cnon e hierarquizao de saberes............................................................................. 68 A poltica de seleo: questes de acesso e dfict cultural .......................................................... 72
O caso do Babalorix ............................................................................................................................. 74 O caso Armandinho ............................................................................................................................... 75 O caso do curso de canto: aceitar o status quo institucional? ................................................................ 80
Currculo, formao, saberes ....................................................................................................... 83 Sexualidade .................................................................................................................................. 84
Ceclia ................................................................................................................................. 87 Questes de formao .................................................................................................................. 87 Cariz conservador-etnocntrico ................................................................................................... 89
-
xvi
Questes de diversidade: a Lei 11.645 ........................................................................................ 94 Desafiando a lgica dominante? Identidades, autoridade e cnone ............................................. 98 Conhecimento acadmico: saberes e identidades sociais .......................................................... 103 O caso Natalino .......................................................................................................................... 109 O caso Armandinho e o conhecimento em msica .................................................................... 112
Analfabetos musicais ........................................................................................................................... 115 Alfabetizao e letramento .................................................................................................................. 117
Heitor ................................................................................................................................ 121 Pedagogia e educao superior .................................................................................................. 122 Da dicotomia popular-erudito ilegitimidade do estudo da msica popular ............................. 123 Entre o universalismo e o relativismo cultural: a Lei 11.645 .................................................... 129 Existe uma cultura dominada?: aes afirmativas, mrito e cnon curricular-acadmico ..... 134 Desafiando a lgica dominante: o discurso da teoria como poltica cultural ............................. 138
Fanny ................................................................................................................................ 141 Desafiando a lgica dominante .................................................................................................. 141 Questes de diversidade: a lei 11.645 ........................................................................................ 145 O perfil do alunado: a esfera popular, o mercado e a formao acadmica ............................... 146 Fanny tergiversa? A diversidade cultural como diferena ......................................................... 150 A problemtica definio do conhecimento em msica ............................................................ 153
Benedito ............................................................................................................................ 157 Situando o popular ................................................................................................................. 158 Um curso de msica popular: tenses e desafios ....................................................................... 162 Formalismo intra-esttico: o ponto de vista estritamente musical ......................................... 170 Qualquer msica interessante de se olhar!........................................................................... 173 Desafiando a lgica dominante: msica lsbica e gay ............................................................... 174
Consideraes finais ........................................................................................................ 179 Heterogeneidade e disperso dos sujeitos .................................................................................. 183 Questes para estudos futuros .................................................................................................... 186
Referncias bibliogrficas ............................................................................................... 190 Anexos: as entrevistas ..................................................................................................... 196
Heitor, em 23/04/08 ................................................................................................................... 196 Fanny, em 13/05/08 ................................................................................................................... 212 Ceclia, em 02/06/08 .................................................................................................................. 233 Benedito, 16/06/08 ..................................................................................................................... 265 Callado, em 17/06/08 ................................................................................................................. 282
-
guisa de introduo Gostaria de iniciar este trabalho situando-me, eu mesmo, no contexto mais
amplo de consideraes acerca de msica, cultura e educao. Este um trabalho, afinal de
contas, cuja motivao central decorre de inquietaes bastante pessoais acerca dos
processos envolvidos em prticas formativas de uma educao musical institucionalizada.
Se partirmos do pressuposto de que toda empresa educativa encontra-se,
sempre e inescapavelmente, animada por intencionalidades subjetivantes no sentido de
que, atravs de todo ato educativo, seja ele formal ou no-formal, escolar ou no-escolar,
buscamos influenciar, preparar, incentivar, enfim, moldar determinadas atitudes,
comportamentos e pr-disposies atravs das quais a estrutura social mais ampla possa,
assim, se sustentar , ento, no deveramos desvincular nossas experincias, no interior
das diversas instituies sociais e culturais que buscam nos educar, das dimenses mais
subjetivas, divisadas por nossos anseios, desejos e valores, tal como se manifestam nas
itinerncias, dvidas, incertezas, nos tropeos e acertos de nossas trajetrias formativas.
Por isso, creio que valha a pena comear aqui pelo incio de minhas
inquietaes acadmicas. Para tanto, tomarei certas reminiscncias acerca de meu
envolvimento com prticas de educao musical. Para alm de um possvel interesse
acerca dos fatos aqui narrados, no entanto, ser o eu inscrito na maneira de compreend-
los e represent-los que, acredito, poder ajudar aos leitores deste trabalho a situar a
perspectiva de seu autor e a melhor compreender suas motivaes crticas.
A lembrana que tenho de uma atividade musical mais sistemtica remonta aos
meus nove ou dez anos. Apesar de que, poca, no tivesse nada daquilo como educao
musical. Lembro que havia uma professora de violo que dava aulas particulares em sua
casa, no bairro dos Barris, em Salvador. Meu irmo mais velho e minha irm mais nova
freqentavam suas aulas, o que nos levava, em meados da dcada de 1970, a conviver
-
18
cotidianamente com uma prtica musical popular que era algo muito tpico do cancioneiro
da poca.
Meus irmos, uma vez por semana, aps cada aula de violo, voltavam para
casa, com as letras das canes aprendidas transcritas em seus cadernos. A cada aula, uma
cano a mais em cada caderno, manuscrita em caneta azul, com o acompanhamento para
o violo indicado em tinta vermelha, por cima da letra das canes. Ainda lembro do
prazer que eu tinha ao presenciar meus irmos, assim que chegavam em casa, comearem a
cantar. A msica saa pela boca e pelas mos deles! Eu achava tudo aquilo fantstico e
muito tocante ali ocorriam talvez as minhas primeiras experincias estticas, o sentir-se
tocado pelas artes e pela msica.
Daquele cancioneiro, a gente escutava desde A praa de Carlos Imperial,
passando pela banda de Chico Buarque. Alis, Chico era um sucesso: quando meu irmo
aprendeu Joo e Maria (letra de Chico para a msica de Sivuca, e sucesso na voz de Nara
Leo, em 1977), a gente ficava em volta dele, escutando-o cantar aquela valsinha. Meu
irmo s era superado por minha irm quando ela cantava, tambm de Chico, Noite dos
mascarados.
Na poca, no nos dvamos conta de que o que vivamos ali era um intenso
aprendizado musical num determinado mundo de cultura no caso, o mundo divisado pelo
cancioneiro urbano da poca. E isso era algo que ocorria de maneira muito prxima de
nossa vida musical cotidiana, numa aprendizagem sistemtica que era, apenas
aparentemente, informal e descompromissada. Em verdade, havia formalidade naquele
aprendizado, algo que se dava atravs da seleo de repertrio da professora, mas tambm
de seu rigor interpretativo (ao indicar com preciso, nos cadernos, o ritmo para cada
acompanhamento e as harmonizaes), atravs das audies que ela organizava para que
-
19
seus alunos e alunas (dentre eles/as, meu irmo e minha irm) pudessem demonstrar para
seus familiares e amigos o que aprendiam ao longo de um determinado perodo.
Posteriormente, j adulto, vim a perceber a importncia de tudo aquilo, de
como a formalidade daquela prtica no prescindia do prazer que tnhamos ao nos envolver
com ela. Pago aqui, pois, o meu tributo s aulas da professora Candinha, a professora do
bairro dos Barris, que eu jamais conheci: as lies de violo que jamais tive e as canes
ficaram marcadas na minha memria, indelevelmente.
Meu pai tambm tocava violo. Repertrio mais antigo e mais violonstico,
peas mais elaboradas que davam conta de uma s vez do acompanhamento e da melodia.
Eu era criana, mas lembro que o que ele tocava me soava incrivelmente bonito e, pelo
menos para mim, bastante complexo. Ele tocava Abismo de Rosas do repertrio de
Dilermando Reis, Adelita de Tarrega, e aquela que seria uma de minhas preferidas, com
ele ao violo, os Sons de carrilhes de Joo Pernambuco.
Apesar de todas estas experincias, meu aprendizado informal ao violo se deu
mesmo por conta do advento daquelas revistinhas que traziam canes populares de
sucesso com as cifras para acompanhamento de violo. A mais conhecida e a mais bem
editada era a Vigu abreviao para violo e guitarra. Ns a comprvamos assim que ela
saa nas bancas. L em casa, meu pai, minha irm, meu irmo e, depois, eu, fazamos uso
dela. Logo aps o perodo das aulas da Candinha, eram com as canes cifradas da Vigu
que meus irmos se atualizavam e que eu pude comear a me desenvolver solitariamente
no instrumento.
Por volta dos meus 13 anos, em 1979, fui encaminhado ao Instituto de Msica
da Universidade Catlica de Salvador. L, vim a descobrir que para se tocar o chamado
violo clssico, a gente tinha que segurar o violo de maneira curiosa e um tanto
esquisita: apoivamos o violo numa perna e, com o auxlio de um pequeno apoio para o
-
20
p esquerdo, elevvamos a mesma perna, de modo que o violo repousava sobre ela e
ficava atravessado diagonalmente o que nos conferia um aspecto muito solene. ramos
informados de que aquela era a maneira correta, o que significava dizer que se quisssemos
aprender o violo clssico, teramos de segur-lo daquela forma. Apesar de haver
estranhado no incio, achei que aquilo parecia muito srio e importante.
Havia tambm uma apostila para iniciantes que demonstrava como proceder
para realizar as digitaes da mo direita: pulsao com apoio, pulsao sem apoio; uso do
polegar, maneiras de arpejar etc. Os primeiros exerccios eram todos feitos com as cordas
soltas do violo. Nesta fase inicial, nenhuma msica nos era ensinada. Nenhuma msica,
eu supunha ento, nos seria permitido tocar antes de passarmos por este perodo
preparatrio. Apesar de tudo aquilo ter me parecido muito srio e sistematizado (ainda que
pouco ldico, comparativamente ao prazer que obtnhamos quase imediatamente aps as
aulas de violo de meus irmos), gostava de pensar que eu poderia tocar peas mais
difceis e sofisticadas. E, tenho de confessar, eu achava que o esforo valeria a pena, afinal
estava sendo iniciado numa cultura musical de alto prestgio social, algo que me parecia
profundamente srio, organizado e erudito em seus cdigos e valores.
Em retrospecto, acho que parte substancial daquele aprendizado exigia de ns,
iniciantes, um formalismo que retirava do fazer musical muito de sua ludicidade, alm de
reificar uma noo de cultura como algo dissociado de nossas prticas cotidianas. Acho
que, naquele momento, estava aprendendo que estudar msica, pelo menos na tradio
erudita europia, significava ingressar num mundo que praticamente exclua, ou que
deveria excluir, as prticas e os prazeres cotidianos. No que no houvesse prazer no que
fazamos (ou uma sensao de realizao mais plena), mas para chegar l teramos sempre
de passar por um longo perodo de preparao escalas, cadncias, exerccios... Os
cdigos do violo clssico no se pareciam em nada com os cdigos familiares do violo
-
21
popular, a disciplina exigida no permitia transgresso tcnica (leia-se posio das
mos e do prprio jeito de segurar o instrumento). Alm do mais, seguir as indicaes da
partitura era um grande imperativo.
No entanto, importante frisar que eu no desgostava do rigor na verdade, eu
respeitava aquela disciplina e, como disse antes, a aura de alta cultura me atraa. Mas o fato
era que sentia que a msica popular que eu tanto gostava no poderia caber ali, a no ser
em raros momentos furtivos mais descontrados e, por isso mesmo, ilegtimos do ponto de
vista institucional. Fui aprendendo que havia dois mundos e que um deles o dos
repertrios e prticas populares poderia desestabilizar e pr em risco o outro.
Em 1981, ainda antes de terminar o ensino mdio, eu j sabia da existncia dos
cursos de extenso da EMUS-UFBA, mas a Escola de Msica parecia ser um lugar destinado
a pessoas muito especiais e talentosas. Havia a fama de que era muito difcil de se passar
nos testes de seleo para o chamado curso bsico. A gente tinha de saber bem a teoria (na
verdade, a gramtica bsica de seu sistema de notao) e que, na prova prtica de
instrumento, se pedia uma leitura primeira vista. Falavam tambm que faramos uma
prova de percepo, com ditado e solfejo, o que para mim parecia uma coisa reservada a
profissionais. Tudo parecia muito distante de meus horizontes. E eu me encontrava, alm
de tudo, muito incerto e inseguro acerca de meu talento para aquela msica a erudita.
Incentivado por amigos, busquei me preparar para o tal teste de seleo e, para minha
surpresa e alegria, fui aprovado.
No entanto, na primeira aula de violo, ao me deparar com uma partitura que
me parecia complicada demais, e com a exigncia do professor (que me parecia severo e
rigoroso demais) de prepar-la para a aula seguinte, fui tomado de um pavor to bobo
quanto inexplicvel e desisti do curso de extenso. Simples assim, no voltei mais l.
-
22
Quer dizer, a minha fuga no seria to inexplicvel assim: naquele momento, a
noo de talento estava no s naturalizada em mim, como uma certa concepo
conservadora de cultura, uma vez que aquilo que eu vivenciava intensamente enquanto
cultura popular, em meu cotidiano, no tinha como se equiparar cultura erudita. Penso
hoje que, naquele momento, ao desistir das aulas no curso de extenso da EMUS-UFBA, eu
estava aceitando a noo de que o ensino especializado de msica deveria ser reservado
para poucos, para os verdadeiramente talentosos. As implicaes de tal crena eu s viria a
compreender e problematizar anos depois.
Mas o que havia de cultural ou artstico na Educao Bsica, neste perodo?
Muito pouco, quase nada, a no ser em espaos e locais muito furtivos. Ao chegar ao
ensino mdio, a coisa ficaria ainda pior. preciso que se diga que chegvamos, ns da
classe mdia, nesta fase de nossa escolarizao, j bastante assustados com o fantasma do
vestibular e com toda a presso que se criava em torno disso. Algo que se traduzia na
noo de que fracassar ali significaria a completa runa daquilo que nossas famlias
projetavam para nossas vidas. Assim, a idia de seguir uma carreira em msica me parecia
no apenas descabida (uma vez que, naquela perspectiva de erudio, eu no me julgava
suficientemente capaz), mas principalmente arriscada. Somado a isso, havia o medo
burgus que se traduzia nas angustiantes questes: que profisso eu poderia vir a ter
fazendo um curso de msica? Se no pudesse ter destaque como instrumentista-intrprete,
solista ou de orquestra, que outra funo poderia desempenhar? Me escapavam, ento,
outras possibilidades de vir a trabalhar com msica. Me escapava, alis, a prpria noo de
msica como rea de conhecimento.
Neste perodo eu ainda cursava o ensino mdio que eu suportava
estoicamente, querendo acreditar que fazia o que de melhor meus pais esperavam de mim.
Mas se a escola era a um s tempo tediosa e culturalmente rida havia um territrio no qual
-
23
havia diverso, cultura e arte e que passava a se descortinar para adolescentes entediados
como eu: falo da msica popular e, em particular, do rock and roll. Por voltas de 1983,
ento com 16 anos, formaria com um grupo de amigos a Banda Flores do Mal.
Ensaivamos com muita regularidade e com uma seriedade e dedicao que no deixava
dvidas quanto ao propsito de nos tornar profissionais.
Em meados de 1985, eu estava buscando fazer algo mais srio, algo que
justificasse perante meus pais que todo aquele meu envolvimento com msica no era um
mero passatempo ou atividade diletante. Alm do que, eu mesmo gostaria de estar
estudando msica de maneira mais sistemtica e formal. Achava acima de tudo que eu
precisava estudar e me aprimorar.
Assim, no ano seguinte, em 1986, eu ingressava no Curso de Licenciatura em
Msica da Universidade Federal da Bahia. No entanto, cedo descobriria que a graduao
em msica no seria motivo de muitas alegrias. Alis, comparativamente minha vida de
baixista de rock, minha vida acadmica no Curso de Licenciatura, era mais motivo de
angstia e ansiedade do que propriamente satisfao.
Fiquei na instituio, de maneira errtica, por trs anos. Neste perodo, eu j
aceitava que aquilo que eu fazia como msico prtico, aquilo que tinha uma importncia
vital para mim, no poderia ser levado muito a srio pela instituio. Afinal, assim eu
pensava, ali no era lugar para algo to pouco srio como o rock que eu tanto gostava e
nem para aquelas formas populares ligadas chamada indstria cultural, ao lazer das
massas e orientadas para o mercado. Nada daquilo era legtimo de ser considerado,
discutido, aventado como assunto relevante para a formao acadmica.
Tambm no tinha muita idia do que faria num curso de licenciatura de
incio, estava mais animado com a possibilidade mesma de poder estudar msica de
maneira sria e numa instituio que tinha enorme prestgio acadmico. Alm do que, a
-
24
Licenciatura em Msica naquela poca, mais do que hoje certamente, era a opo mais
fcil para ingresso daqueles que no dominavam os cdigos e as prticas cannicas e que,
portanto, sentiam-se pouco capazes de prestar vestibular para os cursos de instrumento,
regncia e composio cursos de maior prestgio social, uma vez que requeriam um
maior domnio de conhecimentos prvios mais especficos. Em verdade, acalentava a idia
de ir me preparando, me inteirando do cnon acadmico-musical e pedir uma transferncia
para o curso de Instrumento cujo status me parecia bem mais atraente.
Em retrospecto, percebo hoje que por mais que aceitasse que aquilo que eu
fazia no meu cotidiano no deveria ter lugar na instituio, e por mais que buscasse me
adequar e compreender os cdigos acadmicos da instituio com seus valores, suas
regras de conduta, seus repertrios, seus saberes legtimos , mais sofria com a minha
inadequao e com a minha dificuldade para super-la. O que, no final das contas, era
fonte de muita frustrao: afinal, eu no s admirava como almejava fazer parte da vida
musical cannica, da Escola de Msica.
No meio destes tropeos e contratempos, em que buscava me encontrar
musicalmente na instituio, tentava tambm compreender o que fazer com o meu curso de
Licenciatura. medida que o tempo passava, o plano de pedir transferncia para o curso
de instrumento (violo) ia perdendo sentido, at que resolvi, aps o ano letivo de 1989,
deixar a Escola de Msica.
Obviamente que esta histria no se encerra aqui. Eu retornaria instituio
formadora e concluiria a Licenciatura em Msica. Alis, devo dizer, parte dos
desdobramentos posteriores de minha formao acadmica vieram a culminar na feitura
deste trabalho. Tudo o que se segue a este prembulo deve ser compreendido, pois, como
uma tentativa de abordar algumas das minhas inquietaes mais profundas acerca da
formao acadmica em msica. Deixemos por ora os prolegmenos e vamos s
-
25
consideraes mais pontuais acerca do objeto deste estudo o discurso acadmico em
msica.
-
Pontos de partida Durante muito tempo, um tempo que me pareceu (e que ainda me parece) ter
durado uma eternidade,1 estive lidando com este grande desafio: como formalizar, como
transformar em objeto de investigao o teor das discusses acaloradas, por vezes irnicas,
mal-criadas, at raivosas, que ocorriam numa determinada comunidade acadmica em
msica? Como tomar os atos ilocutrios que me envolviam to intensamente, fazendo-me
despender quantidade enorme de tempo e energia, para dar conta do que julgava
importante de ser dito acerca de cultura, msica e educao? Como poderia transformar em
dados objetivos tudo aquilo que causava tanto alvoroo e pelo qual me encontrava to
intensamente envolvido?
Refiro-me, aqui, a uma troca intensa de e-mails que, em dado momento de
meus estudos de ps-graduao, se deu numa certa mailing list (um grupo de discusso via
internet), na qual, eu e outros participantes, professores e alunos de um programa de ps-
graduao em msica, empreendamos verdadeiras batalhas, lutando pelo significado
ltimo de nossas crenas sobre cultura e currculo no mbito da formao superior em
msica.
Estvamos ali isso em meados do ano de 2004 tratando de assuntos que
diziam respeito diretamente formao superior em msica e, consequentemente, ao que
deveria contar como conhecimento legtimo de ser ensinado na rea de msica. Debates
que se estruturavam ao redor de assuntos to variados quanto a necessidade de
regulamentao da profisso de msico o que, para alguns, pressupunha a comprovao
de uma formao acadmica definida em termos estreitos ; ou, em outros debates mais
1 eternidade, descontado o exagero da metfora, refiro aqui o longo tempo de maturao que levei para
divisar o presente objeto de minhas preocupaes acadmicas em msica. Algo que, de certo modo, j me inquietava desde o incio de meus encontros com os saberes sistematizados da educao musical institucionalizada, mas que sem dvida assumiram maior proeminncia durante o perodo de minha ps-graduao.
-
27
acirrados, que tratavam da pertinncia de se considerar ou no a msica popular como
assunto de relevo acadmico.
A partir desta mailing list, passei a me dar conta de que as discusses e
embates tericos, principalmente pela intensidade com que nos envolvamos, forneciam
uma amostra significativa da importncia capital que atribuamos a nossos discursos
tanto por aquilo que eles refletiam enquanto premissas tericas, vises de mundo e
concepes de cultura, quanto pelos sentidos e significados que faziam circular, evocando
outros discursos sobre cultura e educao, basicamente atravs dos quais efetivamente
falvamos e defendamos nossas posies. A partir daqueles debates pude melhor
compreender nossos atos ilocutrios, seguindo Foucault, como aquilo pelo qual se luta, o
poder de que queremos nos apoderar (Foucault 1999).
Seguindo, pois, a perspectiva foucaultiana de discurso, mas tambm, em
grande medida, aportes tericos ps-modernos particularmente aqueles decorrentes da
noo de virada lingstica e do ps-estruturalismo passava a compreender aquelas
instncias discursivas como parte significativa de um conjunto maior de saberes, que
passei a denominar de discurso acadmico em msica um discurso que tanto reflete um
determinado regime de verdades, sobre educao, msica, cultura, quanto contribui para
reific-lo. Sua dimenso cultural e pedaggica residindo no fato de ser este um discurso
qualificado, que versa, em ltima anlise, acerca do que deve valer como cultura e,
consequentemente, do que se tem como legtimo de ser ensinado e de constar como
conhecimento curricular.
Era preciso interrogar este discurso, era preciso interpel-lo e buscar, tanto
naquilo que ele afirmava quanto naquilo que ele negava, seus pressupostos
espistemolgicos subjacentes s suas concepes de cultura e seus pontos de vista sobre
educao e currculo.
-
28
No entanto, ocorria-me, que poderia tratar de instncias discursivas mais
localizadas, mais prximas a mim, o que me permitiria maiores possibilidades de
interlocuo. Poderia situar tais instncias discursivas num mesmo lcus, atravs do qual
estes discursos circulassem de um modo menos disperso, comparativamente ao das
comunidades que se estruturam a partir dos textos e dos embates que ocorriam nas arenas
virtuais dos grupos de discusso de internet.
Me parecia cada vez mais atraente a idia de que o discurso acadmico em
msica poderia ser capturado a partir do que professores de uma determinada instituio de
ensino superior de msica teriam a dizer acerca de cultura, educao e currculo. Ou seja,
para alm dos textos acadmicos, dos artigos cientficos e, tambm claro, dos e-mails
(por vezes impertinentes e desaforados e, por isso mesmo bastante reveladores) de um
grupo de discusso. Alis, uma vez que alguns dos professores desta instituio haviam
participado, junto comigo, daqueles embates tericos via internet, poderia agora no s
utiliz-los como um pretexto para iniciar nossas conversas, mas, tambm e principalmente,
para ter a oportunidade de retom-los e situar melhor os nossos posicionamentos. At
porque, naqueles espaos, no calor das discusses, no af de nossas disputas e da tentativa
de fazer valer nossos pontos de vista, os argumentos muito frequentemente se auto-
obliteravam.
Pois assim foi: dos debates no espao virtual de uma determinada mailing list,
a partir dos quais pude perceber a importncia substantiva de nossos discursos, s
entrevistas intensivas com professores de msica de uma determinada instituio de ensino
superior de msica a Escola de Msica da Universidade Federal da Bahia que, no por
acaso, era a instituio na qual tinha me graduado (Licenciatura) e feito o meu mestrado
(tambm na rea de Educao Musical).
-
29
Situando o problema Para a delimitao do problema de pesquisa, parto de dois pressupostos bsicos
e inter-relacionados. Em primeiro lugar, o de que o discurso acadmico em msica
configura-se como um dispositivo de efeitos culturais e pedaggicos, cujos saberes e
valores tanto refletem quanto divisam um determinado regime de verdades acerca do que
deve contar como conhecimento vlido em msica e educao musical, um discurso
qualificado que opera sobre sistemas culturais e seus significados.
preciso dizer que a noo de pedagogia, aqui, associada ao discurso
acadmico em msica, no relativa apenas sub-rea da Educao Musical, mas aos
processos pedaggicos mais amplos em msica sejam eles advindos da formao
superior ou da educao bsica. Isto significa que, neste estudo, as implicaes culturais e
educacionais do discurso acadmico em msica no se referem apenas sub-rea da
Educao Musical ou s questes que envolvem a Licenciatura em Msica, mas tambm
formao acadmica em msica de uma maneira geral.
Mas parto tambm do pressuposto de que os significados divisados pelo
discurso acadmico em msica se vem confrontados com as recentes questes e demandas
sociais, polticas e educacionais postas pelo advento da noo de multiculturalismo
compreendido aqui tanto como um corpo terico, quanto decorrente do reconhecimento de
um fenmeno claramente identificvel nas sociedades ocidentais contemporneas (Canen e
Moreira 2001). Alm do que, no momento em que a diversidade cultural no somente
discutida como tambm incorporada nas polticas educacionais nacionais uma vez que j
contamos com a recomendao de incorporao desta temtica, na formao de
professores, em diretrizes e parmetros curriculares nacionais (Brasil 1998; 2004) de se
perguntar acerca do que isto representa em termos de questionamento da poltica cultural e
curricular dominante das instituies de ensino superior em msica.
-
30
Para Giroux, tais questionamentos, no mbito da formao acadmica superior,
versam, em ltima anlise, sobre defender, reconstruir ou eliminar um determinado
cnone (1999, 108), e devem ser compreendidos
... dentro de uma extenso mais ampla de consideraes polticas e tericas que recaem diretamente sobre a questo de se a educao das cincias humanas deve ser considerada um privilgio para poucos ou um direito para a grande maioria dos cidados (Giroux 1999, 108).
Esta uma discusso que se faz necessria, principalmente quando nos damos
conta de que no mbito acadmico-institucional em msica, tende-se, de uma maneira
geral, a conceber as prticas pedaggicas como algo dissociado das questes polticas e
culturais mais amplas da sociedade. De fato, mesmo nas reas de Educao Musical e
Etnomusicologia reas de saber nas quais as vinculaes entre cultura e sociedade so
mais evidentes , as implicaes polticas e culturais das questes que envolvem o
conhecimento, mas tambm a prpria noo de autoridade envolvida no estabelecimento
do cnon acadmico em msica, no parecem figurar como questes centrais a seus
campos de investigao.2
A partir de tais consideraes, busco responder as seguintes questes: como
professores/as de msica lidam com a emergncia da noo de diversidade cultural em
suas prticas pedaggico-curriculares?; Que respostas temos dado ao desafio de encarar a
condio multicultural de nossa sociedade?; Que concepes de cultura e conhecimento se
depreendem dos discursos acadmicos em msica? Mas, principalmente: De que modo tais
concepes estruturam/determinam prticas pedaggicas e curriculares em msica?
2 A este respeito so dignas de nota as consideraes de Travassos (2001) acerca do cnon acadmico de sua
prpria rea. A autora chama a ateno para a preferncia histrica da etnomusicologia pelos temas que tm a ptina dos mundos folk pr-capitalistas (p.81), e destaca, como exemplo, o desinteresse por parte dos pesquisadores pela realidade musical evanglica que se faz presente na instituio de ensino superior onde leciona. Ao mesmo tempo, discute a poltica cultural posta em ao numa determinada instituio de ensino superior que, ao estabelecer um determinado currculo voltado msica popular, reifica vises conservadoras de cultura.
-
31
A razo de situar as discusses no mbito da educao superior justifica-se por
serem tais instituies instncias importantes de afirmao e legitimao de conhecimento
e de vises de mundo, locais que produzem uma ordem particular de narrativas, sendo, por
isto, profundamente polticos e normativos. As consideraes de Giroux, a este respeito
merecem ser citadas aqui:
... a universidade no simplesmente um lugar para se acumular conhecimento disciplinar que possa ser trocado pelo emprego decente e pela mobilidade ascendente. Nem um lugar cujo propsito seja meramente cultivar a vida da mente ou reproduzir o equivalente cultural do Masterpiece Theater. Acredito firmemente que as instituies de educao superior, independente de seu status acadmico, representam lugares que afirmam e legitimam as vises de mundo existentes, produzem novas, e garantem e moldam relaes sociais particulares; simplificando, so locais de regulamentao moral e social. (Giroux 1999, 108).
A partir da nfase na dimenso poltica da educao, tal como incorporada por
autores como Giroux (1995; 1997; 1999; 2003) e McLaren (1997; 2000), proponentes
importantes e profcuos da chamada pedagogia crtica, no h como deixar de reconhecer o
ensino superior como uma esfera cultural pblica importante,
... que cultiva e produz histrias especficas de como viver tica e politicamente, [cujas] instituies reproduzem valores selecionados e abrigam, em suas relaes sociais e prticas de ensino, conceitos especficos em relao a que conhecimento mais valioso, o que significa conhecer algo e como se pode construir representaes de si, de outros e do ambiente social (Giroux 1999, 108).
No que concerne mais especificamente rea de msica, a relevncia de se
investigar as representaes, idias e valores que conformam seu campo discursivo
justifica-se pela seleo que efetiva sobre repertrios e prticas musicais; por ser este um
lugar onde se cultiva o bom gosto, um espao no qual podemos observar a
distribuio de valor que permeia as classificaes sociais dos repertrios (Travassos
2005, 11). Ou seja, um lugar privilegiado de legitimao e instituio do cnon cultural e
musical.
-
32
Busco aqui compreender o discurso acadmico em msica, portanto, como uma
parte importante da configurao da educao musical institucionalizada no caso, da
educao musical superior a partir de perspectivas tericas que nos auxiliem a
desnaturalizar alguns de seus pressupostos epistemolgicos, mas tambm seus efeitos
culturais, ou seja, de instituio de significados.
Esta uma dimenso importante e que gostaria de enfatizar neste trabalho:
desnaturalizar um determinado estatuto de saber significa, como nos recomenda Veiga-
Neto (2001), entender seu carter contingente, social e histrico e, por isso, pensar em
outras possibilidades que busquem no s demonstrar como nos tornamos o que somos,
mas que evidenciem alternativas viveis de se compreender e modificar a realidade social
que, no caso do presente estudo, refere-se, primordialmente, ao questionamento das
implicaes culturais e pedaggicas do que se estabelece como o cnon acadmico-
institucional em msica.
Por fim, a partir deste estudo, espero poder chamar a ateno para a relevncia
dos debates acerca dos processos acadmicos de legitimao cultural do conhecimento em
msica. Afinal, como nos alerta Giroux (1999), esta uma tarefa eminentemente poltica,
que diz respeito fundamentalmente organizao de formas especficas de representaes,
valores e identidades:
As relaes da pedagogia e de poder esto intricadamente ligadas no apenas ao que as pessoas sabem, mas tambm ao modo como vm a saber de uma determinada maneira dentro das restries de formas culturais e sociais especficas (1999, 117) [grifos meus].
Tomar o discurso acadmico, enquanto instncia cultural e pedaggica
centralmente envolvida na produo de significados em msica e em educao musical,
pode ser um bom ponto de partida para isso: ou seja, para interrogar o que se amplia ou se
limita atravs dele; para que nos questionemos acerca de seus efeitos culturais e
-
33
pedaggicos. Enfim, para que possamos interrogar mais criticamente a nossa prpria
agncia e o sentido de nossas prticas educacionais.
Currculo, discurso e subjetividade Dentre as instncias discursivas no mbito educacional, o currculo sem
dvida uma das mais discutidas na literatura crtica e ps-crtica da sociologia da educao.
Segundo Silva (2003), ainda que um currculo possa exercer pouco ou nenhum efeito
substantivo no nvel da prtica, enquanto elemento discursivo de uma determinada poltica
educacional, ou seja, enquanto texto, o currculo um elemento simblico importante, por
refletir os pontos de vista daqueles que se encontram autorizados a expressar suas
perspectivas, concepes e premissas culturais e educacionais no texto curricular.
Uma outra dimenso do texto curricular refere-se, de acordo com Veiga-Neto
(2002), articulao entre os saberes, selecionados e organizados num currculo, e sua
efetivao prtica. Algo que se d atravs de processos disciplinares, cujos efeitos de
significao e subjetivao constituem um importante elemento da poltica educacional.
Na medida em que ele [o currculo] se estabelece disciplinarmente e na medida em que a sociedade moderna uma sociedade que se torna cada vez mais disciplinar ..., o currculo acaba funcionando tambm como um poderoso dispositivo subjetivante, envolvido na gnese do prprio sujeito moderno (p.171).
Nesta perspectiva, os mecanismos e processos culturais de subjetivao
tornam-se um problema pedaggico relevante. Se passarmos a considerar a subjetividade
no como um atributo essencializado e transcendental, advindo de uma suposta natureza ou
ontologia humana, mas sim como um construto histrico, socialmente determinado,
produzido e reproduzido atravs de prticas discursivas (e somente acessvel atravs delas),
poderemos ento tornar problemticas as formas sociais, histricas e, portanto, culturais
atravs das quais se criam as condies para que determinadas subjetividades (e no
outras) prevaleam.
-
34
Da a relevncia de se tomar os textos e discursos pedaggicos como instncias
culturais, centralmente envolvidas em processos de subjetivao. Mas no de modo
fechado. Se os processos textuais e discursivos so contingentes, haver sempre a
possibilidade de desconstru-los (e, portanto, de descentrar os sujeitos), algo que pode se
dar mediante o desvelamento de seus mecanismos e efeitos de subjetivao, para que
possamos explicitar o que pode ser constrangido ou ampliado atravs deles; e, ao mesmo
tempo, apontando para outras possibilidades de subjetivao talvez mais resistentes a
prticas que porventura oprimam ou restrinjam nossa agncia.
Conceber a subjetividade como um efeito de disputas discursivas,
inextricavelmente associada a foras sociais e culturais, uma das contribuies
fundamentais da teorizao ps-moderna e ps-estruturalista para uma perspectiva crtica
em educao, uma vez que, a partir delas, passamos a compreender que nossas
subjetividades no decorrem de fenmenos transcendentes, correlatos de atributos
essenciais e metafsicos oriundos de uma natureza humana comum.
Enfim, se podemos considerar o currculo como um texto cultural, e como tal
implicado em prticas de significao, poderemos, ento, assumir como parte do inevitvel
papel poltico dos educadores buscar desvelar os pressupostos epistemolgicos que o
informam; e assim, consequentemente, ampliar nossa compreenso acerca de como operam
seus mecanismos e efeitos de significao, para que possamos nos posicionar criticamente
em relao a eles, discutindo-os em funo das possibilidades e/ou limitaes sociais que
apresentam.
O discurso acadmico como objeto de estudo No entanto, ainda que saibamos da importncia substantiva da poltica cultural
posta em ao pelas prticas e discursos curriculares, elegemos, aqui, o discurso
acadmico, tal como proferido pelos docentes de uma determinada instituio de ensino
-
35
superior, como objeto privilegiado de investigao. Isto no significa ignorar o currculo,
mas levar em conta que, se o currculo um poderoso dispositivo subjetivante, seus efeitos
podem ser tambm encontrados nos discursos docentes que, em ltima anlise, refletem e
se organizam a partir de uma determinada ordem de saber.
Alm do mais, a anlise do texto curricular, per se, necessitaria ser
complementada pela anlise daquilo que o discurso docente manifesta acerca de sua
prpria prtica pedaggica. Em concordncia com Veiga-Neto,
Se, por um lado, o currculo que d sustentao epistemolgica s prticas espaciais e temporais que se efetivam continuamente na escola, por outro lado, so as prticas que do materialidade e razo de ser ao currculo (2002, 172) [grifo meu].
Em outros termos, atravs do discurso docente podemos ter acesso quilo que
(ainda) no est l, no currculo, quilo que o professor pensa/diz a respeito de sua prpria
prtica (a despeito das prescries do texto curricular); e o que ele pensa/diz dele, ou seja,
s maneiras como o currculo compreendido, criticado ou reificado pelos professores.
Atravs do discurso docente, podemos ter acesso quilo que dinmico e contingente,
quilo que se faz mais presente no discurso do que propriamente no texto curricular.
Como afirma Macedo (2006), em educao, certas prticas no so discursos,
mas os discursos sustentam, orientam e justificam a prtica. Alm do que, o discurso
constitui, ainda, significativamente, parte da atividade do professor e do aluno (p.104).
Ainda seguindo Macedo (2006), uma vez que a educao como todo
processo formativo/cultural de instituio e reproduo de significados edifica-se
mediante processos de reconstruo mental do real pelos sujeitos nela envolvidos, a
linguagem configura-se tanto como fonte quanto produto da comunicao. O que reitera a
relevncia de se tomar os discursos sobre educao e sobre os processos formativos, de
uma maneira geral, tal como proferidos pelos professores e professoras de uma
determinada instituio.
-
36
O discurso acadmico pode ser tomado, portanto, como uma modalidade de
comunicao especializada, situada numa determinada ordem ou estatuto de saber (Daz
1998). O que significa dizer que o discurso docente no resulta de escolhas individuais
autnomas, mas sim de uma ordem de saber instaurada a partir de foras que definem o
que conta como conhecimento verdadeiro.
Dito de outro modo, a ordem dos saberes em msica, seu estatuto e seu
fundamento epistemolgico so construes sociais e histricas, politicamente
comprometidas, uma vez que resultam de foras que lutam por valer suas verdades.
Admitir seu carter contingente tem implicaes importantes para a discusso de seus
efeitos culturais e pedaggicos: a possibilidade de que esta ordem possa ser criticada e
contestada, de modo que outras narrativas, experincias e pontos de vista possam vir no
s a reivindicar a legitimidade de suas perspectivas e interesses, mas tambm a resistir
imposio das verdades totalizantes do conhecimento universalmente vlido.
O discurso como uma prtica A questo da correspondncia entre o discurso e a prtica, ou entre discurso e
realidade, por vezes tomada como um problema a ser considerado. E a ausncia de tais
articulaes, como uma pendncia a ser discutida com maior seriedade num trabalho de
investigao que consideraria apenas o discurso dos docentes como objeto de
investigao. Tal questo costuma ser posta nos seguintes termos: mas no se ir verificar
a correspondncia (ou falta de) entre o discurso dos docentes e suas prticas concretas?
H algumas importantes premissas tericas que devem ser considerados aqui e
que podero nos ajudar a melhor situar a problemtica da relao entre discurso e prtica.
Ou, pelo menos, a problematiz-la de modo mais adequado em relao perspectiva
epistemolgica que adoto na presente investigao.
Ao analisar um discurso mesmo que o documento considerado seja a reproduo de um simples ato de fala individual , no estamos diante da
-
37
manifestao de um sujeito ... o sujeito da linguagem no um sujeito em si, idealizado, essencial, origem inarredvel do sentido: ele ao mesmo tempo falante e falado, porque atravs dele outros ditos se dizem (Fischer 2001, 207).
Ou seja, no so propriamente as coisas que interessam, nesta perspectiva
apesar de que elas sejam importantes. O que interessa fundamentalmente so os regimes
de verdade acionados por um determinado campo discursivo e divisados em funo
daquilo que ele possibilita ou interdita, em funo daquilo que ele permite que se tome
como conhecimento em msica, em funo dos significados que produz e que so
acionados a partir dos atos ilocutrios dos sujeitos do presente estudo. O interesse no est,
portanto, na correspondncia factual entre palavras e coisas, ou entre teoria e prtica. Mas,
sim, nas regras, nos interditos, nas possibilidades, postas em ao por um determinado
campo discursivo.
Segue-se, da, que uma nova concepo de objetividade, uma vez que nesta
perspectiva epistemolgica, as prticas sociais se constituiriam discursivamente e a prpria
sociedade entendida como um vasto tecido argumentativo no qual a humanidade constri
sua prpria realidade (Laclau apud Fischer 2001, 200).
A realidade objetiva constitui-se, pois, no interior de tramas discursivas, uma
vez que sero as regularidades de um dado campo enunciativo que divisaro o que
poderemos tomar como discurso sobre o real. Assim, o discurso dos professores (ou de
um grupo de professores) de uma determinada instituio de ensino superior pode revelar,
atravs das regularidades que apresenta, aquilo que constitui o meu objeto de investigao
e que tomo aqui como uma das possibilidades de representao do que estou
considerando como o discurso acadmico em msica.
Contudo, um objeto de investigao no se define, nem pode ser apreendido,
por intermdio da descrio de sua suposta natureza intrnseca, atravs da qual se revelaria
a sua verdade. O discurso acadmico em msica revela-se, aqui, atravs das relaes que
-
38
estabelece com outras formaes discursivas que podem lhe ser concorrentes, que podem
rivalizar com suas verdades. Ou seja, o discurso que se busca divisar aqui ser
apreendido a partir das maneiras como responde a certas questes provenientes das
demandas contemporneas do multiculturalismo, de certas provocaes epistemolgicas
oriundas da chamada virada cultural, a partir da maneira como lida com as questes
contemporneas postas pelo advento da noo de multiculturalismo e diversidade cultural.
Para tanto, para se pensar a questo fundamental da formao em msica
questo que remete a consideraes sobre a legitimao acadmica do conhecimento em
msica e, portanto, aos processos de ensino-aprendizagem e de avaliao deste
conhecimento faz-se necessrio que o discurso acadmico em msica volte-se sobre si
mesmo ao ser interrogado acerca de seus pressupostos epistemolgicos fundamentais: o
que significa conhecer msica? Como se avalia este conhecimento? Que responsabilidades
e implicaes sociais temos, enquanto instituio pblica de formao superior, ao
definirmos os projetos pedaggicos e curriculares relativamente sociedade mais ampla e
ao que definimos como bem comum?
Mas como ficaramos em relao questo de que um discurso, um ato
ilocutrio especfico, pode no se referir ou corresponder a aes concretas? E que,
portanto, um estudo cuja base emprica fosse to somente aquilo que dito por
determinados sujeitos seria insuficiente enquanto esforo de apreenso da realidade?
Primeiramente, porque no interessam as coisas, propriamente falando, mas
os significados atribudos a elas e, mais que isso, aquilo que permite que as coisas sejam
pensadas de uma determinada maneira (e no de outra). Em segundo lugar, porque, como
nos diz Foucault: o discurso uma prtica.
No se pode perder de vista, pois, a enorme e significativa contribuio de
Foucault para a compreenso da centralidade do discurso: a noo de que a disputa por
-
39
significados, a disputa pelo sentido que atribumos s coisas, tudo isto se refere a uma luta
poltica, ou seja, a uma disputa imersa em relaes de poder, algo que se d no interior de
formaes discursivas cujos enunciados polemizam entre si.
A teoria do discurso est intimamente ligada questo da constituio do sujeito social. Se o social significado, os indivduos envolvidos no processo de significao tambm o so e isto resulta em uma considerao fundamental: os sujeitos sociais no so causas, no so origem do discurso, mas so efeitos discursivos (Pinto apud Fischer 2001, 206-207).
Segundo Fischer (2001), as coisas ditas encontram-se radicalmente
amarradas s dinmicas de poder e saber de seu tempo. A tarefa que se descortina,
enquanto possibilidade mesma de transgresso produtiva de um determinado regime de
verdade, reside, pois, na compreenso das regras deste dado regime para que assim
possamos apontar para a possibilidade de seu desmonte, por desvelar aquilo que ele
interdita, aquilo que ele apenas permite que exista enquanto verdade.
Quando os sujeitos deste estudo se apropriam de um certo discurso acadmico,
no s falam atravs dele, mas tambm acionam as regras que fixam enunciados acerca do
que significa conhecimento em msica. Ou seja, os sujeitos, pela posio que ocupam,
falam atravs de (e, portanto, fazem falar) um determinado discurso qualificado um
discurso de professores de uma instituio de ensino superior sobre o que conta ou deve
contar como conhecimento em msica.
-
Procedimentos metodolgicos Justificando a amostra
No apropriado falar em escolha para se referir ao grupo de professores e
professoras que participaram do presente estudo. A amostra, aqui, refere-se a um grupo
heterogneo, composto por professores que, alm do fato de ensinarem msica na mesma
IES a Escola de Msica da UFBA , e de representarem certas sub-reas de conhecimento
em msica (educao musical; etnomusicologia/musicologia; composio e anlise;
prticas interpretativas); terminaram sendo reunidos, em ltima anlise, por terem
manifestado interesse em participar do presente trabalho de investigao.
O que estou querendo dizer que a amostra obtida resultou mais de
intencionalidades mutuamente subjetivas tanto de minha parte quanto da dos professores
que aceitaram participar do que de procedimentos determinados a priori e idealmente
baseados em critrios de neutralidade cientfica. O que no significa dizer que no tivesse
estabelecido certos critrios de escolha e que, portanto, j no tivesse alguns perfis, ou
algumas categorias em mente, atravs dos quais buscasse compor o grupo de professores
que participaram deste estudo.
Para proceder seleo dos professores a serem entrevistados, era importante
que o grupo formado fosse representativo, tanto quanto possvel, de um determinado
coletivo mais amplo no caso, aquele formado pelos professores da Escola de Msica da
UFBA. Assim, pensava em compor um grupo com representantes de cada uma das sub-
reas de conhecimento em msica educao musical; etnomusicologia e musicologia;
composio e anlise; prticas interpretativas.
Algumas dvidas, no entanto, me ocorriam desde o incio da formalizao dos
procedimentos metodolgicos. A primeira delas que eu tinha que entrevistar alguns
professores aqueles que tinham protagonizado intensos debates anteriormente comigo,
-
41
numa mailing list, acerca de cultura, educao e currculo na rea de msica, debates que
exerceram enorme impacto sobre mim, a ponto de me fazer modificar radicalmente meu
projeto inicial de pesquisa o que veio a culminar na realizao do presente estudo.
A quantidade como questo
Tal sobre-determinao auto-imposta levava-me a questionar os tais critrios
de neutralidade e objetividade que supostamente me conduziriam a uma amostragem
representativa isenta de interesses. Ao contrrio, passava a considerar que uma amostra
intencional no s me era a melhor, mas talvez nica vivel. Mas restava ainda a questo
acerca de quantos professores e quantas entrevistas deveria realizar.
De acordo com Zago (2003), dentre as questes acerca da utilizao de
entrevistas em estudos que envolvem a relao de atores sociais com processos
educacionais, uma das que merece especial ateno refere-se quantidade de entrevistas a
realizar. Para esta autora, quando temos que entrar na lgica das investigaes qualitativas,
as entrevistas, assim como os demais procedimentos metodolgicos, devem inscrever-se
em outros modelos de construo do objeto de investigao. Como afirma Zago:
O nmero a considerar no independente dos propsitos do estudo, de sua problemtica e seus fundamentos. ... o nmero um falso problema porque coloca num mesmo plano entrevistas com status muito diferentes, com objetivos diferentes (Zago 2003, 297).
Alm do que, ao adotarmos a entrevista em profundidade, em consonncia com
a delimitao do objeto da investigao e de sua problemtica, no buscamos produzir
dados quantitativos passveis de generalizao. A representatividade de uma amostra, nesta
perspectiva metodolgica, no pode encontrar-se desvinculada de uma maneira de pensar e
de produzir os dados.
No caso do presente estudo, a representatividade da amostra obtida e a
possibilidade (ensejada) de que os dados produzidos (e as subseqentes consideraes
-
42
analticas) pudessem vir a ser, de algum modo, aplicveis a outros contextos, em situaes
similares de ensino superior de msica ou inspiradoras de reflexes acerca da discusso
curricular, na rea de msica, a partir dos tpicos emergentes do multiculturalismo e dos
Estudos Culturais seriam, inevitavelmente, limitadas. No se espera, portanto, que as
anlises desenvolvidas e suas concluses possam ser aplicadas indiscriminadamente a
quaisquer outros contextos educacionais de ensino superior de msica.
O que no significa dizer que os dados produzidos aqui sejam pouco teis para
a discusso curricular e pedaggica mais ampla no mbito do ensino superior de msica
brasileiro. A Escola de Musica da Universidade Federal da Bahia, afinal de contas uma
instituio representativa por sua prpria relevncia histrica.3
Assim, a construo do objeto de investigao o discurso acadmico em
msica em confronto com as emergentes questes da diversidade cultural se, por um
lado, no o desvincula dos aspectos contingenciais que o demarcam num dado momento
histrico e poltico a saber, a ampla reforma universitria pela qual passavam diversas
universidades federais (dentre as quais a UFBA), a adoo do sistema de cotas raciais e a
criao de um novo curso superior de msica nesta universidade por outro, seria ingnuo
acreditar que os sujeitos deste estudo encontrar-se-iam em situaes to profundamente
singulares que os isolariam do contexto mais amplo da formao acadmica de nvel
superior em msica.
Afinal, as caractersticas peculiares em que se situam os professores deste
estudo no podem ser tomadas como aspectos isolados, descontextualizados e
desvinculados das foras culturais, sociais e polticas que tambm afetam outras prticas
pedaggicas similares. A compreenso da poltica cultural implicada na anlise do discurso
3 Uma instituio que existe h mais de cinqenta anos, na qual gravitaram nomes importantes no cenrio
musical brasileiro, como Hans-Joachim Koellreutter, Ernst Widmer, Walter Smetak; que se notabilizou pelo seu grupo de compositores, na dcada de 1960; uma instituio que oferece cursos de composio, regncia, licenciatura, instrumento e canto, e que conta atualmente com um programa de ps-graduao (mestrado e doutorado).
-
43
acadmico em msica, tal como ocorre numa determinada instituio de ensino superior,
pode, portanto, e a despeito de sua singularidade, auxiliar e informar estudos nesta mesma
rea ou que tenham como objeto a compreenso dos professores de msica acerca das
vicissitudes de seu magistrio profissional.
preciso dizer, contudo, que no se busca repisar qualquer dicotomia entre as
dimenses quantitativas e qualitativas nas investigaes cientficas. Os dados de natureza
quantitativa, mesmo num estudo de cariz qualitativo, tm a sua importncia e
desempenham o seu papel. Neste estudo, eles esto presentes desde a delimitao numrica
dos sujeitos entrevistados (ainda que no por razes estatsticas) verificao de certas
regularidades nas respostas s questes do roteiro de entrevistas. Como no poderia deixar
de ser, h um peso substantivo sempre que nos deparamos com uma regularidade na
ocorrncia de respostas semelhantes ou que apontam para um mesmo significado. Tal
dimenso quantitativa , pois, importante mesmo em estudos de natureza qualitativa.
Mas a constatao de sua importncia no deve nos levar a desprezar o que
irregular, inconstante, disperso, desviante, singular. Talvez resida a a relevncia de se
auto-proclamar qualitativo. Ou seja, no para menosprezar os dados de natureza
quantitativa, mas para se enfatizar a relevncia de aspectos que, em estudos que requerem a
considerao quantitativa dos dados, seriam muito provavelmente desprezados.
A amostra
O presente grupo de professores, portanto, no foi obtido mediante
procedimentos metodolgicos neutros, imparciais, objetivamente controlados pelo
investigador. E nem poderia: estava envolvido desde o incio e de maneira intensa com
alguns dos professores que buscava entrevistar. Estes no s conheciam os meus interesses
como, em alguns casos, divergiam frontalmente de minhas posies ideolgicas acerca de
educao e cultura. Habitvamos, alm de tudo, o mesmo espao acadmico-institucional,
-
44
no qual havia disputas intensas pelo significado e propsito da formao acadmica em
msica. E era justamente isso que me interessava discutir com os meus possveis sujeitos
de pesquisa.
Esta foi uma amostra intencional, a nica que me fora possvel obter no s
por duvidar que procedimentos randmicos, no meu caso, pudessem me assegurar uma
representatividade isenta, como por acreditar que tal representatividade seria sempre
limitada e parcial, por resultar de um inevitvel recorte implicado numa mtua
intencionalidade entre pesquisador e sujeitos da investigao.
Deste modo, trs professores e duas professoras terminaram compondo a
minha amostra. Mantenho a palavra seleo entre aspas porque, de fato, ela no indica
aqui o resultado de uma ao unilateral do investigador por entre os membros de uma
determinada comunidade, como se esta passivamente aceitasse tomar parte do processo
investigativo. Ao contrrio, a anuncia em participar do estudo foi vital para que pudesse
manter a transparncia tica de todo o processo investigativo.
Neste sentido, preciso dizer que as negociaes para que as entrevistas
ocorressem no se deram sem alguma insistncia com avanos e recuos por parte de
alguns dos professores que eu buscava tornar sujeitos da investigao. Alguns recusaram-
se a participar, alegando falta de tempo, outros falta de interesse. Houve ainda aqueles que,
a despeito de reiterados convites, tergiversaram e terminaram no participando. Em alguns
casos, no foi possvel conciliar agendas. Enfim, a seleo de uma amostra, aqui, no se
daria mesmo de modo unilateral, sem negociaes e consentimentos.
Situando os professores
Cinco professores terminaram compondo a amostra deste estudo. Nomeio-os
aqui por pseudnimos. So eles Callado, Fanny, Heitor, Benedito e Ceclia. Professores da
Escola de Msica da UFBA. Todos ps-graduados e j com um longo histrico no
-
45
magistrio superior (o mais novo deles, Callado, j professor da instituio h mais de
dez anos; o mais antigo, Benedito, h mais de quarenta). Estes professores podem, assim,
ser situados relativamente s sub-reas de conhecimento a que pertencem:
Educao Musical Fanny
Prticas interpretativas Callado
Musicologia Ceclia
Etnomusicologia Benedito
Composio e anlise Heitor
Esta, no entanto, no uma classificao estanque: alguns dos professores tm
formao de origem numa determinada sub-rea, mas tm cruzado as quase sempre tnues
(e muitas vezes arbitrrias) fronteiras que separam estas reas de saber. Por exemplo,
Fanny graduada em instrumento, pertencendo, pois, sub-rea das prticas
interpretativas. No entanto, fez mestrado e doutorado na rea de educao musical e tem
efetivamente se dedicado pedagogia do instrumento.
Callado, por seu turno, sendo graduado em canto, apesar de ter feito mestrado
em educao musical, tem se dedicado mais efetivamente rea das prticas
interpretativas.
Ceclia, tendo se formado em piano, com especializao em msica antiga,
ps-graduou-se em etnomusicologia. Tem, no entanto, se dedicado preponderantemente
tanto como pesquisadora como professora musicologia histrica.
Benedito, tendo percorrido um caminho semelhante ao de Ceclia, no entanto,
identifica-se sobremaneira com o campo de pesquisa da etnomusicologia.
Heitor talvez seja o nico, dentre os demais, a ter permanecido fiel sua rea
de origem: a composio e anlise.
-
46
Estes professores e professoras compreendiam, assim, um grupo representativo
de um coletivo maior. Seus discursos no so, no entanto, tomados aqui apenas como
discursos das sub-reas a que pertencem, mas fundamentalmente como discursos de
professores e professoras trabalhadores culturais ou intelectuais pblicos, na definio de
Giroux (1999) inarredavelmente envolvidos com questes polticas e sociais, curriculares
e pedaggicas, que atravessam seus campos de saber.
A entrevista e seu processo de construo De acordo com Zago (2003), quando temos a entrevista como instrumento
principal da pesquisa, parte considervel de sua produo bem como do aprendizado que
adquirimos sobre sua conduo se opera no processo concreto da investigao.
Para esta autora, no h neutralidade possvel que se possa estabelecer como
condio a priori de objetividade para o estabelecimento do tipo de entrevista a ser
realizada: sua escolha decorrer do desenvolvimento da problemtica do estudo a ser
empreendido, a partir das interrogaes que fazemos acerca de um determinado contexto
de relaes sociais e das estratgias que elaboramos para buscar respond-las.
Dentro dessa abordagem o pesquisador se apropria da entrevista no como uma tcnica que transpe mecanicamente para uma situao de coleta de dados, mas como parte integrante da construo sociolgica do objeto de estudo (Zago 2003, 295).
Alm do mais, nos diz Zago (2003), no contexto mesmo das investigaes
qualitativas que devemos nos permitir construir suas problemticas. O que significa dizer
que, ao empregarmos a entrevista compreensiva, como meio privilegiado de investigao,
devemos buscar elaborar roteiros abertos, flexveis, de modo que nos seja possvel alter-
los conforme o direcionamento que desejamos dar investigao. E, eu acrescentaria (aps
ter sofrido um bocado com toda a ansiedade decorrente do receio de que as questes
elaboradas em meu roteiro no fossem produtivas o suficiente para o que eu pretendia
-
47
investigar): deveramos nos permitir tambm aceitar que os rumos inesperados que as
entrevistas compreensivas por vezes tomam e que nos levem por itinerncias insuspeitadas.
Roteiro de entrevista
O roteiro de entrevista foi estruturado em torno de certas temticas relativas
diversidade cultural, aqui tomada como eixo fundamental atravs do qual as questes
atinentes educao e fo