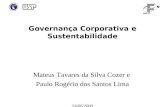Governanca Desafio a Democracia
-
Upload
caio-capella -
Category
Documents
-
view
219 -
download
1
description
Transcript of Governanca Desafio a Democracia
-
21Emancipao, Ponta Grossa, 11(1): 21-34, 2011. Disponvel em
Governana pblica: um desafi o democracia
Public governance: a chanllege to Democracy
Luciana Ronconi*
Resumo: Este ensaio terico, realizado a partir de pesquisa bibliogrfi ca, pretende colocar em debate a categoria governana pblica e relacion-la com os avanos dos processos democrticos. Argumenta que tal categoria, enquanto formato institucional do Estado abre a gesto da coisa pblica participao de diversos atores nos processos de deciso e de formulao das polticas pblicas. Conclui que a governana pblica desponta como um importante arranjo institucional para a operacionalizao dos princpios democrticos, pois ao reafi rmar os valores da democracia, da cidadania e do interesse pblico possibilita a ampliao dos mecanismos de participao nas instncias de deliberao do Estado e a incorporao de aes transparentes e compartilhadas em um campo de explicitao de disputas e confl itos.
Palavras-Chave: Governana pblica. Democracia. Polticas pblicas.
Abstract: This theoretical essay was based on a literature review and aims at discussing the category of public governance, and relate it to the evolution of the democratic processes. It argues that public governance, as an institutional form of the State, opens the possibility to manage the public assets to various actors, when it comes to decision processes and formulation of public policies. It concludes that public governance is emerging as an important institutional arrangement for the operation of democratic principles because by reinforcing the values of democracy, citizenship and public interest, it enables the expansion of participation mechanisms in the instances of State deliberation, as well as the incorporation of transparent and shared actions in a fi eld of increasingly explicit disputes and confl icts.
Keywords: Public gover nance. Democracy. Public policies.
Recebido em: 20/09/2010. Aceito em: 25/05/2011.
* Mestre em Servio Social pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Doutora em Sociologia Poltica pela UFSC. Professora da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), ministrando aulas no curso de Administrao Pblica do Centro de Cincias da Administrao e Socioeconmicas (ESAG). Florianpolis, Santa Catarina, Brasil. E-mail: [email protected]
-
22 Emancipao, Ponta Grossa, 11(1): 21-34, 2011. Disponvel em
Luciana RONCONI
1 Introduo
Este ensaio terico, realizado a partir de pesquisa bibliogrfi ca, pretende colocar em de-bate a categoria governana pblica e relacion--la com os avanos dos processos democrticos. Pretende-se argumentar que tal categoria, enquanto formato institucional abre a gesto da coisa pblica participao de diversos atores e gera espaos pblicos de participao e controle social. Sob esses aspectos, considera-se que a governana pblica desponta como um importan-te arranjo institucional para a operacionalizao dos princpios democrticos, pois se refere a um tipo de gesto do Estado que favorece e refora a participao de atores sociais nos processos de deciso e de formulao das polticas pbli-cas; portanto, nas instncias de deliberao do Estado.
Primeiramente, destacam-se as vrias concepes, signifi cados e narrativas que se tm construdo em torno da categoria governana pblica, salientando que neste trabalho a con-cepo de governana pblica utilizada se pauta em um projeto poltico democratizante, em que a participao da sociedade civil vista como im-prescindvel para a consolidao da democracia. Em seguida, pontua-se a importncia do papel do Estado no sentido de implementar, a partir de determinao, compromisso e vontade poltica, um projeto democrtico que possibilite uma maior articulao entre Estado e sociedade civil. A governana pblica expressa vontade poltica e comprometimento poltico para implementar um projeto democrtico capaz de cooperar para a ampliao da participao social, do debate pblico, da negociao e deliberao.
A relao dialtica existente entre gover-nana pblica e sociedade civil salientada na terceira parte. No processo da governana pblica a participao de diferentes atores, nos processos de deciso, nas diversas instncias de deliberao e de deciso do Estado, implica confl itos, contradies e disputas de projetos polticos. O Governo enfrenta o desafi o de desen-volver as redes, consideradas a matria-prima da governana pblica, tratar do fenmeno da repre-sentao e buscar novas formas de cooperao.
Pretende-se concluir que, ao estabelecer parcerias com sociedade civil e mercado, a governana pblica possibilita a ampliao
dos mecanismos de participao e deciso nas instncias de deliberao do Estado e a incorporao de aes transparentes e compartilhadas em um campo de explicitao de disputas e confl itos. A governana pblica, enquanto formato institucional, implica na ideia de construo de uma esfera pblica e de um espao para uma democracia que vai alm da democracia representativa. Uma democracia que tem como pressuposto o dilogo e o debate pautados nos princpios da igualdade, pluralidade e publicidade.
2 Concepes de governana pblica
Neste artigo, governana pblica com-preendida como um tipo de gesto do Estado. Refere-se, portanto, dimenso governamental, ou seja, a um tipo de arranjo institucional gover-namental que, ao articular as dimenses eco-nmico-fi nanceira, institucional-administrativa e sociopoltica e estabelecer parcerias com socie-dade civil e mercado, busca solues inovadoras para os problemas sociais e o aprofundamento da democracia.
Cabe destacar, inicialmente, que diferentes signifi cados e diferentes narrativas tm se cons-trudo em torno da categoria governana pblica, tornando-a assim sujeita a algumas armadilhas tericas. A concepo de governana pblica utilizada neste trabalho se pauta em um projeto poltico democratizante, em que a participao da sociedade civil vista como imprescindvel para a consolidao da democracia. Participao que resultado da conquista de segmentos so-ciais que buscam novas formas de participao e exerccio da cidadania nos espaos e ambientes institucionais e que demandam, portanto, uma gesto compartilhada das polticas pblicas. Di-ferente, portanto, do projeto neoliberal que parte de uma concepo de governana na qual a participao da sociedade civil ocorre unicamen-te porque o Estado transfere para a sociedade civil parcela de suas responsabilidades. Nesse projeto, a cooperao e parceria tornam-se co-optao, prestao de servios e substituio do Estado. , portanto, nessa confl uncia que a dimenso governamental precisa ser pensada.
Essa confl uncia tratada por Dagnino (2006), em vrios de seus trabalhos, como con-fl uncia perversa, pois projetos diferentes (de um
-
23Emancipao, Ponta Grossa, 11(1): 21-34, 2011. Disponvel em
Governana Pblica: Um desafi o democracia
lado o democratizante e de outro o neoliberal) utilizam o mesmo discurso, apesar de apontarem para direes opostas e at mesmo antagnicas. Nesse sentido,
[...] no somente ambos requerem a participa-o de uma sociedade civil ativa e propositiva, mas se baseiam nas mesmas referncias: a construo de cidadania, a participao e a prpria idia de sociedade civil. (DAGNINO; OLVERA; PANFICHI, 2006, p. 16).
A compreenso da governana pblica como projeto poltico democrtico deve consi-derar que, enquanto projeto poltico, mantm relao com a tradio poltica, com o campo da cultura e com culturas polticas especfi cas. Para Dagnino, Olvera e Panfi chi (2006, p. 38), a noo de projeto poltico designa os conjuntos de crenas, interesses, concepes de mundo, representaes do que deve ser a vida em socie-dade, que orientam a ao poltica dos diferentes sujeitos. Dessa forma, podemos dizer que a governana pblica carrega tambm a afi rma-o da poltica como um terreno que tambm estruturado por escolhas, expressas nas aes de sujeitos, orientados por um conjunto de repre-sentaes, valores, crenas e interesses (Ibid, p. 39). Essas escolhas estabelecem relaes confl itivas, tanto em relao a outras escolhas como com respeito a condies estruturais, a recursos e a oportunidades, que circundam e qualifi cam sua implementao (Ibid, p. 39). As-sim, a noo de projeto poltico recobre a ampla gama de formatos nos quais representaes, crenas e interesses se expressam em aes polticas, com distintos graus de explicitao e coerncia (Ibid, p. 40).
Diversas pesquisas tericas e empricas tm demonstrado a importncia da ao gover-namental na criao e consolidao de formas de participao dos cidados na formulao, implementao e avaliao das polticas p-blicas. Sem dvida, as anlises da dimenso governamental, vistas em seus mais diferentes contextos histricos, e da relao entre Estado e sociedade civil tm permitido a construo de formulaes tericas em diversas reas do conhecimento, em especial, na rea da Cincia Poltica e da Administrao.
A exigncia de uma nova gerao de reformas administrativas e do Estado, que
enfatiza o desenvolvimento de aes conjuntas entre Estado, empresas e sociedade civil, surge, por um lado, a partir de uma demanda por uma gesto deliberativa e, por outro, a partir da necessidade democrtica dos governos. Compreende-se, assim, que a categoria de governana pblica se inspira em teorias democrticas1 e que as reivindicaes dos movimentos sociais por participao nos processos de deliberao nos espaos pblicos bem como a necessidade de eficincia e legitimidade democrtica dos governos a colocam como um arranjo institucional, ou ainda como um projeto democrtico de signifi cativa importncia.
Dessa forma, essa categoria, enquanto nova tendncia de Administrao Pblica e de Gesto de Polticas Pblicas, pode cooperar para a consolidao de uma democracia que aponta para a construo de sujeitos polticos e expan-so da esfera pblica; transcende, portanto, a viso de cidado como portador autnomo de direitos. Para Fleury (2006, p. 05), a construo da democracia na Amrica Latina introduz a reivindicao cidad de um direito de quinta gerao (para alm dos direitos civis, polticos, sociais e difusos) que corresponde demanda por uma gesto deliberativa das polticas pbli-cas, em especial, das polticas sociais.
Assim, o debate contemporneo sobre a democracia emerge da percepo de que a democracia participativa a ampliao do conceito de poltica mediante a participao cidad e a deliberao nos espaos pblicos. Nessa perspectiva, a noo de democracia refere-se a um sistema articulado de instncias de interveno dos cidados nas decises que lhes concernem e na vigilncia do exerccio do governo. (DAGNINO; OLVERA; PANFICHI, 2006, p. 17).
Dessa forma, gesto deliberativa pressupe busca compartilhada de alternativas capazes de responder a problemas tangveis, dotando de efetividade e sustentabilidade as polticas pblicas. (TATAGIBA, 2003, p. 30). No mbito da democracia deliberativa, esforos tericos tm buscado fundamentar um conceito mais
1 Refi ro-me aqui s principais teorias democrticas contempo-rneas, a saber, a teoria liberal, republicana e procedimentalista, com nfase na teoria democrtica deliberativa.
-
24 Emancipao, Ponta Grossa, 11(1): 21-34, 2011. Disponvel em
Luciana RONCONI
forte de deliberao a partir de uma adequao e aproximao do conceito de espao pblico dotado de efetividade deliberativa anlise dos processos concretos de gesto. Trata-se de considerar a inter-relao entre pblicos diferentes que, a partir de seus valores e capacidades comunicativas, enfrentam o desafi o do dilogo pblico com vistas construo de polticas pblicas compartilhadas. (LCHMANN, 2002a; 2002b).
3 Estado: Gesto Pblica e Governana
Pblica
Governana pblica, enquanto um tipo de gesto do Estado, pressupe uma vontade polti-ca para implementar um projeto democrtico que possibilite uma maior articulao entre Estado e sociedade civil; vontade poltica de construo de espaos pblicos (que implementem de forma efetiva a participao) e de ampliao da polti-ca, na medida em que considera a importncia da sociedade civil na deciso (fruto de debate e deliberao ampliada) e formulao de polticas pblicas. Como adverte Tatagiba (2003), apenas o dilogo ativo entre rgos da Administrao e cidados, em todas as fases da poltica, pode garantir que o desenho fi nal de um determinado programa ou projeto, contemple a complexidade social. A governana pblica, enquanto nova tendncia de Administrao Pblica e de Gesto de Polticas Pblicas pode, assim, cooperar para a consolidao de uma democracia que aponta para a construo de sujeitos polticos e a expan-so da esfera pblica em uma perspectiva que transcende a viso de cidado como portador autnomo de direitos.
As concepes de governana e governabilidade ganharam destaque no Brasil a partir dos anos 1990, perodo a partir do qual o pas incorpora os ajustes econmicos de corte neoliberal, de ajuste estrutural e de polticas sociais compensatrias e d incio chamada reforma do Estado que compreendeu medidas cujo objetivo era o de redefi nir o papel do Estado. Foi a partir dos anos 1990 que o Banco Mundial introduziu o conceito de boa governana como parte de seu critrio de emprstimo para pases em desenvolvimento. A governana referia-se s mudanas no setor pblico associadas com a nova Administrao Pblica, teorias
de mercado e privatizao. Essas reformas liberais implicaram mudanas no setor pblico, que passou a se preocupar com a efi cincia do servio pblico. (BEVIR; RHODES, 2001).
Para Denhardt e Denhardt (2003), um novo servio pblico deve ser uma alternativa para a velha Administrao Pblica e para a nova Gesto Pblica. Esse novo servio pblico tem inspirao na (1) teoria poltica democrtica (especialmente enquanto essa se preocupa com a conexo entre cidados e seus governos) e nas (2) abordagens alternativas gesto e ao modelo organizacional que decorrem de uma tradio mais humanstica na teoria da Administrao Pblica. Os autores consideram que o novo servio pblico deve reafirmar os valores da democracia, da cidadania e do interesse pblico como valores proeminentes da Administrao Pblica; deve comear com o reconhecimento de que a existncia de uma cidadania engajada e esclarecida crtica para a governana democrtica. Sob essa tica, o Novo Servio Pblico tenta encontrar valores compartilhados e interesses comuns por meio de um dilogo generalizado e engajamento dos ci-dados. (DENHARDT; DENHARDT, 2003 p. 35).
Para os autores desse modelo, o novo servio pblico caracteriza-se por servir aos cidados, contribuir para uma noo compar-tilhada de interesse pblico (compartilhamento de interesses e responsabilidades), valorizar a cidadania, valorizar pessoas (e no somente a produtividade) e agir democraticamente.
Salm e Menegasso (2006) consideram que o modelo do novo servio pblico um terceiro modelo que se segue ao da Administra-o Pblica convencional e ao da nova Gesto Pblica. Retomando as bases epistemolgicas defi nidas por Denhardt e Denhardt (2003), os autores salientam que nesse modelo o
[...] ser humano , antes de mais nada, um ser poltico que age na comunidade; que a comunidade politicamente articulada requer a participao do cidado para a construo do bem comum; e que o bem comum precede a busca do interesse privado. (SALM; MENEGASSO, 2006,, p. 7).
Werner Jann (2002) analisa na obra Da gesto para a governana as experincias de reforma do setor pblico na Europa e na
-
25Emancipao, Ponta Grossa, 11(1): 21-34, 2011. Disponvel em
Governana Pblica: Um desafi o democracia
Alemanha. Para o autor, os temas polticos dos anos de 1990 estavam centrados na concepo de gesto, cujos slogans se direcionavam para a nova Gesto Pblica, a Administrao como negcio, a antiburocracia e o Estado enxuto, possuindo como valores cruciais a efi cincia, o servio, a orientao para o cliente e a qualidade. J os temas polticos dos anos 2000 se voltam para a governana e tm seus slogans pautados na sociedade civil, capital social, Estado capacitador e Estado ativador, assentando-se nos valores de coeso social, poltica e admi-nistrativa, participao e engajamento cvico.
Para o mesmo autor citado anteriormente, nos governos tradicionais a articulao e coorde-nao dos interesses coletivos se faziam a partir dos partidos, grupos de interesses e parlamento. J na governana essa articulao e coordena-o dos interesses coletivos se do a partir de padres negociados de coordenao entre o pblico e o privado, participao direta e vrios arranjos de articulao com o pblico. Para Jann (2002), as implicaes prticas da governana so a coproduo dos servios, uma interao entre Estado, mercado e sociedade civil, com-partilhamento de responsabilidades, cooperao e dilogos com a sociedade mais democrticos.
A governana pblica (public governance) surge, para Heidemann e Kissler (2006), em funo da insatisfao com os processos de mo-dernizao do Estado inspirada na Administrao Pblica Gerencial (New Public Management). Todavia, para os autores, ainda um campo incerto, pois no existe um nico conceito de governana pblica, mas sim diferentes pers-pectivas para se pensar
[...] uma nova estruturao das relaes entre o Estado e suas instituies de nvel federal, estadual e municipal, por um lado, e as orga-nizaes privadas, com e sem fi ns lucrativos, bem como os atores da sociedade civil (cole-tivos e individuais), por outro. (HEIDEMANN; KISLLER, 2006, p. 2).
Para Lffer (2001), a governana pblica deve ser entendida como uma nova gerao de reformas administrativas e do Estado. Nessa con-cepo, a ao conjunta do Estado, empresas e sociedade civil deve se desenvolver de forma efi caz, transparente e compartilhada, devendo tambm objetivar a criao de possibilidades
e chances de um desenvolvimento futuro sus-tentvel para todos os participantes.
A preocupao com a questo do desen-volvimento, no campo da Gesto Pblica, parece estar presente nas vertentes que buscam uma aproximao da Administrao com a poltica. Para Paula (2005), essas vertentes tendem a partilhar de um novo conceito que enfatiza a qualidade de vida e a expanso das capacida-des humanas. Nesse sentido, desenvolvimento interpretado como a busca de respostas cria-tivas para problemas que podem ser resolvidos atravs da participao cidad.
Para Heidemann e Kissler (2006), sob a tica da Cincia Poltica, a governana pblica est associada a uma mudana na Gesto Poltica, pois a esse modelo somam-se a negociao, a comunicao, a confi ana, o for-talecimento da cooperao entre os diversos atores e a construo, atravs das redes, de estratgias consistentes. A governana pblica aponta para a consolidao dos processos de coproduo e cogesto do social e pe nfase na participao ativa, ao conjunta e incluso dos cidados na comunidade poltica; reconhece os excludos como cidados e gera espaos pblicos de participao e controle social. Assim, os fundamentos normativos da governana pblica se estabelecem por um novo entendimento do Estado como agente de governana (HEIDEMANN; KISSLER, 2006, p. 4). Nesse sentido, conceitualmente, o Es-tado tradicional vem se transformando de um Estado de servio, que produz o bem pblico, em um Estado que garante a produo do bem pblico; de um Estado ativo que prov solitrio o bem pblico, em um Estado ativador que aciona e coordena outros atores a produzirem o bem pblico com ele; de um Estado dirigente ou gestor em um Estado cooperativo, que em conjunto com diversos atores produz o bem pblico. Nessa concepo, Estado, mercado, redes sociais e comunidades constituem me-canismos institucionais de regulamentao, que se articulam em diferentes composies ou arranjos. (HEIDEMANN; KISSLER, 2006, p. 7).
Esse modelo rompe com a concepo tradicional do Estado como ncleo exclusivo da formulao e implementao das polticas pbli-cas; cidados passam a ser coprodutores e par-ceiros, na perspectiva de compartilhamento de responsabilidades. Essa perspectiva no implica
-
26 Emancipao, Ponta Grossa, 11(1): 21-34, 2011. Disponvel em
Luciana RONCONI
um Estado enxuto, mas um Estado que, sendo ativador das foras da sociedade civil, possibilita a incluso, na agenda das polticas pblicas, dos interesses dominados, em um processo simul-tneo de transformao da institucionalidade e construo de identidades coletivas. (FLEURY, 2006, p. 07). Assim, na governana pblica, o Estado no deixa de ser responsvel ltimo pela produo do bem pblico, mas pode transferir aes para o setor privado, ou agir em parceria com agentes sociais.
4 Governana pblica e socidade civil: Uma
relao dialtica
A ideia de que o Estado seria o guardio e protetor do bem comum, assim como a ideia de que a mo invisvel do mercado asseguraria o bem comum so obsoletas, de acordo com Heidemann e Kisller (2006). Para os autores, es-ses dois modelos esto historicamente ultrapas-sados por se pautarem em uma contraposio entre Estado e sociedade. A governana pblica agrupa, a partir de novos arranjos de atores (redes, alianas e etc.), trs lgicas: a do Estado (hierarquia), a do mercado (concorrncia) e a da sociedade civil (comunicao e confi ana). (HEIDEMANN; KISSLER, 2006, p. 7).
Cabe destacar que, segundo Scherer-Warren (2006), essa diviso tripartite coloca a sociedade civil preferencialmente relacionada esfera da defesa da cidadania e suas respectivas formas de organizao em torno de interesses pblicos e valores. Distingue-se, assim, do mercado e do Estado que esto orientados preferencialmente, pelas racionalidades do poder, da regulao e da economia. (SCHERER-WARREN, 2006, p. 110). A autora ressalta, entretanto, que as relaes e confl itos de poder, as disputas por hegemonia, assim como as diversifi cadas e antagnicas representaes sociais e polticas esto presentes na sociedade civil.
Preocupada com a excessiva carga norma-tiva que carrega o conceito de sociedade civil, Lchmann (2007) adverte que a dicotomia entre sistema e mundo da vida, ou ainda o carter homogeneizador, dicotomizador e maniquesta da chamada nova sociedade civil frente ao
Estado, pode obscurecer as relaes tensas e ambguas entre sociedade e Estado ou, ainda, entre sociedade civil e sociedade poltica.
Cabe destacar, frente a esse debate, que governana pblica no implica o estabeleci-mento de relaes sem confl ito. Por ser um tipo de gesto do Estado e referir-se, portanto, dimenso governamental, articula as dimenses econmico-fi nanceira, institucional-administrati-va e sociopoltica, e estabelece parcerias com sociedade civil e mercado em um processo constante de consensos, dissensos e confl itos. A participao da sociedade civil e do mercado nos processos de governana pblica deve, em nosso entendimento, ser considerada uma con-quista de segmentos sociais que demandam por um tipo de gesto compartilhada das polticas pblicas.
No desconsideramos, entretanto, as consequncias econmicas, polticas e sociais da implementao de polticas neoliberais no Brasil. Concordamos com Frey (2004, p. 119) quando destaca que a retrao do Estado pro-movida pelas polticas neoliberais das ltimas duas dcadas e a evidente incapacidade das instituies pblicas enfraquecidas em lidar efi cientemente com os crescentes problemas urbanos traz a necessidade de ampliao do debate da governana no mbito das Cincias Poltica e Administrativa. Nesse sentido, a ques-to da economizao do setor pblico, a partir dos processos de privatizao, terceirizao e Parceria Pblico-Privadas (PPPs),2 no pode deixar de ser questo relevante no debate sobre governana pblica. Para Heidemann e Kissler (2006, p. 11) a economizao do setor pblico fortalece a perspectiva da governana pblica e estimula novos arranjos institucionais entre atores estatais e sociais. Sobretudo, ela demarca espaos para se testar a cooperao e parcerias estratgicas em diferentes campos polticos.
2 No Brasil, a Lei n 11.079, de 30 de dezembro de 2004, ins-tituiu as normas gerais para licitao e contratao de Parceria Pblico-Privada no mbito da Administrao Pblica. Conforme aponta documento do Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior, ao contrrio das privatizaes, nas quais o pa-pel do Estado se limita, basicamente, regulao e superviso das atividades desenvolvidas pelo setor privado, nos programas de PPP o Estado assume a liderana e busca alianas com o setor privado, para que esse participe em uma ou mais etapas de um processo de investimento. (BRASIL, 2008).
-
27Emancipao, Ponta Grossa, 11(1): 21-34, 2011. Disponvel em
Governana Pblica: Um desafi o democracia
Na governana pblica, o cidado no mais o cliente do Estado, no aquele que se limita a fazer reivindicaes ao Estado, mas um cidado que encontra novas formas de participa-o nas decises e novas formas de promoo da igualdade. Como destaca Nobre (2004, p. 30),
[...] do ponto de vista desse modelo de cida-dania em formao, preciso infl uir na prpria lgica da deciso estatal, ampliando mecanis-mos de participao e deciso nas diversas instncias de deliberao e de deciso do Es-tado.
Embora a Gesto Pblica seja objeto de pesquisa tanto no campo da Administrao quan-to no campo da Cincia Poltica, historicamente a Administrao tem enfatizado mais os aspectos instrumentais e processos gerenciais da gesto, enquanto a Cincia Poltica tem enfatizado os aspectos sociopolticos, que compreendem os problemas situados no mago das relaes entre o Estado e a sociedade, envolvendo os direitos dos cidados e sua participao na ges-to pblica. (PAULA, 2005, p. 21). Na rea da Administrao Pblica, surgiram, recentemente, publicaes sobre Gesto Pblica e Prticas de Gesto Pblica.
Analisando a trajetria conceitual da ca-tegoria governana, Paula (2005, p. 79) conclui que, apesar de uma evoluo conceitual, a governana no assimilou adequadamente a dimenso sociopoltica da gesto, pois atual-mente a prtica da governana ainda se reduz abordagem tecnocrtica e tem uma viso ex-cessivamente estreita da poltica. Assim, ainda no foram encontrados caminhos para lidar com questes como confl ito, negociao e coopera-o. (PAULA, 2005). Para a autora, o desafi o de se elaborar arranjos institucionais que viabilizem uma maior representatividade e participao dos cidados na Gesto Pblica se mantm.
Bevir e Rhodes (2001) destacam que a fascinao corrente pelo tema da governana deriva em grande parte das reformas do setor pblico promovidas por governos neoliberais na Gr Bretanha e nos EUA durante a dcada de 1980. A agenda poltica global, a partir da nar-rativa neoliberal, passou a incorporar o conceito de governana enquanto efi cincia crescente no setor pblico; efi cincia supostamente assegura-da por medidas tais como as de marketing, novas
tcnicas de gerenciamento (nova Administrao Pblica), corte de funcionrios, enxugamento do Estado e desburocratizao.
Para os autores, as narrativas dominan-tes de governana so frequentemente: a) a neoliberal e b) aquela da governana como redes. Na narrativa neoliberal, a governana, enquanto nova Gesto Pblica consiste de um setor pblico revitalizado e efi ciente baseado em mercados, competio e tcnicas administrativas importadas do setor privado. Na narrativa da governana como redes, por outro lado, a cate-goria defi nida como redes interorganizacionais, isto , um conjunto complexo de instituies e ligaes institucionais. (BEVIR; RHODES, 2001).
Governana, para Rhodes (1996) de-fi nida como redes interorganizacionais auto--organizadas que complementam mercados e burocracias. So caracterizadas pela confi ana e adequao mtua e expressam o enfraque-cimento das reformas gerenciais enraizadas na competio. Para o autor, embora o termo governana seja um termo popular, no deixa de ser impreciso. H, no mnimo, seis utiliza-es distintas de governana: Estado mnimo, governana corporativa, Administrao Pblica Gerencial, boa governana, sistemas socioci-bernticos e redes auto-organizadas.3
A governana como redes autogovernadas vista como um termo mais amplo em que Go-verno prov servios a partir de intercmbio com os setores privado e voluntrio. Nesse caso, os vnculos interorganizacionais redes formadas por vrios atores interdependentes so carac-tersticas marcantes da proviso de servios. Essa utilizao de governana sugere que as redes so auto-organizadas, autnomas e auto-governadas. Um desafi o chave para o Governo, de acordo com Rhodes (1996), desenvolver as redes e buscar novas formas de cooperao. Para o autor, governana se refere a uma mu-dana do signifi cado de governo, referindo-se, pois, a um novo modo de governar ou um novo mtodo pelo qual a sociedade governada.
Essa preocupao com um novo modo de governar desponta no Brasil no fi nal dos anos de 1990. Nesse momento histrico, a preocupao
3 Para maior compreenso do debate desenvolvido pelo autor ver Rhodes, 1996.
-
28 Emancipao, Ponta Grossa, 11(1): 21-34, 2011. Disponvel em
Luciana RONCONI
com a consolidao da democracia atravs de organizaes efetivas e permeveis participa-o popular introduz o debate sobre a categoria gesto social; concepo que busca abranger a dimenso sociopoltica da Gesto Pblica, ultrapassando sua dimenso de instrumentalida-de. Para Paula (2005), trata-se de estabelecer um tipo de Gesto Pblica que se alimenta de diferentes canais de participao e contempla a complexidade das relaes polticas em um pro-cesso de descentralizao do processo decis-rio. Assim, a categoria gesto social aparece no debate em contraposio gesto estratgica, pois tenta substituir a gesto tecnoburocrtica, monolgica, por um gerenciamento mais partici-pativo, dialgico, no qual o processo decisrio exercido por meio de diferentes sujeitos sociais. (TENRIO, 1998, p. 9).
Para Carvalho (1999), a gesto social se refere gesto das demandas e necessidades dos cidados atravs de um processo descentra-lizado e participativo. Como veremos a seguir, a categoria governana pblica, de acordo com o nosso entendimento, extrapola essa concepo de gesto social enquanto gesto de demandas e necessidades dos cidados por permitir a cria-o de maiores possibilidades de deliberao e participao no processo decisrio.
O tema governana tratado por Boschi (1999) em seus estudos sobre experincias lo-cais de governos que propiciam a participao popular na produo de polticas pblicas ou, ainda, que neutralizam a vigncia de prticas predatrias na relao entre agentes pblicos e cidados.4 Governana compreendida como formatos de gesto pblica que, fundados na interao pblico/privado, tenderiam a assegurar transparncia na formulao e efi ccia na imple-mentao de polticas. (BOSCHI, 1999, p. 2).
Para o autor, trata-se de responder seguinte questo: que fatores explicariam os diferentes graus de sucesso na instaurao de formatos institucionais capazes de assegurar no s o acesso da populao produo de polticas, como tambm respostas concretas, por
4 Boschi (1999) resgata experincias de Gesto Pblica partici-pativa a partir de um estudo comparativo entre as administraes municipais de Belo Horizonte e Salvador, no perodo de 1993 a 1996. Esse estudo se realiza a partir da anlise do Plano Diretor, do Oramento Participativo e dos Conselhos Deliberativo-Consul-tivos dos respectivos municpios.
parte do Governo, em termos de atuao efi caz e responsvel? O sucesso parece residir no estabelecimento de relaes sociais horizontais que tenderiam a fortalecer a sociedade civil frente ao Estado. Contrapondo-se s relaes verticais, assimtricas e hierrquicas que geram prticas autoritrias e relaes sociais predatrias e clientelistas, o estabelecimento de relaes sociais horizontais pode assegurar a continuidade e a institucionalizao das experincias de governana.
Tal horizontalizao poderia garantir a con-tinuidade e institucionalizao das experincias de governana e seria viabilizada a partir de formatos de representao poltica cuja efi ccia dependeria da qualidade (legitimidade e abran-gncia da representao) e densidade (grau de organizao dos interesses representados) da representao. (BOSCHI, 1999). Para o autor
[...] a possibilidade de se institucionalizarem prticas de governana est diretamente re-lacionada maneira pela qual diferentes ar-ranjos podem contrapor-se ou neutralizar a tendncia oposta de captura clientelista..
Por outro lado,
[...] esse efeito neutralizador tem a ver com a gerao de capital social ou, mais especi-fi camente, com a instaurao de prticas e estruturas horizontais que reduzem o impacto de relaes assimtricas extremamente desi-guais. (BOSCHI, 1999, p. 3).
O fator mais importante para o sucesso, continuidade e institucionalizao de uma deter-minada experincia de governana a instaura-o de estruturas de mediao ou representao responsveis por horizontalizar as relaes entre os atores envolvidos. Assim, quanto maior a qua-lidade e a densidade da representao, maiores sero as chances de sucesso da experincia. Por outro lado, o fracasso dessas experincias ou as difi culdades enfrentadas surgem em decorrncia das defi cincias nessas estruturas de represen-tao, a seu enfraquecimento em determinado momento, ou sua permeabilidade em relao a interesses especfi cos que distorcem a natureza da representao. (BOSCHI, 1999).
-
29Emancipao, Ponta Grossa, 11(1): 21-34, 2011. Disponvel em
Governana Pblica: Um desafi o democracia
O fenmeno da representao no interior das experincias de participao5 foco de anlise de Lchmann (2007, p. 151), que considera que a diversidade de regras e critrios de representao no interior dos espaos participativos instaura uma confusa compreenso acerca dos critrios de legitimidade poltica desses espaos. Assim, para a compreenso das diferentes dinmicas de representao e participao necessria a observao dos diferentes desenhos institucionais e dos diferentes tipos de polticas pblicas. A autora destaca que a qualidade e a legitimidade da representao vo depender do grau de articulao e organizao da sociedade civil, ou seja, da participao. (LCHMANN, 2007, p. 166). Nesse sentido, os espaos pblicos de debate fruns de discusso de polticas pblicas e de defi nio e escolha de representantes ou as assembleias regionais e temticas possibilitam a conexo entre representantes e representados, criando novas dinmicas de representao poltica. (LCHMANN, 2007).
Kaus Frey (2004) desenvolve a concepo de governana interativa como uma tendncia de gesto compartilhada que, orientada pela lgica governamental, implica compartilhamento no sentido de transformar os atores da sociedade em aliados na busca de melhores resultados, tanto referentes ao desempenho administrativo quanto em relao ao aumento da legitimidade democrtica. (FREY, 2004, p. 121). Retomando Kooiman (2002), Frey (2004, p. 120) argumenta que a governana pressupe a criao de
[...] condies favorveis para que as inte-raes entre os diversos atores sociais, im-prescindveis para lidar com a diversidade e a complexidade das sociedades contempor-neas, possam acontecer, e pontes de entendi-mento possam ser construdas.
Sob esse aspecto, a questo da impor-tncia do incremento do grau de interao de diferentes atores sociais, de acordo com o autor, tem sido ponto comum nas diferentes concep-es de governana.
5 Sobre a questo da representao no interior das experin-cias participativas dos Conselhos Gestores e do Oramento Par-ticipativo ver Lchmann, 2007.
Um aspecto a ser destacado, com relao concepo de Frey (2004) sobre governana interativa, se refere ao signifi cado do que seja um processo interativo. Por um lado, a ideia de interao sugere comunicao, dilogo, traba-lho compartilhado e, principalmente, trocas e infl uncias recprocas. Por outro lado, a ideia de interatividade pode sugerir reciprocidade, troca ou permuta em um processo alheio a confl itos e disputas polticas. Atores da sociedade civil, quando vistos apenas como aliados para a bus-ca de efi cincia de desempenho administrativo e para o aumento da legitimidade democrtica, podem ter seu papel de infl uncia, na lgica da deciso estatal, diludo.
Bevir e Rhodes (2001) consideram que a categoria governana deve ser compreendida como resultado de disputa de signifi cados entre diferentes atores inspirados por diferentes tradi-es e dilemas. Nesse sentido, podemos pensar que governana pblica, enquanto projeto polti-co em constante mudana, levanta uma disputa na qual as tradies normalmente tm sido modifi cadas como um resultado de acomodar os dilemas anteriores; na qual as leis e normas relevantes algumas vezes foram mudadas como um resultado de confl itos polticos simultneos sobre suas apropriaes e contedos. (BEVIR; RHODES, 2001). Considera-se, assim, que no processo da governana pblica a participao de diferentes atores, nos processos de deciso, nas diversas instncias de deliberao e de de-ciso do Estado, implica confl itos, contradies e disputas de projetos polticos.
Assim, a governana pblica, enquanto for-mato institucional, abre a gesto da coisa pblica participao de diversos atores e gera espaos pblicos de participao e controle social a partir, tambm, de reivindicaes de diferentes atores da sociedade civil. Implica, portanto, na ideia de construo de uma esfera pblica; um campo de disputas e consensos em que esto presentes a representao poltica tradicional e diferentes atores, interesses e organizaes.
Governana pblica no signifi ca, portanto, apenas reforma do Estado nos aspectos fi nan-ceiros e administrativos. Ela implica uma arti-culao das dimenses econmico-fi nanceira, institucional-administrativa e sociopoltica da Gesto Pblica. Implica ainda a democratizao
-
30 Emancipao, Ponta Grossa, 11(1): 21-34, 2011. Disponvel em
Luciana RONCONI
do Estado, a renovao de seus critrios de atuao e uma reforma dos padres de relacio-namento entre Estado e sociedade; depende de uma interveno que, abrangendo toda a esfera pblica, converta as aes estatais em aes efetivamente pblicas, sendo que o controle por parte da sociedade se d atravs do resgate da democratizao e da poltica. (NOGUEIRA, 1998).
Ao pensar sobre a reforma do Estado que se faz necessria, Nogueira (1998) adverte que ela deve ter como motor o aprofundamento da democratizao, o retorno da poltica ao posto de comando, a iniciativa, a imaginao criadora e a disposio para negociar dos governantes, dos partidos, dos sindicatos, das diversas organiza-es sociais. A reforma do Estado s avanar quando a poltica e o espao das decises se abrirem para os mais amplos segmentos sociais; quando houver uma democracia participativa radical.
De acordo com Bevir (2004, p. 13), uma democracia participativa radical trataria seus membros como agentes capazes de deliberar; nesse sentido, capazes de debater. Para o autor, o processo de debate induz as pessoas a refl etir em suas crenas e preferncias possivelmente alterando-as luz do que os outros dizem. por meio do debate que as pessoas exercitam sua agncia e consideram quais ideais e polticas desejam ou no endossar.
Assim, a promoo de uma democracia participativa radical que enfatizasse a delibera-o e conduta tica seria capaz de possibilitar o desenvolvimento de um papel ativo da so-ciedade civil na formulao e implementao de poltica. (BEVIR, 2004). Envolver diversos grupos e indivduos no processo de elaborao poltica traria informaes mais relevantes para a sustentao das polticas. Esse envolvimento traria, ainda, queles afetados pelas polticas, um maior interesse em faz-las funcionar. Uma democracia participativa radical poderia cooperar para a efetividade de polticas pblicas, assim como possibilitar oportunidades para partici-pao, deliberao e gesto. Nesse sentido, a transferncia de aspectos da governana para vrios grupos na sociedade civil aumentaria o nmero e o conjunto de organizaes atravs das quais cidados poderiam estabelecer pro-cessos democrticos. (BEVIR, 2004).
A governana deve focar-se, assim, em uma poltica pblica dialgica. O Estado deve promover processos de dilogo com a sociedade civil nas etapas de deciso, formulao e implementao de polticas. Durante a etapa da deciso as agncias podem envolver os cidados atravs de comits, que servem como locais de negociaes face a face entre agncia representativa e vrios cidados. O modo dialgico enfatiza as normas associadas com a publicizao e accountability, habilitando os cidados a monitorar e questionar a gesto das agncias. A abordagem dialgica ainda destri a ideia de um conjunto de ferramentas para gerenciar redes, pois uma democracia participativa leva desistncia de supostas tcnicas de gerncia em favor de uma prtica da aprendizagem.
Para Bevir (2004), o sistema de governan-a deriva em parte da ideia de que a efetividade das instituies polticas depende da incorpora-o dos stakeholders6 dentro dos processos de deciso. O sistema de governana no deve restringir a participao consulta, mas sim pos-sibilitar um dilogo mais ativo com a sociedade. Existe consenso, portanto, que o sistema de governana pressupe em seu discurso, inclu-so e participao. Consenso primordialmente sobre a necessidade de garantir a participao dos cidados na formulao e implementao das polticas. Todavia, Bevir (2004) destaca que mesmo os grupos reconhecidos pelo Estado como parceiros so invocados somente como veculos para a distribuio de servios; no dado a eles poder para a tomada de deciso. O autor sugere que uma democracia participativa radical promoveria o pluralismo mais do que in-corporao, promovendo tambm mais dilogo do que consulta.
Assim, a democracia participativa radical pode incluir uma pluralidade de associaes democrticas autogovernadas. Para Bevir (2004) no se trata de estabelecer, com as associaes, uma relao de consulta, mas sim de estabele-
6 Stakeholders refere-se ao pblico-alvo. Essa expresso tem sido bastante utilizada dentro do conceito de responsabilidade so-cial para designar todas as pessoas ou empresas (pblico interno ou externo) que, de alguma forma, so infl uenciadas pelas aes de uma organizao.
-
31Emancipao, Ponta Grossa, 11(1): 21-34, 2011. Disponvel em
Governana Pblica: Um desafi o democracia
cer uma relao de dilogo. O mais importante, continua o autor, que polticos e servidores questionem e transformem suas prprias crenas e aes com o processo democrtico.
O sistema de governana defende uma maior participao alm daqueles associados com a democracia representativa. Os defensores da governana compreendem que o envolvimen-to de atores alm dos polticos profi ssionais e servidores civis melhoraro a qualidade da ativi-dade estatal. A governana pblica abre, assim, um espao para uma democracia que vai alm da democracia representativa, uma vez que implica participao do cidado na gesto deliberativa das polticas pblicas e, portanto, nos processos decisrios. Nesse sentido, pode a governana pblica favorecer uma democracia que extra-pola os limites da democracia representativa? Ou, ainda, poderamos de fato afi rmar que ela favorece a democracia deliberativa?
A democracia representativa liberal, de acordo com Bevir (2004), aparece para deixar um grande dfi cit democrtico em muitas reas da governana. O sistema de governana originou--se como um meio de tratar tais dfi cits, mas a governana tem usado os termos de incluso e participao para referir somente incorporao de grupos e processos de consulta. Bevir (2004, p. 26) destaca que
[...] talvez o sistema de governana possa ser um suplemento de valor para a democracia representativa, mas necessrio prudncia, pois no deveria ser levado como um substi-tuto para a democracia representativa.
A democracia representativa apresenta inmeras limitaes, j tratadas por diferentes autores. Hirst (1992, p. 08) salienta que as for-mas de democracia representativa proporcionam nveis muito baixos de prestao de contas pelo governo e de infl uncia popular no processo de tomada e deciso. Sob esses aspectos, conti-nua Hirst (1992), a democracia representativa moderna tem funcionado predominantemente como um meio de legitimao do poder governa-mental. Mas isso no signifi ca que a democracia representativa deva ser suplantada; devem-se criar estratgias de democratizao radical que suplementem a democracia representativa. (HIRST, 1992).
Diferentemente da democracia representa-tiva, ressalta Lchmann (2002, p. 13), a demo-cracia deliberativa prope que as decises sejam fruto de discusses coletivas e pblicas que se expressam em instituies desenhadas para o exerccio efetivo dessa autoridade coletiva. Para a autora, dessa forma, a democracia deliberativa um processo pblico e coletivo de deliberao que tem como pressuposto o pluralismo, a igual-dade participativa, a autonomia e a construo do interesse pblico.
As discusses em torno da democracia deliberativa trazem subsdios para a discusso sobre a governana pblica, uma vez que tal categoria cria a possibilidade de haver delibe-rao e participao no processo decisrio. Nesse aspecto, a contribuio de Bohman (2000) pode iluminar esse debate quando destaca que o sucesso de uma democracia deliberativa de-pende da criao de arranjos institucionais que permitam dilogo livre e aberto entre cidados.
Outra contribuio fundamental ao debate sobre a democracia deliberativa, que nos ajuda a compreender os processos de governana pblica, tem sido dada por Lchmann (2002, p. 34), que adverte que as instituies devem ser construdas coletivamente atravs da discusso pblica. Nesse sentido, requer-se
[...] um aparato institucional pautado em re-gras e critrios que, resultantes de processos deliberativos, sejam capazes de desobstru-rem os canais que impossibilitam ou limitam a efetividade decisria dos processos partici-pativos.
Para a autora, as diferenas de poder e/ou as desigualdades sociais, a cultura clientelista e autoritria e a lgica burocrtica da organizao poltico-institucional, podem limitar ou at mesmo impossibilitar a efetividade decisria dos proces-sos administrativos.
A democracia deliberativa se estabelece a partir dos fruns constitudos entre Estado e so-ciedade civil. Para Avritzer (2000), esses fruns devem partilhar de trs caractersticas centrais para que a argumentao deliberativa ocorra. A primeira delas implica em cesso de um espao decisrio por parte do Estado em favor de uma forma ampliada e pblica de participao.
-
32 Emancipao, Ponta Grossa, 11(1): 21-34, 2011. Disponvel em
Luciana RONCONI
A segunda caracterstica se refere forma como a informao tratada pelos atores sociais. Para o autor, os novos arranjos institucionais se baseiam em duas mudanas em relao concepo de informao. necessrio que se considere primeiramente que o Estado possui informaes incompletas para a tomada de decises e precisa, dessa forma, que os atores sociais tragam informaes para que a deli-berao contemple plenamente os problemas polticos envolvidos. necessrio tambm que se considere que as informaes devem ser compartilhadas e discutidas num processo que leve construo coletiva de solues.
A terceira caracterstica aponta que os arranjos deliberativos trazem a possibilidade de serem testadas mltiplas experincias. Nesse sentido, a inovao institucional depende da ca-pacidade de experimentar e partilhar resultados. Para Avritzer (2000, p. 27), a racionalidade ou a efi cincia, de acordo com essa concepo, gerada de forma descentralizada e a posteriori por mltiplos experimentos.
Para Cohen (2000), a democracia delibe-rativa deve emergir de arranjos que agreguem escolhas coletivas que so estabelecidas em condies de livre e pblica argumentao entre iguais. Implica em uma radicalizao da democracia, com a incluso daqueles que foram alijados do poder.
A governana pblica pode criar um espa-o para o desenvolvimento de uma democracia que vai alm da democracia representativa, uma vez que implica participao do cidado na gesto deliberativa das polticas pblicas e, portanto, nos processos decisrios. Como ad-verte Fedozzi (2000), a democratizao radical do Estado garante a publicizao do mesmo e a viabilizao de uma esfera pblica de cogesto dos recursos pblicos.
5 Consideraes fi nais
Consideramos que a governana pblica, enquanto arranjo institucional democrtico, pode criar espaos deliberativos de discusso, nos quais prevaleam os princpios da incluso, da publicidade, da igualdade participativa, do plu-ralismo, da autonomia e do bem-comum. Vale ressaltar que cabe ao poder pblico, atravs
de vontade poltica e comprometimento com a efetivao do ideal democrtico, desenvolver os mecanismos que permitam e garantam a amplia-o, a pluralizao e a liberdade e igualdade de participao dos cidados. (LCHMANN, 2002).
A governana pblica, enquanto formato institucional abre a gesto da coisa pblica participao de diversos atores e gera espaos pblicos de participao e controle social a partir, tambm, de reivindicaes de diferentes atores da sociedade civil. Implica, portanto, na ideia de construo de uma esfera pblica; um campo de disputas e consensos em que esto presentes a representao poltica tradicional e diferen-tes atores, interesses e organizaes. Nesse sentido, a participao de diferentes atores nos processos de deciso, nas diversas instncias de deliberao e de deciso do Estado, implica confl itos, contradies e disputas de projetos polticos.
A categoria governana pblica recupera a importncia do Estado e das instituies, as-sim como a importncia de atores da sociedade civil para a poltica. Por tratar-se de um arranjo institucional que favorece a democracia, no es-vazia a poltica de valores, interesses e projetos. A governana pblica, em nosso entendimento, resultado da poltica e recupera a poltica ao aproximar a governabilidade da democracia. Como adverte Nogueira (1995, p. 123), o
[...] governo que governa no o governo dos decisionistas e dos lderes determinados, que impem sociedade um dado programa de ao; , ao contrrio, o governo que sabe entrar em sintonia com as tendncias e foras da sociedade para com elas implementar um audacioso programa reformador. (grifos do autor).
Por tratar-se de um modo de governar que se encontra em construo, os desafi os para que se assegure a continuidade e a institucionaliza-o de experincias de governana pblica so imensos. A Gesto Pblica brasileira ainda vive sob as infl uncias de uma Administrao Pblica gerencialista, que coloca nfase na efi cincia administrativa e na centralizao dos processos decisrios. Todavia, estamos diante de um novo modelo de cidadania que tem exigido um novo modelo de governana. A governana pblica expressa vontade poltica e comprometimento
-
33Emancipao, Ponta Grossa, 11(1): 21-34, 2011. Disponvel em
Governana Pblica: Um desafi o democracia
poltico para implementar um projeto democr-tico capaz de cooperar para a ampliao da participao social, do debate pblico, da nego-ciao e deliberao, tendo por base o dilogo e o debate que refl ete valores, interesses e projetos confl itantes pautados nos princpios da igualdade, pluralidade e publicidade.
Referncias
AVRITZER L. Teoria democrtica e deliberao pblica em Habermas e Rawls Departamento de Cincia Poltica da UFMG. Fev. 2000.
BEVIR, M. & RHODES R. A. W., A Decentered Theory of Governance: Rational Choice, Institutionalism,
and Interpretation (March 9, 2001). Institute of Governmental Studies. Paper WP2001-10.
BEVIR, M. Democratic Governance (April 28, 2004). Institute of Governmental Studies. Paper WP2004-5.
BEVIR, M. Democratic Governance (April 28, 2004). Institute of Governmental Studies. Paper WP2004-5.
BEVIR, M.; RHODES R. A. W., A Decentered Theory of Governance: Rational Choice, Institutionalism,
and Interpretation (March 9, 2001). Institute of Governmental Studies. Paper WP2001-10.
BOHMAN, J. La democracia deliberativa y sus crticos. Metapoltica, Mxico, v. 4, n. 14, p. 48-57, abr./jun., 2000.
BOSCHI, R. R. Descentralizao, Clientelismo e Capital Social na Governana Urbana: Comparando Belo Horizonte e Salvador. In: DADOS Revista Brasileira de Cincias Sociais, Rio de Janeiro, v. 42, n.4, 1999.
BRASIL. Lei n 11.079, 30 de dez. 2004. Institui normas gerais para licitao e contratao de parceria pblico-privada no mbito da administrao pblica. Braslia.
CARVALHO, M. C. B. Gesto social: alguns apontamentos para o debate. In: RICO, E. M. e RAICHELIS, R. (Org.). Gesto Social: uma questo em debate. So Paulo: EDUC; IEE, p. 141-171, 1999.
COHEN, J. Procedimiento y sustancia en la democracia deliberativa. Metapoltica, Mxico, v. 4, n. 14, abr./jun., p. 24-47, 2000.
DAGNINO, E.; OLVERA, A.; PANFICHI, A. A disputa pela construo democrtica na Amrica Latina. So Paulo: Paz e Terra: Campinas, SP: Unicamp, 2006.
DENHARDT, R. B. & DENHARDT, J. V. The New Public Service: Serving Rather than steering.
Public Administration Review. Washington: v. 60, n. 6, p. 549-559, nov./dez. 2003.
FEDOZZI L. Oramento Participativo de Porto Alegre: elementos para um debate conceitual. In: FISCHER, Nilton; MOLL, Jaqueline (Org.). Por uma nova esfera pblica. Rio de Janeiro: Vozes, 2000.
FLEURY, S. Democracia com excluso e desigualdade: a difcil equao. Disponvel em: . Acesso em: 15 jul. 2006.
FREY, K. Governana interativa: uma concepo para compreender a gesto pblica participativa? In: Revista de sociologia Poltica / UFSC, v. 1, n. 5, 2004.
HEIDEMANN, F. G. & KISSLER, L. Governana pbica: Novo modelo regulatrio para as relaes entre Estado, Mercado e Sociedade. RAP, Rio de Janeiro, 40, maio/jun. 2006.
HIRST, P. A democracia representativa e seus limites. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1992.
LFFER, E. Governance: Die neue Generation von Staats- und Verwaltungs- modern-isierung. In: Verwaltung + Management, v. 7, n. 4, p. 212-215, 2001.
LCHMANN, L. H. H. A democracia deliberativa: sociedade civil, esfera pblica e institucionalidade. In: Cadernos de Pesquisa, n. 33, nov. 2002a.
LCHMANN, L. H. H. A representao no interior das experincias de participao Lua Nova, So Paulo, 70: 139-170, 2007.
LCHMANN, L. H. H. Os Conselhos Gestores de Polticas Pblicas: desafi os do desenho institucional. Revista de Cincias Sociais Unisinos, n. 161, jul/dez, p. 43-79, 2002b.
LCHMANN, L. H. H. Os sentidos e desafi os da participao. Revista de Cincias Sociais Unisinos, n. 42, jan./abr., p. 19-26, 2006.
LCHMANN, L. H. H. Possibilidades e limites da democracia deliberativa: a experincia do oramento participativo de Porto Alegre, 2002. 226p. Tese (Doutorado em Cincia Poltica) IFCH, Unicamp, Campinas, 2002.
NOGUEIRA, M. A. As possibilidades da poltica: idias para a reforma do Estado. Rio de Janeiro: Paz e Terra, p. 123-305, 1998.
-
34
Luciana RONCONI
Emancipao, Ponta Grossa, 11(1): 21-34, 2011. Disponvel em
NOGUEIRA, M. A. As possibilidades da poltica: idias para a reforma do Estado. Rio de Janeiro: Paz e Terra, p. 123-305, 1998.
NOGUEIRA, M. A. Para uma governabilidade democrtica progressiva. Revista Lua Nova, n. 34, p.105-128, 1995.
NOGUEIRA, M. A. Para uma governabilidade democrtica progressiva. Revista Lua Nova, n. 34, p.105-128, 1995.
PAULA, A. P. P. Por uma nova gesto pblica: limites e potencialidades da experincia contempornea. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2005.
RHODES, R. A. W. Policy network analysis In: MORAN, M.; REIN, M. & GOODIN, Robert. The Oxford Handbook of Public Policy, New York, Oxford University Press, 2006.
RHODES, R. A. W. The new governance: Governing without government. Political studies. University of Newcastle-upon-Tyne. p. 652-667, 1996.
RONCONI, L. F. A. A Secretaria Nacional de Economia Solidria: uma experincia de governana pblica. 2008. Tese (doutorado em Sociologia Poltica), Universidade Federal de Santa Catarina, Florianpolis, 2008.
RONCONI, L. F. A. Gesto social e economia solidria: desafios para o Servio Social. 2003. Dissertao (mestrado em Servio Social), Universidade Federal de Santa Catarina, Florianpolis, 2003.
SCHERER-WARREN I. Das mobilizaes s redes de movimentos sociais. Revista Sociedade e Estado. v. 21, p. 109-130, Braslia. 2006.
SCHERER-WARREN I. Fruns e redes da sociedade civil: percepes sobre excluso social e cidadania. Poltica & Sociedade, v. 6, n. 11, out. 2007.
TATAGIBA, L. Participao, cultura poltica e modelos de gesto: a democracia gerencial e suas ambivalncias. Tese de Doutorado, Campinas-SP, IFCH- UNICAMP, 2003.
TENRIO, F. Gesto Social: uma perspectiva conceitual. Revista de Administrao Pblica. Rio de Janeiro: FGV, v. 32, n. 5, set./nov. 1998.