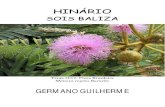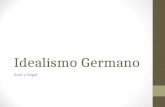germano-9788578791209-04
-
Upload
luciana-pinheiro -
Category
Documents
-
view
7 -
download
3
description
Transcript of germano-9788578791209-04
-
Captulo II Os impasses e a crise da cincia moderna
Marcelo Gomes Germano
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros GERMANO, MG. Uma nova cincia para um novo senso comum [online]. Campina Grande: EDUEPB, 2011. 400 p. ISBN 978-85-7879-072-1. Available from SciELO Books .
All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-ShareAlike 3.0 Unported.
Todo o contedo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, publicado sob a licena Creative Commons Atribuio - Uso No Comercial - Partilha nos Mesmos Termos 3.0 No adaptada.
Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, est bajo licencia de la licencia Creative Commons Reconocimento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.
-
109
Captulo II
Os impasses e a crise da cincia moderna
Sentimos que mesmo depois de serem respondidas todas as questes cientficas
possveis, os problemas da vida permanecem completamente intactos
(Wittgentein).
Crise da modernidade: um quadro geral
Conforme escreve Cambi (1999), ao final do sculo XV e incio do sculo XVI, fecha-se um longo ciclo hist-rico e prepara-se outro, igualmente longo e talvez ainda inconcluso. Ciclo histrico que tem caractersticas profun-damente diferentes do anterior, em relao ao qual opera uma ruptura. Este novo perodo que, para alguns histo-riadores teria seu incio na Renascena, atravessando a Revoluo Francesa e culminando com a industrializao inglesa no sculo XIX, vai ser conhecido, mais tarde, como: a modernidade.
A modernidade inaugura uma crise que resultar no desaparecimento de uma sociedade de ordens, tpica da Idade Mdia, governada pela autoridade poltica, religiosa e cultural representada pela figura do imperador e do papa. Sociedade que, negando as liberdades individuais, valori-zava os grandes organismos coletivos: a Igreja e o Imprio, mas tambm a famlia e a comunidade. Esse modelo entra
-
110
em crise no final dos anos quatrocentos, quando a Europa se laiciza economicamente (fortalecimento do comrcio) e politicamente (nascimento dos estados nacionais), mas tambm ideologicamente (pela separao do mundano e do religioso e pela afirmao da centralidade no homem).
Na viso de Cambi (1999), com o advento da moder-nidade, desloca-se o eixo da histria do Mediterrneo para o Atlntico, do Oriente para o Ocidente e atravs das via-gens de descobrimento e colonizao se estabelecem novos contatos com diferentes reas do mundo, novas culturas e etnias e modelos antropolgicos diferentes. O antigo modelo feudal, ligado a um sistema econmico fechado (baseado na agricultura), cede lugar a uma nova econo-mia de intercmbio, baseada na mercadoria e no dinheiro. Nasce o sistema capitalista que, livre de princpios ticos, de justia e solidariedade, caracteriza-se pelo clculo eco-nmico e pela explorao de todo recurso: natural, humano e tcnico.
No mesmo contexto e nas mesmas bases calculveis e independentes de argumentos subjetivos, nasce a cincia moderna que, a partir das consequncias impostas pela revoluo copernicana, inaugura uma nova maneira de pensar a realidade, uma nova racionalidade que, exigindo a libertao das antigas tradies platnico-agostinianas e aristotlico-tomistas, desafia o antigo conhecimento baseado no obscurantismo religioso e na irracionalidade da tradio especulativa, opondo-lhe o novo mtodo emp-rico e experimental (Galileu, Bacon, Locke e Hume) e uma nova razo de bases cartesianas. O abandono das verdades reveladas sugere um retorno tradio de observao dos
-
111
antigos pr-socrticos, buscando-se na prpria natureza as explicaes para os fenmenos. necessrio estabele-cer um novo tipo de dilogo com a natureza que, segundo Galileu deveria ser travado a partir de modelos mais sim-plificados e em linguagem matemtica. Do mundo fechado que, conforme Koyr (1979) agora abre espao para um universo infinito, tudo deve funcionar conforme as leis imutveis da natureza. O universo deve se enquadrar em uma nova metfora de uma mquina perfeita e ordenada que funcione de acordo com leis endgenas e traduzidas em linguagem matemtica.
Uma outra importante caracterstica da modernidade o surgimento do Estado Moderno, primeiramente abso-luto, centralizado e controlado pelo soberano em todas as suas funes (Maquiavel e Hobbes) e depois o estado liberal (Locke e Rousseau). Um Estado-nao e um Estado-patrimnio atento prosperidade econmica e organizado segundo critrios racionais e de eficincia. Como revolu-o social, surge uma nova classe: a burguesia que nasce nas cidades e promove o novo processo econmico (capi-talismo), estabelecendo uma nova concepo de mundo (laica e racionalista) e novas relaes de poder, opondo-se aristocracia feudal e aliando-se coroa para mais tarde romper tambm com seu modelo de Estado patrimonial e de exerccio absoluto do poder e viabilizar o estado Liberal. No campo ideolgico-cultural, inicia-se um processo de laicizao, emancipando a mentalidade sobretudo das classes altas da viso religiosa do mundo e da vida, ligan-do-a a histria e realidade de suas transformaes, o que vai conduzir a uma nova maneira de ver o mundo e uma nova forma de construo do conhecimento.
-
112
Estas so algumas das caractersticas da modernidade, perodo que vai conhecer o seu apogeu e o incio de sua crise a partir do sculo XIX. neste sculo, que vamos assistir ao triunfo da burguesia industrial, a consolidao do capitalismo de mercado e algumas das mais importan-tes construes da cincia moderna (Eletromagnetismo, Termodinmica, Mecnica Estatstica, etc...).
Para Cambi (1999), essa a poca de maior consolidao e difuso da indstria e maior articulao das burguesias. O trabalho est fortemente relacionado indstria e ace-lera-se o processo de crescimento das cidades. Por outro lado, a realidade do sculo XIX, possibilita o surgimento e articulao poltica de uma nova classe que se ope ao capitalismo burgus: o proletariado.
no sculo XIX que se observa uma frontal luta de classes, exacerbando o medo burgus do espectro do socialismo-comunismo e intensificando as aes de controle das instituies. Dessa forma, era urgente a consolidao da tradicional famlia burguesa centrada no patriarcado, no princpio da propriedade privada e no inalienvel direito a herana; ao mesmo tempo, tornava-se fundamental uma maior consolidao e controle do estado liberal burgus, amplamente criticado pelos defensores do socialismo nas-cente, e das escolas que deveriam garantir uma formao de conformidade ao esprito burgus.
Estes so alguns dos importantes esteios de susten-tao da modernidade. Mas, conforme alguns dos mais importantes autores, a modernidade est em crise e os referenciais tericos que definiram essa poca (Sculos XVI e XVIII) h muito no respondem a uma srie de novas questes postas pela dinmica da prpria realidade.
-
113
Os modelos construdos sobre os pilares do racionalismo cartesiano, mecanicismo newtoniano e iluminismo kan-tiano, tornaram-se insuficientes para dar conta de uma srie de novos problemas gestados a partir de seus pr-prios fundamentos.
Usando a terminologia de Kuhn, diramos que se trata de uma nova crise de paradigmas21e que as caractersticas da nova crise podem apontar para uma questo ainda mais complexa: o problema pode no estar nos paradigmas, mas na validade da existncia de paradigmas. Para Scocglia (1997 ), a crise seria de e no dos paradigmas.
Se a crise de paradigmas no simples prognosticar, no entanto, possvel garantir que no se trata de um sim-ples mal-estar provocado por alguns impasses no universo da cincia moderna. Trata-se mesmo de uma crise que atinge diversos constituintes da modernidade.
De um ponto de vista pragmtico, por exemplo, as promessas da razo iluminista no foram cumpridas e o modelo que nasceu questionando a barbrie da Idade Mdia com seus fundamentos teolgicos, aristotlicos e feudais, acabou produzindo uma crise sem precedentes na histria da humanidade. Para Morin:
Os desenvolvimentos da tecnocincia so ambivalentes. Encolheram a Terra e deram condio imediata de comunicao a todos os pontos do globo, proporcionaram meios para
21 O termo paradigma usado aqui como o conjunto de compromissos de pesquisa de uma comunidade cientfica (constelao de crenas, valores, tcnicas partilhados pelos membros de uma comunidade determinada). (OSTERMANN, 1996; CHALMERS, 1993).
-
114
alimentar todo o planeta e para assegurar a seus habitantes um mnimo de bem estar, mas, ao contrrio, criaram tambm as piores condi-es de morte e de destruio (2003, p.75).
De fato, como tambm reconhece Santos (2005), existe uma ambiguidade no que se refere ao cumprimento das promessas da modernidade. Em alguns casos, os projetos e promessas foram e esto sendo realizados ao extremo, em outros aspectos, o fracasso revela que o saldo da moder-nidade no dos mais otimistas e, sem desmerecer os avanos importantes em vrios pontos, alguns resultados concretos, apontam indubitavelmente para o fracasso no cumprimento de algumas de suas principais promessas.
No que diz respeito s utopias de igualdade, os saldos so aterradores. Com apenas 21% da populao mundial, os pases capitalistas avanados controlam 78% da produ-o mundial de bens e servios e consomem 75% de toda a energia produzida. Por conseguinte, os trabalhadores da indstria txtil ou da eletrnica ganham 20 vezes menos no Terceiro Mundo do que os trabalhadores da Europa e da Amrica do Norte na realizao das mesmas tarefas e com a mesma produtividade. Com a exploso da dvida externa a partir da dcada de oitenta, os pases devedores do Terceiro Mundo tm contribudo em termos lquidos para a riqueza dos pases desenvolvidos pagando a estes em mdia 30 bilhes de dlares por ano. No mesmo perodo, a alimentao disponvel nos pases do Terceiro Mundo foi reduzida em cerca de 30%; enquanto s a rea de produ-o de soja, no Brasil, seria suficiente para alimentar 40 milhes de pessoas se fosse aproveitada para o plantio de milho e feijo (SANTOS, 2005, p.23)
-
115
No que se refere s promessas de liberdade, no se pode comemorar grandes coisas. Quinze milhes de crian-as trabalham em regime de cativeiro na ndia; a violncia policial e prisional atinge ndices alarmantes no Brasil e na Venezuela, enquanto os incidentes raciais aumentaram 276% na Inglaterra entre 1989 e 1996. A violncia sexual contra as mulheres, a prostituio infantil, as vtimas de minas pessoais, as discriminaes contra homossexuais, portadores do HIV, alm de limpezas tnicas e chauvinismo religioso, so apenas algumas das contradies postas pela modernidade (Idem, p.24).
As esperanas de fraternidade e paz foram confronta-das com uma realidade assustadora. Enquanto no sculo XVIII, morreram 4,4 milhes de pessoas em 68 guerras, no sculo XX, morreram 99 milhes de pessoas em 237 guerras. Enquanto entre os sculos XVIII e XX, a popula-o aumentou 3,6 vezes, o nmero de mortos nas guerras aumentou 22,4 vezes. Mesmo depois da queda do muro de Berlim e do fim da guerra fria, a paz no se consoli-dou, sobretudo, por conta dos conflitos entre Estados e no interior destes. Por fim, a promessa de dominao da natureza que, embora esteja sendo cumprida ao extremo, se faz de uma forma perversa e destrutiva. Nos ltimos 50 anos, o mundo perdeu cerca de 1/3 de sua cobertura florestal. Apesar de a floresta tropical fornecer 42% da bio-massa vegetal e do oxignio, 600.000 hectares de florestas mexicanas so destrudos anualmente e as empresas mul-tinacionais controlam hoje o direito de abate de 12 milhes de hectares da floresta amaznica. Um quinto da humani-dade j no tem hoje acesso gua potvel (Idem .24).
-
116
De fato, estes e outros problemas atestam uma crise que abala os principais alicerces da modernidade. Se esta crise se resolve salvando o modelo, ou se aponta para um novo paradigma, uma outra questo. No momento, interessa-nos destacar alguns acontecimentos que possam justificar o que estamos denominando de crise da modernidade.
Em primeiro lugar importante reconhecer que todo esse movimento no se constitui em um fenmeno isolado e particularizado para o campo da cincia moderna. A crise se processa em todos os setores da sociedade: da Famlia ao Estado, da Escola ao Trabalho, das Cincias Naturais as Cincias Sociais, todos os importantes pilares nos quais a modernidade se apoia, tambm esto em crise.
Revoluo de gnero e crise na famlia
Conforme Lvi-Strauss (1980, p. 16), a palavra fam-lia serve para designar um grupo social que possui, pelo menos, as trs caractersticas seguintes: 1) Tem a sua ori-gem no casamento; 2) formado pelo marido, pela esposa e pelos (as) filhos (as) nascidos (as) do casamento, ainda que seja possvel que outros parentes encontrem seu lugar junto do grupo nuclear; 3) Os membros da famlia esto unidos por: a) laos legais, b) direitos e obrigaes eco-nmicas, religiosas e de outro tipo, c) uma rede precisa de direitos e proibies sexuais, alm de uma quantidade varivel e diversificada de sentimentos psicolgicos, tais como amor, afeto, respeito, temor, etc.
Daqui para frente, quando nos referirmos crise da famlia, estaremos remetendo a este conceito, aproximado
-
117
para o modelo da famlia moderna clssica que se baseia em um nico ncleo parental (pai-me-filho), tendo como centro a ideia de afeto, baseado na concepo de criana como um mito de espontaneidade e inocncia.
Para Hobsbawm (1995), at bem pouco tempo, a maioria da humanidade partilhava certo nmero de caractersticas, como a existncia de casamento formal com relaes sexuais privilegiadas para os cnjuges; a superioridade dos mari-dos em relao s esposas e dos pais em relao aos filhos (patriarcado). Quaisquer que fossem a extenso e a com-plexidade da rede de parentescos e dos direitos e obrigaes mtuos, uma famlia nuclear estava sempre presente em alguma parte do mundo. Porm, a partir da segunda metade do sculo XX, esses arranjos bsicos e h muito existentes comearam a mudar com espantosa velocidade.
A crise da famlia revela-se na crise das relaes de gnero, no enfraquecimento do patriarcalismo, na eman-cipao feminina e na afirmao de novos papis sexuais conquistados pelo homossexualismo. O aumento da quanti-dade de divrcios e a substancial diminuio de casamentos formais aliados reduo drstica do nmero de filhos so fatores que confirmam a crise da famlia moderna tradicio-nal. Conforme Hobsbawm (1995), o nmero de pessoas vivendo ss tambm disparou e em muitas grandes cidades ocidentais o nmero de casas com pessoas morando sozi-nhas atingiu a metade do total. Sem falar no caso da China, onde s permitida a presena de um nico filho e grande parte dos casais prefere no ter nenhum.
A simples constatao de todas essas mudanas mais do que suficiente para confirmar que aquele modelo
-
118
clssico de famlia, construdo a partir da modernidade, no se sustenta mais e que novos caminhos devem ser traados a partir da nova realidade que se configura e se desenvolve a uma velocidade cada vez maior.
Crise na escola
Construda sobre as bases do racionalismo cartesiano e do mecanicismo newtoniano, com a crise destes para-digmas, a escola tambm entra em crise. Aquela escola cartesiana e de estilo barroco, que prioriza a razo e des-preza o corpo como uma massa intil, que separa a teoria da prtica e no d conta do ser humano em sua totali-dade, em sua formao como ser para a vida, que oferece os instrumentos para compreenso e dominao da natureza, mas no consegue integrar o homem e o meio ambiente, vai desaparecer (BETTO, 1997).
De fato, as escolas foram ficando para trs no acele-rado processo das mudanas ocorridas no mundo durante o sculo XX e, a partir de seus currculos sistemticos, no conseguem acompanhar satisfatoriamente o acelerado desenvolvimento das ideias e construes cientfico-tecnolgicas de nossa poca. Conforme sugere Gaspar (1993), a distncia entre o saber abrangido pela escola e aquele gerado pelo homem cresce assustadoramente, e a humanidade vai se tornando, cada vez mais, alheia s suas prprias conquistas.
Enquanto a educao formal chega atrasada na corrida para acompanhar a enlouquecida marcha de uma cincia que carrega em suas bases os princpios de desenvolvimento de
-
119
uma sociedade capitalista onde os produtos da tecnologia so oferecidos aos usurios, de forma cada vez mais agres-siva, criando e impondo necessidades, a escola continua resistindo a mudanas em seu formato. Na viso de Betto (1997), nenhuma outra instituio, exceo da Igreja Catlica, tem resistido to fortemente a mudanas em seus aspectos fundamentais, como a escola.
Enquanto nas sociedades contemporneas, as pes-soas tm cada vez mais acesso a um gigantesco arcabouo tecnolgico que entra e sai do mercado numa velocidade alucinante, permitindo um acesso a informaes num curtssimo intervalo de tempo, a escola ainda teima em permanecer no domnio dos discursos e prelees, com nfase nos exerccios baseados na instruo, e na crescente quantidade de contedos e atividades, na maioria das vezes, descontextualizadas e distantes da realidade, apro-ximando-se mais do antigo modelo escolstico, em que o conhecimento circulava apenas nos domnios das escolas, do que da nova realidade do sculo XXI.
Por estes e outros motivos, a escola enfrenta uma de suas maiores crises e dever sofrer profundas modifi-caes em um curto intervalo de tempo. Em um futuro bem prximo, afirma Gardner (1999, p.47), a educao ser significativamente baseada no computador. No s grande parte da instruo e avaliao ser fornecida por computador, mas os hbitos mentais promovidos pelas interaes com o computador sero realados.... De fato, quase j no se escreve mais mo e grande parte dos clculos e grficos matemticos so desenvolvidos pelos computadores. A tecnologia do computador coloca toda a
-
120
informao existente no mundo nas pontas dos dedos do indivduo, literalmente. Isso uma bno e uma maldi-o (GARDNER, 1999, p. 48).
Mas as mudanas no esto associadas unicamente s novas tecnologias. A fluidez do cenrio mundial com suas novas configuraes econmicas e polticas tambm impe novos caminhos para a educao. Mesmo os pases que no simpatizam com valores e instituies democrticas, reconhecem hoje a ascendncia dos mercados e de sua fora. Desde a China, Iraque ou Ir, at os pases aliados do Mercosul, todos encontram-se empenhados em um jogo poderoso de concorrncia, que envolve bens e servios em um mercado cada vez mais global que exige um novo modelo de escola.
A escola do futuro deve estar capacitada a preparar os estudantes para sobreviver nesse implacvel ambiente de crescente individualismo e competitividade e, ao mesmo tempo, possibilitar espaos para uma permanente e persis-tente crtica a esse modelo que, se no for urgentemente interditado, certamente conduzir a resultados catastrfi-cos para o futuro da humanidade.
O Estado
O Estado Moderno caracterizava-se como um Estado-nao e um Estado-patrimnio, atento prosperidade econmica e organizado segundo critrios racionais e de eficincia. Com o processo de globalizao, associado ao poder econmico dos grandes conglomerados empresa-riais, o estado tornou-se um dos parceiros do projeto de
-
121
desenvolvimento, mas no o fator principal e determinante desse projeto. A mundializao da economia rompe com as fronteiras nacionais, questiona o conceito de soberania e inaugura um momento de crise no conceito de Estado-nao e Estado-patrimnio. Fato que resulta num processo de acelerada privatizao de empresas estatais, apoiado na ideia de diminuio do estado e no crescente refluxo e retrao da estrutura estatal na promoo de polticas pblicas, na garantia de seguridade social, ou em projetos de infraestrutura social. Assim, necessrio enfrentar o permanente dualismo entre Estado e Sociedade Civil que, segundo Santos (2003, p.118), nunca foi inequvoco e, de fato, mostrou-se, partida, prenhe de contradies e sujeito a crises constantes.
O princpio de separao entre Estado e sociedade civil engloba tanto a ideia de estado mnimo como a de Estado mximo, e a ao estatal pode ser considerada um inimigo potencial das liberdades individuais e, ao mesmo tempo, uma condio necessria ao seu exerccio. As limitaes dessa resposta no nos permite aprofundar aqui essa ques-to, no entanto, podemos reafirmar o nosso ponto de vista de que, na atual conjuntura brasileira, importante reco-locar a questo do Estado, destacando o seu papel social como promotor de polticas pblicas e regulador das rela-es sociais, enfrentando o problema da corrupo nas instituies pblicas e a discusso acerca das consequn-cias perversas de sua ausncia na sociedade, principalmente neste momento de crise das instituies, de ampliao do desemprego e, consequente, ampliao da desigualdade social e da misria humana.
-
122
O trabalho
Estamos vivenciando um processo acelerado de avano das novas tecnologias da informao e comunicao que convidam a uma reflexo urgente sobre a questo do emprego, do trabalho e das condies sociais em um mundo reconhecidamente globalizado.
Para Menezes (2000), as mudanas promovidas no sistema produtivo e nos servios no deixam dvidas de que, ao longo do sculo XXI, quem ainda estiver traba-lhando no estar realizando tarefas rotineiras, repetitivas ou brutas, pois essas sero realizadas com vantagem por mquinas e sistemas informatizados, de modo que, para participar da produo sero necessrios outros atributos.
De fato, com as mudanas impostas ao sistema produ-tivo, cada vez mais as tarefas rotineiras, repetitivas e brutas vo sendo substitudas por mquinas que requerem um contingente cada vez menor de trabalhadores, com habi-lidades e atribuies completamente diferentes daquelas desenvolvidas at ento. A revoluo da informtica radi-caliza ainda mais este processo e inaugura um perodo de complexidades que, alm de acelerar o processo de mun-dializao, produz um extraordinrio impacto no mundo do trabalho.
Conforme Betto (1997, p.7), estamos vivendo um processo angustiante de avano tecnolgico sem uma reflexo sobre a questo do trabalho, do emprego e das condies sociais geradas pela globalizao. Nesse con-texto, exemplifica: em 1980, a Volkswagen tinha 45 mil funcionrios e fabricava 750 veculos por dia. Hoje (1997)
-
123
produz 1,25 mil diariamente, com 25 mil funcionrios. A Benetton inaugurou em Milo, na Itlia, uma mquina de confeco automatizada e, no dia seguinte, despediu 3 mil funcionrios.
Para alguns historiadores como Hobsbawm,
... as classes operrias acabaram e de maneira muito clara aps a dcada de 1990 tornando-se vtimas das novas tecnologias; sobretudo os homens e mulheres no qualifi-cados das linhas de produo em massa, que podiam ser mais facilmente substitudos por maquinrio automatizado (1995, p.298).
Menos extremista, Antunes (1995) considera que houve, de fato, uma diminuio da classe operria indus-trial tradicional, principalmente nos pases de capitalismo mais avanado, ao mesmo tempo em que se efetivou uma expressiva expanso do trabalho assalariado, sobretudo, com a ampliao do setor de servios.
A substituio massiva de mo-de-obra, em certo sen-tido, parece ameaar a prpria existncia do trabalho. Apenas os poucos capacitados para operarem as novas tecnologias e sintonizados com as novas regras da produo, garantiro presena no mercado. Pois, como j alertara Marx,
medida que o trabalhador separado dos meios de produo, tem incio uma mar-cha inexorvel de desqualificao da fora de trabalho que perde a sua capacidade de interveno subjetiva com a erradica-o dos ofcios e que se completa com a
-
124
subsuno real do trabalho ao capital, ou seja, com o uso capitalista das mquinas (apud GERMANO, 1994, p.173).
O processo torna-se inteiramente objetivo atravs da cincia que introduz uma separao radical entre trabalho e conhecimento. O trabalho torna-se uma mera ao mec-nica e a cincia se coloca fora da subjetividade de quem trabalha porque vai cada vez mais sendo pensada em outro lugar. Na era da informtica digital, aliada a robtica meca-trnica, o processo vai ao extremo, conduzindo a um novo estgio de alienao em que milhes de trabalhadores, for-osamente desqualificados, j se encontram previamente excludos do contexto da produo.
O mais brutal resultado dessas transfor-maes a expanso, sem precedentes na era moderna, do desemprego estrutural, que atinge o mundo em escala global... h uma processualidade contraditria que, de um lado, reduz o operariado industrial e fabril; de outro, aumenta o subproletariado, o tra-balho precrio e o assalariamento do setor de servios. Incorpora o trabalho feminino e exclui os mais jovens e os mais velhos (ANTUNES 1995, p.41/42).
Como j adiantamos, no se trata de uma excluso aci-dental prpria do desenvolvimento da cincia que acaba por criar, despretensiosamente, aparatos para substituir mo-de-obra. No nos esqueamos que o grande sonho dos industriais do sculo XIX aumentar a produo e dispensar mo-de-obra s vai se realizar plenamente no sculo XX, com o advento da ciberntica mecatrnica.
-
125
Em tal contexto, as escolas elementares de qualificao bsica perdem completamente o seu elo de ligao com o processo de produo e mesmo os nveis de excelncia em qualificao acabam sobrando na concorrida disputa pelo trabalho. Cada vez mais se coloca na falta de qualificao e de escolaridade a culpa pela falta de trabalho, quando j se sabe de antemo que:
Uma grande quantidade de seres huma-nos j no mais necessria ao pequeno nmero que molda a economia e detm o poder. Segundo a lgica reinante, uma mul-tido de seres humanos encontra-se assim sem razo razovel para viver neste mundo, onde, entretanto, eles encontraram a vida (FORRESTER, 1997, p. 27).
Forrester situa-se no grupo dos que enxergam a ques-to do trabalho, em sua relao com o capital, de uma tica profundamente pessimista, sem considerar as prprias contradies e flutuaes inerentes a qualquer processo. Decerto que a presena massiva de novas tecnologias, alm de oferecer o conforto e a facilidade de incontveis novos produtos, tambm simplifica consideravelmente as aes dos trabalhadores nas linhas de produo e nos setores de servios, transferindo para as mquinas muitas atividades fundamentais e eliminando grandes contingentes de mo-de-obra. O caso mais conhecido no Brasil dos bancrios, embora muitas outras categorias tenham experimentado problema semelhante. A esse respeito, h duas interpre-taes opostas. Uma, que j adiantamos aqui, defende a tese de que, na medida em que avanam os conhecimentos
-
126
e as inovaes cientfico-tecnolgicas, o trabalhador se desqualifica, principalmente porque o conhecimento incorporado a equipamentos que passam a ser administra-dos por um nmero cada vez mais reduzido de especialistas qualificados. Uma evidncia disso, segundo Schwartzman (1997), seria o crescimento da utilizao de trabalhado-res disciplinados e mais baratos (em geral mulheres) nas linhas de montagens de pases menos desenvolvidos para a produo de produtos eletrnicos e bens de consumo de alta tecnologia.
O ponto de vista contrrio acredita que a desqualificao do trabalho foi um fenmeno caracterstico da Revoluo Industrial do sculo XIX e incio do sculo XX, com a conhecida massificao do trabalho mecnico e repeti-tivo. No contexto atual, pelo contrrio, a produo exigiria maiores nveis de qualificao, liberando os trabalhadores das tarefas brutas e rotineiras (transferidas s maquinas) e tornando-os aptos a compreenderem, de maneira integral, o processo de produo. Desse ponto de vista, estaramos assistindo a uma nova revoluo industrial, que tenderia a recuperar, em um novo patamar, a tradio de competn-cia artesanal sacrificada nas antigas linhas de montagem. Portanto, as inovaes cientfico-tecnolgicas no ten-deriam a diminuir o uso de mo-de-obra desqualificada, mas elimin-la completamente, substituindo-a por traba-lho qualificado e concentrando a produo e a riqueza nos pases que melhor incorporarem o conhecimento aos seus processos produtivos.
Nesta, como em qualquer outra questo, no aconse-lhvel assumir uma posio orientada em determinismos
-
127
cientfico-tecnolgicos. Nesse sentido, acreditamos que as duas tendncias encontram-se em disputa no universo aberto das possibilidades. Em todo caso, no se pode fugir s evidncias de que, incorporado s novas tecnologias ou aos prprios trabalhadores qualificados, o conhecimento tornou-se a maior fora do processo produtivo moderno e, como escreve Gorz (2005, p.29), ... os produtos da atividade social no so mais, principalmente, produtos do trabalho cristalizado, mas sim do conhecimento cris-talizado. Alis, o prprio Marx j havia prenunciado tal processo quando reconheceu que o trabalho imediato e sua quantidade no mais apareciam como o principal determi-nante da produo, mas apenas, como um momento que, embora indispensvel, encontrava-se subalterno em rela-o atividade cientfica geral.
Para Gorz (2005), a fonte de valor encontra-se hoje na inteligncia e na imaginao e os saberes dos indivduos contam mais que o tempo das mquinas. Por conseguinte, o trabalho material remetido periferia do processo, dando lugar ao trabalho imaterial que assume posio central no corao do processo da criao de valor. Como conse-quncia, verifica-se uma diviso de trabalho que j est acontecendo entre as naes e regies com alta tecnologia e o resto do mundo. As primeiras, melhores estrutura-das em termos educativos e com grande contingente de mo-de-obra qualificada, assumem as tarefas mais com-plexas e mais lucrativas, enquanto as segundas assumem o nus das tarefas rotineira, menos qualificadas e pouco lucrativas. Por outro lado, se o conhecimento torna-se a principal moeda de valor, o capital recorrer ao esforo por capitaliz-lo, isto , para privatizar as suas vias de acesso.
-
128
E, como alerta Gorz (Idem, p.31), a negao deste acesso ser uma forma privilegiada de capitalizao das riquezas imateriais.
Se nos primrdios da modernidade, o trabalho era considerado fator de identificao do ser humano, hoje predomina a ideia de mercado, definindo quem est dentro e quem se encontra fora da produo e do consumo. E o trabalho que, sob a gide do capitalismo industrial do sculo XIX j foi considerado uma explorao e um castigo, no novo contexto de crise e excluso, passou a ser con-siderado uma bno: Feliz de quem tem um trabalho (FORRESTER, 1997).
Os Impasses e as Crises Internas
A Termodinmica: um primeiro arranho no determinismo
Embora a prpria consolidao do eletromagnetismo j tenha apontado um impasse no caminho da sonhada unificao das foras fundamentais e revelado a estranha incompatibilidade entre a fsica dos campos gravitacionais e a fsica dos campos eletromagnticos, no universo da Termodinmica, a partir de um problema prtico relativo ao rendimento das mquinas trmicas, que vamos encontrar um dos mais srios obstculos ao determinismo estabele-cido pela mecnica newtoniana.
A primeira lei da Termodinmica pode ser entendida como uma simples reafirmao do princpio mais geral de conservao da energia. De acordo com Nussenzveig
-
129
(1990), a formulao mais abrangente deste princpio foi apresentada em 1847 pelo fsico-matemtico Helmholtz.
... chegamos a concluso de que a natureza como um todo possui um estoque de energia que no pode de forma alguma ser aumentado ou reduzido; e que, por conseguinte, a quan-tidade de energia na natureza to eterna e inaltervel como a quantidade de matria. Expressa desta forma, chamarei esta lei geral de Princpio da Conservao da Energia (apud NUSSENZVEIG, 1990, p.273-274).
O Princpio de Conservao da Energia passou a ser reconhecido e aplicvel a todos os fenmenos at ento conhecidos: mecnicos, trmicos, eltricos, magnticos, fsico-qumicos, astronmicos, e biolgicos. Particularizado para o campo da termodinmica este princpio define a Primeira Lei da Termodinmica que, de maneira simples, pode ser assim enunciada: Em um sistema isolado a energia total permanece constante.
De fato, em qualquer transformao, a energia se con-serva e, embora parte dessa energia seja dissipada na forma de calor tornando-se inaproveitvel, a energia total perma-nece constante. No entanto, um comportamento peculiar da natureza vai exigir mais do que a primeira lei podia ofe-recer como poder de explicao.
Embora a conservao da energia ocorra em qualquer transformao, as transformaes sempre acontecem em um nico e radical sentido: do passado para o presente e dirigindo-se ao futuro. Todos os fenmenos espontneos e naturais so, portanto, irreversveis.
-
130
Ao colocarmos em contato dois corpos de tempera-turas diferentes, a primeira lei da Termodinmica s nos permite concluir que o calor perdido por um dos corpos recebido pelo outro. Porm, a realidade mostra que o calor sempre flui do corpo mais quente para o mais frio. Quando levamos uma vasilha com gua ao fogo, nunca ocorre que a gua, espontaneamente, ceda calor tornan-do-se ainda mais fria, enquanto a chama recebendo aquele calor perdido pela gua torne-se ainda mais quente. Por que isso nunca acontece?
Ao abrirmos vlvula de um botijo de gs, sabemos pela experincia que o gs se expande at preencher o ambiente. O processo inverso, em que o gs retornaria espontaneamente para o interior do recipiente, no vio-laria a primeira lei. Por que, ento, nunca verificamos tal ocorrncia? Por que as peas de um quebra-cabea no se encaixam espontaneamente depois de balanarmos a caixa, fornecendo energia ao sistema? Por que se desencaixam a qualquer movimento ou descuido? A resposta para essa e outras questes vai conduzir a necessria formulao de uma Segunda Lei da Termodinmica.
Embora conduzindo a uma sria controvrsia filosfica, a formulao da Segunda Lei da Termodinmica est dire-tamente vinculada a um problema de ordem econmica, tcnica e de engenharia. A questo era: como aumentar o rendimento e a eficincia das mquinas trmicas, gerando economia de combustvel e maiores lucros para produo capitalista nascente? A primeira construo terica que res-ponde satisfatoriamente essa questo vai ser apresentada por Nicolas Sadi Carnot, um jovem engenheiro francs de apenas 28 anos. Ao apresentar o modelo terico de uma
-
131
mquina trmica ideal, Carnot estabelece como teorema que, (a) Nenhuma mquina trmica que opere entre uma dada fonte quente e uma dada fonte fria pode ter rendi-mento superior ao de uma mquina de Carnot. (b) Todas as mquinas de Carnot que operem entre essas duas fon-tes tero o mesmo rendimento. O estabelecimento de um limite mximo para o rendimento das mquinas trmicas ser, mais tarde, generalizado para o que hoje conhecemos como a Segunda Lei da Termodinmica.
Apresentamos a seguir dois enunciados distintos e equi-valentes para a Segunda Lei que, conforme Nussenzveig (1990, p.334-335), devemos a Kelvin e Clausius, respectivamente.
impossvel realizar um processo cujo nico efeito seja remover calor de um reservatrio trmico e produzir uma quan-tidade equivalente de trabalho. impossvel realizar um processo cujo nico efeito seja transferir calor de uma corpo mais frio para um corpo mais quente.
A consequncia mais importante dos trabalhos de Clausius a existncia de uma nova funo de estado asso-ciada a um estado de equilbrio termodinmico: a entropia.
Segundo Prigogine e Stengers (1997, p.91), em 1865, Clausius realiza a passagem caracterstica entre tecnolo-gia e cosmologia. Embora parecendo limitar-se as suas antigas concluses, agora o faz numa linguagem nova, centralizada em torno do conceito de entropia e revelando de forma mais clara a desnecessria vinculao mecnica
-
132
entre os conceitos de conservao e reversibilidade. Uma transformao fsico-qumica, por exemplo, pode con-servar a energia sem permitir a reversibilidade. Assim, mantendo-se a ideia da conservao da energia enunciada no primeiro princpio, torna-se possvel fazer variar um estado atravs da entropia.
De acordo com Prigogine & Stengers (1997, p.95), sendo S a entropia, temos dS = deS + diS onde deS des-creve o fluxo de entropia entre o sistema e o meio, e diS, a entropia produzida no interior do sistema, ou seja, as transformaes irreversveis mencionadas. Por definio, diS ter sempre valor positivo ou nulo e deS poder ter valor negativo, nulo ou positivo, dependendo dos siste-mas serem isolados, fechados ou abertos. Desta forma, em um sistema isolado o fluxo de entropia exterior nulo, sub-sistindo apenas o termo de produo de entropia interna, diS, de modo que dS = diS 0. Portanto, conclui Prigogine (Idem, p.96), para todo o sistema isolado, o futuro a direo na qual a entropia aumenta.
Mas, que sistema poderia ser mais bem isolado que o universo inteiro? Apoiado nesta premissa Clausius, citado por Prigogine (1996, p.25), d aos dois princpios da Termodinmica um enunciado cosmolgico que desde ento ficou famoso: A energia do universo constante. A entropia do universo cresce na direo de um mximo. O crescimento da entropia designa, pois, a direo do futuro, quer no nvel de um sistema local, quer no nvel do universo como um todo. Nesse caso, a Segunda Lei da Termodinmica permite uma distino muito clara entre passado e futuro, sendo este, o sentido em que a entropia aumenta.
-
133
Longe das disputas de cunho filosfico, a polmica gerada entre energetistas e mecanicistas, no final do sculo XIX, era de natureza lgico-cientfica: como os fenmenos irreversveis observados claramente nos estudos da ter-modinmica poderiam resultar de movimentos atmicos perfeitamente reversveis, conforme ensinava mecnica newtoniana?
Atomista convicto, o fsico austraco Ludwig Edvard Boltzmann, responde a essa questo propondo uma inter-pretao da entropia em termos de movimento atmico e remetendo a questo para o campo da estatstica e das pro-babilidades. Ao estabelecer para um mesmo estado fsico dois nveis possveis de descrio: o primeiro macrosc-pico e relativo a um estado em grande escala, que no caso de um gs corresponde s medidas macroscpicas da pres-so, temperatura e volume e o segundo, correspondendo ao estado em pequena escala, relativo s propriedades detalhadas dos tomos que compem o sistema; no caso de um gs, a especificao das posies e velocidades de suas molculas, Boltzmann conseguiu construir uma teo-ria cintica dos gases e a partir das posies e velocidades mdias das molculas, ou seja, do estado microscpico do sistema, determinar as quantidades associadas ao estado macroscpico: presso, temperatura e volume. Com efeito, estudando as relaes entre os estados macro e microsc-picos de um sistema termodinmico, Boltzmann chegou concluso de que existe uma relao matemtica e estats-tica entre a entropia de um estado macroscpico e o nmero de estados microscpicos a ele associados. Portanto, a Segunda Lei da Termodinmica no teria um carter abso-luto como o princpio de conservao da energia e as leis
-
134
de Newton, mas um carter meramente estatstico e de possibilidade. Nascia, assim, um terceiro enunciado para a Segunda Lei: Em qualquer sistema fsico a tendncia natural o crescimento da desordem; o restabelecimento da ordem s possvel mediante o dispndio de energia. Com efeito, a entropia de um sistema tem uma probabi-lidade muito maior de aumentar do que de diminuir, por conseguinte, a ordem, seja ela qual for, sempre um estado muito particular e estatisticamente pouco provvel.
Mesmo estabelecendo uma racionalizao matemtica do problema que vence o debate com os energetistas e restabelece a crena na previsibilidade das leis fsicas, no resta dvida que o estabelecimento de aproximaes e ten-dencialidades probabilsticas inaugura um precedente que se constitui em um claro obstculo no caminho dos anseios determinsticos da proposta anterior.
A revoluo relativista
Dois sculos depois de Newton, Ernst Mach (1838-1916) vai defender um ponto de vista sobre o movimento e o fluir do tempo que se afasta completamente da concep-o newtoniana. Para Mach:
A questo de que um movimento seja uni-forme em si no tem nenhum sentido. Muito menos podemos falar de um tempo abso-luto (independente de toda variao). Este tempo absoluto no pode ser medido por nenhum movimento, no tem, pois nenhum valor prtico nem cientfico; ningum est
-
135
autorizado a dizer que sabe algo dele; no seno um ocioso conceito metafsico (apud MARTINS 2007, p. 90).
Ainda de acordo com Martins (2007), ao negar a pos-sibilidade de tempo absoluto, considerando-o um conceito puramente metafsico, Mach aproxima-se de Leibniz e de Einstein, a quem influencia diretamente. Contudo, no foi a partir do debate sobre a impossibilidade de um tempo absoluto que nasceu a Teoria da Relatividade, mas de uma dificuldade terica de compatibilizar o eletromagnetismo com o princpio de relatividade da mecnica.
Conforme este princpio, as leis da fsica devem permanecer invariantes por uma transformao de coor-denadas entre sistemas inerciais de referncia, o que no acontecia com as equaes de Maxwell que descreviam o eletromagnetismo.
O problema surge a partir da descoberta de Joseph John Thomson de uma partcula portadora de carga nega-tiva (o eltron), o que revela a natureza discreta da corrente eltrica e exige uma eletrodinmica para corpsculos em movimento, isto , uma teoria que explique o comporta-mento de partculas carregadas deslocando-se em campos eletromagnticos.
Parte do problema foi solucionado por Hendrik Lorenz em 1895, quando forneceu uma frmula que estabelecia a fora que age sobre uma partcula carregada deslocando-se em um campo magntico. Contudo, uma teoria completa deveria integrar em um mesmo quadro conceitual os corpos materiais da mecnica de Newton e o ter eletromagntico,
-
136
duas entidades fsicas que se comportavam diferentemente em relao ao princpio de relatividade do movimento pro-posto por Galileu. O quadro estava montado e o problema cobrava uma soluo. Todavia, a famosa teoria que vai nascer deste problema, no pode ser entendida como uma obra da cabea de Einstein. Neste ponto, concordamos com Martins (1994) que, embora Einstein tenha sido um dos seus principais idealizadores, a Teoria da Relatividade foi desenvolvida por diversos cientistas, cujos mais impor-tantes so: Lorentz, Poincar e o prprio Mach.
Quando, em 1905, Einstein (1879-1955) publica o artigo Sobre a eletrodinmica dos corpos em movi-mento, estabelece dois postulados fundamentais que inauguram a Teoria da Relatividade Especial. O primeiro afirma que as leis da fsica so as mesmas para quaisquer referenciais inerciais e o segundo postula que a velocidade da luz no vcuo tem o mesmo valor para todos os obser-vadores, independente de seus estados de movimento. Aparentemente simples, estes princpios so deveras revolucionrios, conduzindo, como se sabe, ao conceito de espao e tempo relativos e promovendo a unificao entre essas duas quantidades que passaram a definir uma nova entidade fsica: o espao-tempo. Alm disso, demonstra a inconsistncia do conceito de simultaneidade que passa a depender do sistema de referncia de cada observador, no havendo qualquer referencial privilegiado. Outra con-sequncia direta dos postulados de Einstein a conhecida unificao entre massa e energia, que estabelece a equi-valncia entre a massa de um corpo e a energia total que lhe corresponde. Em outras palavras, Einstein sugere que
-
137
matria e energia so manifestaes distintas de uma mesma realidade fsica.
No entanto, diferentemente do que muitas pessoas acreditam, a Teoria da Relatividade no foi construda para dar vazo ao relativismo e postular que, a partir de ento, tudo relativo. Muito pelo contrrio, o objetivo maior de Einstein era salvaguardar as leis fsicas, e o seu alcance determinstico, garantindo a sua invarincia mediante as modificaes dos referenciais, mesmo que para isso tivesse que sacrificar os conceitos absolutos de tempo e espao e postular um absoluto para velocidade da luz, que se torna independente de qualquer referencial. Contudo, no se pode negar o carter revolucionrio da teoria da relativi-dade em relao mecnica newtoniana; uma ruptura que, conforme Bachelard (1984), afasta-se dos principais funda-mentos da teoria anterior.
Embora compatvel com o eletromagnetismo, ainda restava conciliar a Teoria da Relatividade com a gravita-o, generalizando a teoria para referenciais acelerados. Em 1916, Einstein apresenta a Teoria da Relatividade Generalizada e estabelece a equivalncia entre campos gravitacionais e referenciais acelerados, promovendo uma geometrizao definitiva do espao-tempo que passou a ser definido por uma mtrica passvel de ser afetada pela presena do contedo material do universo.
Alm de prever uma pequena dilatao do tempo em presena de campos gravitacionais, a nova teoria levou a novos modelos cosmolgicos e especulaes sobre uma possvel origem do tempo associada origem do universo. Conforme o modelo do Big Bang, ou modelo padro, o
-
138
universo conhecido teria iniciado sua expanso cerca de 15 ou 20 bilhes de anos a partir de uma grande exploso na qual teria origem tambm o tempo.
Ao que nos consta, os eventos que lhes foram anteriores (ao Big Bang) no podem ter tido qualquer conseqncia e, portanto, no devem fazer parte de um modelo cientfico do universo. Devemos, assim, isol-los do modelo e considerar que o tempo comeou com o Big Bang (HAWKING, 1988, p.77).
Alm do reconhecido sucesso, a generalizao da teoria da relatividade conduziu ainda a um estranho e indesejvel paradoxo:
A maravilhosa teoria da relatividade de Einstein, que descrevia a gravidade como uma manifestao da curvatura do espaotempo, na verdade introduziu uma perturbadora dualidade na natureza: de um lado estava o palco o espao curvo, a gravidade; de outro os atores os eltrons, os prtons e os cam-pos eletromagnticos e no havia elo entre eles (Hobsbawm, 1995, p.521).
Durante os ltimos quarenta anos de vida, Einstein trabalhou para conseguir formular uma teoria de campo unificado que unisse gravidade e eletromagnetismo, mas no conseguiu. Teramos mesmo que conviver com as incmodas e permanentes contradies e incertezas? O fsico dinamarqus Niels Bohr achava que sim, que a nica maneira era aceit-las como inevitveis, pois, tendo em
-
139
vista a natureza da linguagem humana, no havia como expressar a totalidade da matria numa descrio nica. No podia haver modelo nico diretamente abrangente.
Mecnica Quntica: entre previses e incertezas
Quase na mesma poca da revoluo relativista e a partir do estudo da radiao de um corpo ideal denominado corpo negro, Max Planck apresentou para a comunidade cient-fica um resultado matemtico que explicava o problema da radiao de cavidade, admitindo que a energia no era algo contnuo como se imaginava na poca, mas aparecia, em pequenssimas quantidades discretas(os quanta). Para explicar outro problema surgido em anlises da interao da luz com a matria, Einstein vai sugerir uma modelo cor-puscular para luz e, apoiado na teoria de Planck, definir os ftons como pequenssimos pacotes de luz que possuem energia e momento. Nascia Mecnica Quntica. Uma nova e controvertida construo terica relacionada ao universo das partculas subatmicas que, alm de outras coisas, esta-belecia como princpio a inevitvel incerteza concernente s medidas simultneas de posio e momento (x.p ), como tambm, uma relao de incerteza relativa a medi-das simultneas do tempo e da energia (t.E ) . Nesse caso, no nos permitido observar o tomo no momento exato de um decaimento, nem determinar com certeza a sua durao sem diminuir o conhecimento da energia.
Um eltron num estado excitado cuja pro-babilidade de transio espontnea seja elevada (curta durao) tem uma incer-teza grande em sua energia, ou seja, ela
-
140
mal definida. Por outro lado a energia do estado fundamental bem definida, mas um eltron pode ficar um tempo muito longo (o que corresponde a uma grande incerteza no tempo) nesse estado, at ser excitado (MARTINS, 2004, p.84).
Tambm nos negado conhecer simultaneamente a posio e a quantidade de movimento de partculas ele-mentares, o que remete novamente questo para o terreno das probabilidades. Nesse caso, como nos lem-bra Maturana (2002, p.137), o sistema muda de estado quando observado, de modo que a prpria inteno do observador de antever seu curso estrutural o arranca de seu domnio de previso. As certezas no so possveis e o incmodo do indeterminismo se revela na clebre frase de Einstein: Deus no joga dados.
Embora considerando que todo o problema ainda seja resolvido dentro de uma mesma lgica matemtica que, ao determinar o tamanho da incerteza e controlar as flu-tuaes probabilsticas, fortalece a crena nas leis fsicas e em sua capacidade de descrever a realidade at mesmo em seus imprevisveis escorreges, as concluses da Mecnica Quntica so, de fato, perturbadoras para o carter determi-nstico da Mecnica Clssica, e sugerem uma clara ruptura com o paradigma que sustentava a cincia em sua verso moderna.
A crise, no entanto, continua avanando e conforme Hobsbawm (1995) atinge at os domnios da matemtica. Kurt Godel, um lgico matemtico austraco, provou que um sistema de axiomas no pode se basear em si mesmo.
-
141
Se quer ser provado como consistente, necessrio empre-gar princpios de fora do sistema. No se poderia pensar sequer num mundo consistente internamente. A confuso que atinge essa poca melhor traduzida nas palavras de Planck:
Estamos vivendo um momento bastante singular da histria. um momento de crise no sentido literal desta palavra. Em cada ramo de nossa civilizao espiritual e mate-rial parecemos ter chegado a um ponto de virada crtico. Esse esprito se mostra no s no estado real dos assuntos pblicos, mas tambm na atitude geral em relao a valo-res fundamentais na vida pessoal e social [...] Agora o iconoclasta invadiu o templo da cincia. Dificilmente haver um axioma cientfico que no seja hoje negado por algum. E ao mesmo tempo praticamente qualquer teoria idiota quase certamente teria crentes e discpulos num lugar ou nou-tro (apud HOBSBAWM, 1995, p.523).
Toda essa confluncia revolucionria no se limitar ao universo das cincias naturais, nem ao campo particular da Fsica. Em muitas outras reas das cincias tambm sero constatadas importantes rupturas que prenunciam o nasci-mento de novos modelos paradigmticos.
-
142
Novos rumos nas Cincias Sociais
A nova maneira determinista de tratar a natureza iniciada com a especulao ativa e modelar proposta por Galileu e generalizada por Newton possibilitou a cincia moderna um poder de explicao da realidade to peculiar e convincente que passou a influenciar diretamente as cincias sociais. No era difcil concluir que os mesmos mtodos matemticos e experimentais to satisfatoriamente aplicados ao territrio da Fsica, no pudessem ser utilizados nas cincias sociais. No entanto, as primeiras tentativas foram decepcionantes e, de acordo com Bernal (1977), mesmo filsofos respeita-dos como Spinoza e Leibniz, no conseguiram convencer que as questes de tica e moral poderiam ser aferidas com o mesmo rigor da geometria.
Ainda no contexto do sculo XVII, um outro tipo de estudo se revela promissor. So as estatsticas sobre a vida que encontram o seu ponto de partida na obra Comentrio sobre as taxas de mortalidade. Uma tentativa de Graunt (1620-1674) em aplicar critrios de medio ao campo social. De acordo com Castro (2007), as estatsticas aplicadas Sociologia sero uma verdadeira febre no sculo XIX.
Em uma cultura nascente que passa a valorizar as cincias exatas quase como uma religio, no nenhuma surpresa o surgimento de uma Sociologia influenciada por este movimento, uma espcie de Sociologia positiva22 que
22 O positivismo entendido aqui como uma concepo que se assenta nos seguintes pressupostos: a realidade enquanto dotada de exterioridade; o conhecimento como representao do real; a averso metafsica e ao carter parasitrio da filosofia em relao cincia; a dualidade entre fatos
-
143
pretendia antever os acontecimentos sociais com a mesma metodologia empregada pelas cincias naturais; uma esp-cie de interpretao fsica aplicada ao dinamismo social. Os nomes de Bacon, Locke, Hobbes, Vico e Montesquieu so precursores desse movimento que, mais tarde, ampliado e aprofundado para as vises que fundamentam as obras de Kant, Comte, Spencer Durkheim e todo o ilu-minismo dos sculos XVIII e XIX.
Coerente com a crena na plasticidade da natureza humana, Bacon (1561- 1626) sustenta a possibilidade de seu aperfeioamento, isto , dadas s condies sociais, jurdicas e politicamente adequadas, semelhana das condies iniciais utilizadas nas cincias naturais, tambm seria possvel determinar, com perfeito rigor, o aperfeioa-mento da sociedade futura. De outro lado, uma importante contribuio para a teoria poltica moderna foi a publica-o, em 1651, da obra Leviat de autoria de Hobbes. nessa obra que o autor apresenta uma justificao racional em favor do absolutismo, defendendo a tese de que a vida em sociedade seria inviabilizada se os homens tivessem a liberdade de agir livremente. Se em seu estado de natu-reza, o homem egosta e lobo do prprio homem, s um poder absoluto poderia garantir a estabilidade social. Na contramo deste projeto, Locke (1633-1704), como um dos principais defensores do liberalismo econmico e pol-tico, defende a tese de um Estado Civil e Poltico em que
e valores com a implicao de que o conhecimento emprico logicamente discrepante do prosseguimento de objetos morais ou da observao de regras ticas; a noo de unidade da cincia nos termos da qual as cincias sociais e as cincias naturais partilham a mesma fundamentao lgica e at metodolgica (SANTOS 2003,p.52)
-
144
os homens decidem estabelecer um pacto atravs do qual criam o Estado e a Sociedade, garantindo ao mesmo tempo a propriedade individual, a liberdade e a segurana. Alm disso, Locke tambm responsvel por uma das primei-ras tentativas de aplicar os novos mtodos matemticos ao comrcio.
Montesquieu (1689-1755), em sua obra principal, O Esprito das Leis, procura estabelecer uma relao un-voca entre as leis do sistema jurdico e as leis da natureza e pode ser considerado um precursor da sociologia do direito. Aos nomes destes importantes pioneiros da socio-logia moderna, ainda devemos acrescentar a contribuio de Rousseau, com a sua teoria da virtuosidade inata do homem e a proposta de um novo contrato social.
Diferente da maioria dos iluministas, Rousseau alerta para os desastres que o progresso estava trazendo para a humanidade e reconhece que as cincias podem ser perigo-sas justamente pelos feitos que produzem.
Tambm merece destaque nesse contexto de ascenso das cincias sociais no sculo XVIII, os trabalhos dos enci-clopedistas Diderot e Voltaire, sobretudo, pelas crticas vorazes dirigidas Igreja que certamente contriburam para minar a f no j agonizante mundo medieval. Todavia, con-forme afirma Bernal (1977), a todas essas correntes faltava capacidade de reunir simultaneamente a mentalidade histrica e prtica. Uma exceo seria o caso de Vico (168-1744), o primeiro a enfrentar o problema da contradio entre a liberdade e a imprevisibilidade das aes indivi-duais e a determinao possvel das aes coletivas. Vico reconhece que a literatura e as leis do passado refletem as
-
145
caractersticas do desenvolvimento social de seu tempo e a sociedade, em todo o seu comportamento, constitui uma unidade sujeita a transformaes em que os movimentos da histria, determinam a natureza das instituies. Mas em Marx que Bernal vai identificar uma verdadeira cincia da sociedade. Se a tecnologia havia encontrado a soluo de seus problemas atravs das cincias fsicas e de sua capacidade de conhecer os mecanismos da natureza para poder control-la, o que faltava no sculo XIX era o apare-cimento de uma cincia da sociedade que pudesse assegurar o controle da sociedade pelas pessoas que a compunham. A criao desta cincia da sociedade estava destinada a ser a grande faanha de Karl Marx e Friedrich Engels (BERNAL, 1977, p.1101).
A partir da teoria marxista, as anlises sociolgicas se bifurcam em dois grupos distintos e rivais: os comu-nistas e os liberais. Trs representantes importantes da sociologia liberal do sculo XIX so: August Comte (1798-1857), Herbert Spencer (1820- 1903) e mile Durkheim (1858-1917). O primeiro acreditava que a partir de um novo mtodo baseado na cincia positiva, que substitusse as antigas interpretaes religiosas e filosficas, seria fcil alcanar um ordenamento perfeito da sociedade. Alm de dogmtica e reacionria a sociologia de Comte era uma aplicao grosseira das cincias fsicas ao campo social. Spencer, como fiel defensor do capitalismo liberal, pro-ceder a uma reformulao na sociologia de Comte lhe fornecendo novas bases, a partir de conhecimentos biol-gicos. Sua teoria se baseia em uma suposta lei do aumento contnuo e necessrio da complexidade e diferenciao no mundo, mais do que na observao dos mecanismos
-
146
materiais que a explicam. Para Durkheim, o fundador da sociologia acadmica, era necessrio estudar os fenmenos sociais como se fossem fenmenos naturais, reduzindo os fatos sociais s suas dimenses externas, observveis e mensurveis. Como j referimos, uma verdadeira obsesso pela medida e pelas estatsticas, marcar as cincias sociais no sculo XIX.
Para estes pensadores do iluminismo apenas na aparncia a histria era um amontoado de acontecimentos, ocorridos ao acaso. A verdadeira face do ser aparecia na ordem dos eventos segundo os aspectos universais e imutveis da razo, cabendo, portanto, ao exerccio metdico do conhecimento o trabalho de controle do acaso, por meio do enunciado dos princpios e leis que organi-zam o mundo da natureza e dos homens (DE DECCA apud SCOCUGLIA, 1997, p.121).
Apesar de a vertente mecanicista ter predominado, bem como a ideia de que as cincias sociais nasceram para ser empricas, pensamento que prevaleceu ao longo de todo sculo XIX e parte do sculo XX, na viso de Santos (2004a), uma outra corrente marginal, hoje cada vez mais reconhecida, sempre reivindicou um estatuto epistemol-gico e metodolgico prprio, com base na particularidade do ser humano em relao natureza. Conforme essa viso, as cincias sociais sero sempre subjetivas, anali-sando os fenmenos sociais a partir das atitudes mentais e do sentido que os agentes conferem s suas prticas. Nesse caso, so necessrias metodologias e epistemologias dife-rentes daquelas utilizadas nas cincias naturais, mtodos
-
147
qualitativos que possam conduzir a um conhecimento intersubjetivo, descritivo e compreensivo, em lugar de um conhecimento objetivo, quantitativo e explicativo.
De fato, a prpria crise no contexto das cincias natu-rais, particularmente as novas criaes no campo da fsica contribuiu para questionar as bases tericas do positi-vismo, do evolucionismo sociolgico e do marxismo. A nova realidade exigiu uma reviso dos excessos determi-nistas, recolocando em outros patamares a questo da subjetividade e da objetividade do conhecimento cientfico. Esta nova concepo de cincia social caracteriza-se numa postura antipositivista e, de acordo com Santos (2004a), assenta na tradio filosfica da fenomenologia e nela con-vergem diferentes variantes, a exemplo da sociologia de Max Weber e de Peter Winch.
Como na cincia clssica, a historiografia tambm vai construir seus principais modelos paradigmticos no sculo XIX e princpios do sculo XX. Para Martins (2004), a evoluo da historiografia aparece com o que se chama de fundamentao metdico-documental, essencial para a disciplina acadmica contempornea, desenvolvida pelos tratadistas do sculo XIX e da primeira dcada do sculo XX. Portanto, a disciplina da historiografia, no sentido moderno do termo, foi fundada, na transio do sc. XIX para o XX, mediante um primeiro corpo de regras e nor-mas metodolgicas fixado sob influncia do positivismo e do historicismo. No entanto, nas dcadas de 1920 e sobretudo de 1930, mudanas fundamentais ocorreram tanto na maneira de considerar as formas constitutivas da historiografia quanto em muitos outros campos da
-
148
criao intelectual. Mudanas que vo resultar em novas concepes que rejeitam a historiografia na antiga linha metdico-histrica.
Conforme Martins (2004), os trs grandes ncleos da inovao historiogrfica que predominaram na segunda metade do sc. XX a historiografia marxista, a Escola dos Annales e a historiografia quantitativa surgiram e se articularam em torno de centros de interesse bem diversos e alcanaram graus muito distintos de coeso e homoge-neidade. Parte substancial dessa novidade est no apenas na multiplicidade de paradigmas, mas, especialmente, na circunstncia de que os paradigmas operaram de modo praticamente simultneo, sem constituir uma sequncia de substituies.
Nos anos oitenta, constata-se uma mudana no pano-rama das tendncias e ensaios no campo da teoria e da pesquisa social em seu conjunto, includa a historiografia em todas as suas variaes. A poca das grandes propos-tas paradigmticas, como as do marxismo, dos Annales e do quantitativismo estrutural, que se estendeu dos anos 1940 at os 1980, sucedeu a fase da crise dos paradigmas e da busca de novas formas de investigao e de expresso. Assim, ao se encerrar o sc. XX, a grande linha de desen-volvimento que fez da histria um inegvel xito cognitivo ao longo de mais de cinquenta anos, parece ter sofrido uma forte inflexo, da qual resultou a perda de atrativo da hist-ria-cincia em benefcio da histria-ensaio.
Consideradas as mudanas de conceitos verificadas ao longo dessa histria, o enfrentamento da questo relativa veracidade do discurso cientfico resulta em uma intensa
-
149
produo acadmica, sobretudo no campo da epistemo-logia e filosofia da cincia. A questo j fora inaugurada por Hume quando colocou, em xeque, o princpio da indu-o e, embora Kant tenha buscado vencer esta dificuldade admitindo que o princpio da induo fosse vlido a priori, no conseguiu alcanar grande xito em seu monumental empreendimento. O problema da verdade de enunciados universais construdos a partir de experincias singulares e o status de verdade do discurso cientfico continuam em evidncia nos debates epistemolgicos contemporneos.
A crise epistemolgica: os primeiros recuos
O falsificacionismo de Popper
Como um dos mais importantes expoentes desse debate, Karl Popper23 contrape o seu racionalismo crtico ao positivismo24 lgico do Crculo de Viena25, reconhecendo o
23 Sir Karl Raimund Popper, filsofo da cincia austraco e naturalizado brit-nico, nasceu em Viena a 28 de julho de 1902 e morreu em Londres, 17 de setembro de 1994. considerado um dos mais influentes filsofos da cin-cia do sculo XX, mas tambm foi um filsofo social e poltico de estatura considervel, um grande defensor da democracia liberal capitalista.
24 O positivismo lgico caracteriza-se pela sua nfase na unificao da cin-cia, pelo modelo de explicao hipottico-dedutivo e pelo papel central da linguagem matemtica na construo do rigor e da universalidade do conhe-cimento cientfico (SANTOS 2003, p.52)
25 Grupo de filsofos e cientistas que se reuniam informalmente em Viena (1922 - 1936) volta da figura de Moritz Schlick e que desenvolveu um sistema filosfico conhecido como Positivismo lgico. Com o assassinato de Moritz por um estudante universitrio e a ascenso do partido Nazista, o crculo foi dissolvido em 1936. Participaram do Crculo de Viena: Rudol Carnap, Otto Neurath, Herbert Feigl, Philipp Frank, Fredrich Waissman, Hens Hahn.
-
150
carter provisrio do conhecimento cientfico e defendendo o falsificacionismo como nico critrio de verdade para uma teoria cientfica. Na viso popperiana, as melhores teorias so aquelas que, afirmadas com maior clareza e abran-gncia, melhor se expem crtica e falsificabilidade. Conforme o autor, para avaliar uma teoria, o cientista deve indagar se pode ser criticada, isto , se se expe a crticas e, em caso afirmativo, se a elas resiste (POPPER,1982, ). Na obra A Lgica da Pesquisa Cientfica, Popper apresenta sua posio de maneira contundente.
Contudo, s reconhecerei um sistema como emprico ou cientfico se ele for passvel de comprovao pela experincia. Essas con-sideraes sugerem que seja tomado como critrio de demarcao no a verificabilidade, mas a falseabilidade de um sistema. [...] deve ser possvel refutar, pela experincia, um sistema cientfico emprico (2002, p.42).
Como se observa, Popper no exige que um sistema cientfico seja dado como definitivamente vlido, em um sentido positivo do termo, mas que sua forma lgica esteja aberta validao atravs de provas empricas em um sentido negativo. Portanto, uma teoria falsificvel se, e somente se, apresentar pelo menos um elemento poten-cialmente falsificador, isto , algum enunciado que permita uma contestao clara da teoria. Nesse caso, como sugere Lakatos (1999), a honestidade intelectual no consiste em abrir trincheiras ou estabelecer uma posio compro-vando-a, mas em especificar, com clareza e preciso, em
-
151
que condies o indivduo est disposto a desistir de sua posio. Conforme afirma Popper,
... aquilo que caracteriza o mtodo emp-rico sua maneira de expor falsificao de todos os modos concebveis, o sistema a ser submetido a prova. O seu objetivo no o de salvar a vida de sistemas insustent-veis, mas, pelo contrrio, o de selecionar o que se revele, comparativamente, o melhor, expondo-os todos a mais violenta luta pela sobrevivncia (2002, p.44).
No entanto, de acordo Silveira (1996b), o racionalismo crtico ainda aponta um critrio de verdade objetiva como ideia reguladora, isto , um padro do qual podemos ficar abaixo, como se existisse uma verdade da qual sempre possvel aproximar-se, mas sem nunca poder alcanar. O falsificacionismo de Popper ser criticado por Tomas Kuhn, tanto no que se refere ao entendimento das revolues cientficas como no critrio de validao da cincia.
A cincia normal e as revolues cientficas de Kuhn
A nova concepo de cincia apresentada por Thomas Kuhn26 (2003) diferencia-se das ideias de Popper em pon-tos essenciais, embora mantenha a crtica ao empirismo
26 Thomas Kuhn (1922-1996) nasceu nos Estados Unidos e iniciou sua car-reira universitria como fsico terico, mais tarde interessando-se pelo estudo da Histria e Filosofia da Cincia. Tornou-se mestre, em 1946 e doutor em 1949, pela Universidade de Harvard. Foi professor de Histria da Cincia na Universidade da Califrnia at 1956, e entre 1964 e 1979, ensinou em Princeton. Neste ltimo ano, transferiu-se para o Instituto de Massachussetts, onde foi professor de Filosofia e Histria da Cincia at 1991.
-
152
indutivista e reconhea o carter construtivo e processual do conhecimento cientfico.
Em termos gerais, a epistemologia de Kuhn prope a exis-tncia dos chamados perodos de cincia normal27 nos quais a comunidade cientfica converte-se a um determinado paradigma que mais tarde ser confrontado e interrompido por uma revoluo cientfica, seguindo-se um outro perodo de cincia normal, nova revoluo cientfica, e assim por diante.
Enquanto Popper estabelece o falsificacionismo como o principal critrio de cientificidade, para Kuhn (2003), na existncia de um paradigma capaz de sustentar uma tra-dio de cincia normal que se verifica a distino entre cincia e no-cincia. exatamente o recuo da crtica que inaugura a transio para uma cincia. Desse ponto de vista, as teorias no so falsificadas por comparaes dire-tas com a natureza, mas por adoo de um novo paradigma revolucionrio e incompatvel com o anterior. Semelhante a Popper, o problema de Kuhn tambm est relacionado com as revolues cientficas. Porm, enquanto Popper entende a cincia como um processo permanente de crti-cas e revolues, para Kuhn, as revolues so excepcionais e extracintificas, ou seja, em tempos de cincia normal, as crticas so temidas e exorcizadas.
A cincia normal, atividade na qual a maio-ria dos cientistas emprega inevitavelmente quase todo o seu tempo, baseada no pres-suposto de que a comunidade cientfica sabe
27 Conforme esclarece Kuhn, cincia normal significa a pesquisa firme-mente baseada em uma ou mais realizaes cientficas passadas. Essas realizaes so conhecidas durante algum tempo por alguma comunidade cientfica especfica como proporcionando os fundamentos para sua pr-tica posterior (2003, p. 29).
-
153
como o mundo. Grande parte do sucesso do empreendimento deriva da disposio da comunidade para defender esse pressuposto [...] a cincia normal frequentemente suprime novidades fundamentais, porque estas sub-vertem necessariamente seus compromissos bsicos (KUHN, 2003, p. 24).
Nesse sentido, considera falsificacionismo ingnuo acre-ditar que com base na simples refutao se pode desqualificar uma teoria fortemente estabelecida. Conforme a tese de Kuhn, s nos raros momentos de crise possvel refutao e eliminao de uma teoria. Apenas quando a comunidade cientfica no consegue mais esquivar-se das anomalias que subvertem os fundamentos das prticas tradicionais da cin-cia normal, iniciam-se as investigaes extraordinrias que, possivelmente, conduziro a um novo quadro de compro-missos, garantia de uma nova prtica de cincia normal. So estes episdios extraordinrios que Tomas Kuhn, denomina de revolues cientficas. justamente durante esses perodos que irrompe uma nova e revolucionria viso de mundo, exigindo uma ruptura com a antiga situao na qual a comu-nidade cientfica estava familiarizada. A partir de ento, o mundo de suas pesquisas tornar-se- incomensurvel com o que habitava anteriormente (KUHN, 2003, p. 148). Consequentemente, a superioridade de uma teoria sobre outra no pode ser demonstrada atravs de uma simples discusso, mas, conforme sugere Kuhn, apenas atravs de tentativas de persuaso. No entanto, mesmo essas tentativas de persuaso so problemticas e o prprio autor reconhece o problema.
percebem a mesma situao de maneira diversa e que, no obstante isso, utilizam o mesmo vocabulrio para discuti-la, devem
-
154
estar empregando as palavras de modo dife-rente. Eles falam a partir daquilo que chamei de pontos de vista incomensurveis. Se no podem nem se comunicar como podero persuadir um ao outro (2003, p.249)?
Em todo caso, ainda resta aos interlocutores que no se compreendem mutuamente o reconhecimento de que so membros de diferentes comunidades de linguagem, para a partir de ento, tornarem-se tradutores. Esta a soluo final apresentada por Kuhn.
Contudo, admitindo-se a incomensurabilidade entre paradigmas, a natureza do argumento cientfico seria muito mais persuasiva que verdadeira e, na viso de Kuhn, os tipos de fatores que se mostram eficientes em fazer com que os cientistas mudem de paradigma uma questo a ser resolvida atravs da investigao psicolgica e socio-lgica (CHALMERS, 1993, p.133). Considerando que a Psicologia e a Sociologia no possuam o status de cincia, era natural que a epistemologia kuhniana fosse acusada de promover o relativismo irracional, sobretudo porque no apresentava nenhum critrio universal que oferecesse a garantia de que um dos paradigmas aproximava-se mais da verdade do que o outro. A esse respeito, Lakatos (1999, p. 10) reclama: lamento fundamentalmente que Kuhn, depois de reconhecido o insucesso do justificacionismo e do falsificacionismo em fornecer descries racionais do desenvolvimento cientfico, parea agora inclinar-se para o irracionalismo
-
155
Lakatos e os programas de pesquisa
na defesa de Popper e contra o suposto relativismo kuhniano que se coloca a epistemologia de Imre Lakatos28 e a sua Metodologia dos Programas de Pesquisa Cientfica.
Grande admirador das ideias popperianas, Lakatos acredita que, na lgica da descoberta cientfica de Popper convergem duas posies distintas, das quais Kuhn s compreendeu uma delas: o falsificacionismo ingnuo. Nesse sentido, ele mesmo explicita o seu projeto de trabalho:
... penso que a crtica que ele lhe faz correta e irei at mesmo refor-la. Mas Kuhn no compreende uma posio mais sofisticada cuja racionalidade no se baseia no falsifi-cacionismo ingnuo. Tentarei explicar e posteriormente reforar esta posio mais consistente de Popper que, na minha opi-nio, pode escapar a severidade de Kuhn, e apresenta as revolues cientficas no como converses religiosas mas antes como progresso racional (LAKATOS, 1999,p.11).
De fato, em sua Metodologia dos Programas de Investigao Cientfica, Lakatos considera a cincia como um imenso programa de pesquisa baseado na suprema regra heurstica de Popper: arquitetar conjecturas que tenham maior contedo emprico do que as suas predecessoras
28 Graduado em matemtica, fsica e filososfia, Imre Lakatos nasceu na Hungria em 1922, tornando-se comunista durante a segunda guerra mundial. Depois da guerra, continua seus estudos em Budapeste sob a orientao de Geoge Lukcs.
-
156
(1999 p.54). No entanto, as caractersticas dos seus progra-mas de investigao cientfica so relativamente diferentes do falsificacionismo popperiano. Conforme Lakatos,
Todos os programas de investigao cientfica podem ser caracterizados pelo seu ncleo firme. A heurstica negativa do programa impede-nos de orientar o modus tollens para este ncleo firme. Em vez disso, devemos utilizar o nosso engenho para articular, ou mesmo inventar, hipteses auxiliares que formem uma cintura protetora em torno deste ncleo e, em seguida, reorientar o modus tol-lenss para estas hipteses (1999, p. 55).
Como se v, os programas de investigao cientfica, propostos por Lakatos, apresentam um ncleo irredutvel (ncleo duro), protegido e menos exposto falsificao, e um cinturo protetor capaz de enfrentar os frequentes ata-ques e anomalias, protegendo e sustentando o programa at quanto possvel. Entretanto, como ocorre a superao de um programa por outro? O prprio Lakatos (Idem, p.55) responde: Um programa de investigao bem sucedido se tudo isso conduz a uma alterao de problemas pro-gressiva; fracassa, se tudo isto conduz a uma alterao de problemas degenerativa. Neste caso, se houver dois pro-gramas de pesquisa rivais em confronto e um deles avana enquanto o outro degenera, a comunidade cientfica tende a aderir ao programa progressivo e rejeitar o outro. Grosso modo, essa a explicao das revolues cientficas apon-tada por Lakatos.
-
157
Embora haja uma clara semelhana com as ideias de Kuhn, Lakatos contrrio tese da incomensurabilidade e acredita que o problema central da filosofia da cincia seja estabelecer condies universais sob as quais uma teoria seja cientfica. Portanto, se como afirmam os partidrios do relativismo, no houver um critrio superior para avaliar uma teoria, que no o consenso entre a comunidade cien-tfica, a mudana na cincia tornar-se- uma mera questo de psicologia social e de poder. De acordo com Lakatos, o objetivo da cincia a verdade, e a metodologia dos pro-gramas de pesquisa cientfica, apoiada em um possvel julgamento da histria da cincia, oferece a maneira mais adequada de avaliarmos em que medida nos aproximamos dela (CHALMERS, 1993).
De fato, conforme reconhece Feyerabend (2007), depois de Kuhn, Lakatos foi um dos poucos pensadores que, para alm do debate inoperante entre os neoposi-tivistas do crculo de Viena e o racionalismo crtico, enfrentou, com maior perspiccia, o problema da discre-pncia entre cincia e racionalidade, tentando elimin-la por intermdio de uma complexa e interessante teoria da racionalidade. Contudo, conclui o autor, no logrou xito em seu projeto.
Feyerabend e o anarquismo epistemolgico
Se o fato de reconhecer a natureza construtiva da cincia e o seu carter aproximativo em relao verdade colocou os nomes de Kuhn, Popper e Lakatos como inimigos da cincia,
-
158
certamente o nome de Feyerabend29 seria acrescentado a esta lista como o pior de todos eles. Amigo ntimo de Lakatos, Feyerabend trilha por caminhos diferentes e compartilha ideias estranhas s do companheiro. a partir desta diver-gncia intelectual que, seguindo uma sugesto e cobrana de Lakatos, surge obra Contra o Mtodo e, conforme reconhece o prprio Feyerabend ao escrever o prefcio primeira edi-o, deveria ter sido publicada em conjunto com uma rplica produzida pelo amigo. Com a morte de Lakatos, em 1974, o texto foi publicado sem a esperada refutao. Publiquei, sem sua rplica, minha parte de nosso empreendimento comum (FEYERABEND, 2007, p.7).
Em sua investida contra o mtodo, Feyerabend, com o seu reconhecido anarquismo metodolgico, defende a tese de que o conhecimento no uma gradativa aproximao da verdade, mas antes um oceano de alternativas mutua-mente incompatveis e em muitos casos, incomensurveis. As questes centrais que orientam suas teses so postas da seguinte maneira:
possvel assim criar uma tradio que mantida coesa por regras estritas, e at certo ponto, que tambm bem-sucedida. Mas ser que desejvel dar apoio a tal tradi-o a ponto de excluir tudo mais? Devemos ceder-lhe os direitos exclusivos de negociar com o conhecimento, de modo que qual-quer resultado obtido por outros mtodos
29 Paul Karl Feyerabend (1924-1994) austraco, Dr. em Fsica pela Universidade de Viena, cientista e filsofo da cincia com especialidade em teatro e doutor honoris causa em Letras e Humanidades. Foi assistente de Berthold Brechet. Defende a tese do pluralismo metodolgico.
-
159
seja imediatamente rejeitado? E ser que os cientistas invariavelmente permanece-ram nos limites das tradies que definiram dessa maneira estreita (2007, p.34)?
Naturalmente, as respostas para todas estas indaga-es so negaes que constituem a essncia da tese de Feyerabend. Para o autor, cada teoria, cada conto de fadas e cada mito que faz parte da coleo, fora os outros a uma articulao maior, todos contribuindo, mediante este processo de competio para o desenvolvimento de nossa conscincia (Idem, p.46).
Mas se no tarefa da cincia a busca gradativa da ver-dade, ento, qual ser mesmo o seu objetivo? De acordo com Feyerabend (Idem, p.47), tornar forte a posio fraca, como diziam os sofistas, e, desse modo, sustentar o movimento do todo. Nesse sentido, a sua crtica abrange tanto o racionalismo em sua verso original como o raciona-lismo crtico de Popper e Lakatos. Por outro lado, aproxima-se de Kuhn no que se refere incomensurabilidade dos para-digmas contrrios e, embora admita certa possibilidade de comparao entre estes, assevera que esta s pode ser feita com base em argumentos subjetivos. Nesse caso, o que permanece, depois de removidas as possibilidades de com-paraes lgicas entre teorias, so julgamentos estticos, preconceitos metafsicos, desejos religiosos, enfim, o que permanece de fato, so argumentos de natureza subjetiva.
Alm de reconhecer o carter subjetivo que envolve as verdades do discurso da cincia, Feyerabend tambm enfrenta a questo da comparao do conhecimento cien-tfico com outras formas de conhecimento, radicalizando
-
160
pontos de vista controvertidos e revolucionrios. Para ele, a cincia uma ideologia e como tal no deve pretender-se superior aos mitos, teologia, metafsica e outras formas de cosmoviso. Nesses termos, um Estado laico e demo-crtico no pode adotar uma racionalidade cientfica.
Em uma sociedade democrtica, institui-es, programas de pesquisa e sugestes tm, portanto, de estar sujeitos ao controle pblico; preciso que haja uma separao entre Estado e cincia da mesma forma que h uma separao entre Estado e ins-tituies religiosas, e a cincia deveria ser ensinada como uma concepo entre muitas e no como o nico caminho para a verdade e a realidade (FEYERABEND, 2007, p.8-9).
Essa uma afirmao que aparece repetidamente em vrios momentos da tese de Feyerabend. Com efeito, se a cincia possui uma ideologia prpria, caberia imp-la ape-nas aos seus adeptos mais interessados, e no a todos os cidados. Deveramos ensin-la, mas somente queles que decidiram aderir a essa particular superstio (REGNER 1996, p. 224). Numa concepo feyerabendiana, a tenta-tiva de fazer crescer a liberdade e de levar uma vida plena e gratificante e a correspondente tentativa de conhecer os segredos da natureza e do homem, exige, portanto, a rejei-o de todos os padres universais e de todas as tradies rgidas, conduzindo, naturalmente, a rejeio de grande parte da cincia contempornea.
-
161
Bachelard e a filosofia do no
Embora siga um caminho original e distinto, particu-larmente influenciado pela revoluo cientfica do final do sculo XIX e incio do sculo XX (Teoria da Relatividade e Mecnica Quntica), um outro nome importante do pensa-mento revolucionrio sobre a natureza da cincia o nome de Gaston Bachelard30. Para ele:
O empirismo e o racionalismo esto ligados, no pensamento cientfico, por um estranho lao, to forte como o que une o prazer dor. Com efeito, um deles triunfa dando razo ao outro: o empirismo precisa ser compre-endido; o racionalismo precisa ser aplicado (BACHELARD, 1984, p.4).
Em outros momentos, Bachelard reafirma esta posio, caracterizando o seu pensamento como idealista militante e racionalista engajado. Com o seu racionalismo adjetivado, defende a necessidade de uma nova razo, livre e seme-lhante quela que o surrealismo instaurou na criao artstica. Poderamos afirmar que o trao principal de sua filosofia o reconhecimento da natureza histrica da epis-temologia e da relatividade do objeto de conhecimento. De
30 Gaston Bachelard nasceu em 1884 em Champagne, interior da Frana, e morreu em Paris em 1962. Foi professor secundrio de Fsica e Qumica, membro da Academia de Cincias Morais e Polticas da Frana, laure-ado com o Prmio Nacional de Letras e autor de vrias obras filosficas, alm de renomado professor da Sorbone. Suas primeiras teses: Ensaios sobre o conhecimento aproximado e Estudo sobre a evoluo de um problema de Fsica: a propagao trmica dos slidos so teses de 1928 (BACHELARD, 1984).
-
162
modo que, a cincia relativista, ao colocar o objeto como relao, impe um rompimento epistemolgico com o empirismo ingnuo.
Em sua A Filosofia do No, Bachelard (1984) defende a tese de que no existe uma evoluo contnua das ideias cientficas, mas um processo permanente de rupturas episte-molgicas, de modo que um conhecimento se impe negando o anterior, comeando pela negao do conhecimento de senso comum, primeiro obstculo epistemolgico ao desen-volvimento cientfico, e prosseguindo com as negativas no interior da prpria cincia. Nesse sentido, combate a ideia de que entre a cincia e o senso comum existe apenas uma diferena de profundidade. Esta concepo refutada por Bachelard encontra apoio em alguns filsofos, como Alves (1985), para quem a cincia apenas uma hipertrofia de capacidades que todos tm, uma especializao de certos rgos e um refinamento disciplinado do senso comum.
Segundo Bachelard, conhecemos sempre contra um conhecimento anterior, por isso no existem verdades primeiras, apenas os primeiros erros. Como filsofo da desiluso, acredita que somos o limite das nossas iluses perdidas e que a cincia um discurso verdadeiro sobre fundo de erro; um processo de produo da verdade, o trabalho dos cientistas no processo de reorganizao da experincia em um esquema racional, de modo que, a verdade da cincia de hoje, no a verdade da cincia de sempre. (BACHELARD, 1996, 1984).
Como vimos, os impasses no interior do prprio dis-curso da cincia, bem como os fracassos pragmticos de muitos de seus projetos acabaram por revelar que o iderio
-
163
de promessas da modernidade e os fundamentos bsicos de sua cincia, no conduziram aos propsitos idealizados e, nem de longe, cumpriram as utopias do sonho iluminista em sua nascente. Nesse contexto, alm das questes e impasses internos ao prprio universo das cincias naturais, revelados nas prprias controvrsias epistemolgicas sucintamente discutidas na seo anterior, outras crticas foram sendo forjadas a partir da constatao de um inegvel fracasso de algumas das mais vislumbrantes promessas apoiadas no vitorioso projeto da cincia moderna. Uma crtica que, sustentada em bases sociolgicas e filosficas, tambm no poderia deixar de ter lugar em nosso percurso.
Outros olhares crticos sobre a cincia
Gramsci e a tradio marxista
Problematizado pela realidade de sua poca, Gramsci31 foi um exemplo de revolucionrio marxista que no ficou preso s teorias passadas, mas, aprofundando a anlise da
31 Antnio Gramsci nasceu na Itlia, em 22 de janeiro de 1891, e aos 20 anos de idade emigrou de sua cidade natal na Ilha da Sardenha. J em 1912, filia-se ao Partido Socialista Italiano e, em primeiro de maio de 1919, funda o semanrio ORDINE NOUVO. Seguindo sua trajetria de intelectual engajado, em janeiro de 1921, Gramsci e seus companheiros da redao do ORDINE NUOVO esto entre os principais fundadores do Partido Comunista Italiano. Em 1924, eleito deputado ao Parlamento Nacional italiano e no mesmo ano ataca duramente o primeiro ministro Benito Mussolini. Detido, julgado e condenado a 20 anos, quatro meses e cinco dias de priso. Em 1929, a partir de uma realidade de prisioneiro poltico, comea a escrever as suas reflexes sobre vrios temas. Escritos que foram reunidos na sua obra principal, conhecida como Cadernos do Crcere. Acometido de srios problemas de sade, em 1937, morre numa clnica vtima de um derrame cerebral (MAESTRI, 2007).
-
164
obra de Marx e de vrias correntes marxistas, acabou cons-truindo uma viso particularmente original de temas que, h muito, eram tratados de forma dogmtica e reducionista. Nesse sentido, a crtica gramsciana fundamentada em um contexto onde se verifica uma forte influncia do pen-samento cientfico-natural no mbito da teoria marxista. contra este movimento que o marxista italiano contrape o seu pensamento de uma prxis centrada na histria.
De fato, o projeto marxista no escapou forte influ-ncia determinista disseminada a partir da vitoriosa consolidao das cincias naturais modernas. E, buscando legitimar-se enquanto discurso cientfico, tentou cons-truir uma compreenso da realidade a partir de algumas premissas bsicas, de natureza universal e determinista, estabelecendo, como tais, as relaes econmicas e a luta de classes como a energia impulsionadora da hist-ria. Evidentemente, como escreve Engels, deve haver uma identidade entre as leis que regem a natureza e as leis que do racionalidade histria.
(...) na natureza, impem-se, na confuso das mutaes sem nmero, as mesmas leis dialticas do movimento que, tambm na histria presidem a trama aparentemente fortuita dos acontecimentos; as mes-mas leis que, formando igualmente o fio que acompanha, do comeo at o fim, a histria da evoluo realizada pelo pensa-mento humano, alcanam pouco a pouco a conscincia do homem pensante... (apud GUIMARES, 1998, p.80).
-
165
Portanto, assim como a consolidao da cincia moderna destri definitivamente a antiga filosofia da natu-reza, embora, ironicamente a principal obra de Newton (Princpios Matemticos da Filosofia Natural) ainda car-regue esse nome, o marxismo, pelo menos como pensava Engels, tambm vai aniquilar com a ideia de uma filosofia da histria.
Certamente influenciado pelas leis do movimento de Newton, Engels, que dedicar oito anos de sua vida ao estudo da matemtica e das cincias naturais, procura estabelecer as trs leis fundamentais da dialtica: 1. a lei da contradio, 2. a transformao da quantidade em qualidade, 3. e a lei da negao. A partir de ento, o mar-xismo passou a ser compreendido de uma maneira dual: o materialismo histrico como a cincia da sociedade e da natureza e o materialismo dialtico como estudo das leis do conhecimento. (GUIMARES, 1998, p.81).
Por outro lado, na apressada inteno de imprimir uma legitimidade cientfica ao marxismo, Engels inaugura um problemtico monismo materialista que, alicerado em uma concepo metafsica de matria, vai alimentar uma compreenso dualista da realidade em termos de idealismo X materialismo.
A resposta para essa questo, apresentada pelo mate-rialismo histrico engeliano, apresentada (desvelada ou exposta) por Trivins nos seguintes termos:
O materialismo dialtico apia-se na cincia para configurar sua concepo do mundo. Resumidamente, podemos dizer que o mate-rialismo dialtico reconhece como essncia
-
166
do mundo a matria que, de acordo com as leis do movimento, se transforma, que a matria anterior conscincia e que a rea-lidade objetiva e suas leis so cognoscveis (1987, p.23).
Com semelhante compreenso fortalece-se uma concepo determinista da realidade, assumindo-se o conhecimento como simples reflexo da natureza na mente do homem e a ideia de que o materialismo dialtico seria uma simples inverso do idealismo Hegeliano. Esse caminho conduz a uma viso linear da histria e, por con-seguinte, a uma forma mais radical de determinismo.
De fato, a partir de uma concepo reduzida da pr-xis, Engels prossegue a uma reduo do prp