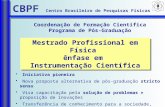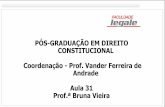Faculdade de Letras Coordenação do Programa de Pós-Graduação ...
Transcript of Faculdade de Letras Coordenação do Programa de Pós-Graduação ...

Universidade Federal do Rio de Janeiro
Faculdade de Letras
Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Letras Vernáculas
XIV SEMINÁRIO DE DISSERTAÇÕES E TESES EM ANDAMENTO
SEDITA - LEV
PROGRAMAÇÃO
Dia 09/11/2016
9h50 – Abertura
Professora Eleonora Ziller Camenietzki
Diretora da Faculdade de Letras/UFRJ
Professora Maria Mercedes Riveiro Quintans Sebold
Coordenadora de Pós-Graduação da Faculdade de Letras
Professora Ângela Beatriz de Carvalho Faria
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Letras (Letras Vernáculas)
Professor João Moraes
Substituto Eventual da Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Letras (Letras Vernáculas)
Victor Azevedo
Louise Correa
Anna Carolina Avelheda
Gizelly Fernandes Maia dos Reis
Representantes Discentes PPGLEV

10h – 11h – Conferência
Local: Auditório G1
Professor Eduardo Kenedy
Múltiplas Gramáticas do PB e Questões de Letramento Formal
11h – 12h30 – Mesa-Redonda 1 – Língua Portuguesa
Local: Auditório G1
Professora Victoria Wilson da Costa Coelho (UERJ/FFP)
A Escrita na Universidade: Dilemas e Desafios
Professora Adriana Tavares Maurício Lessa (UFRRJ)
O Aspecto no PB e as Contribuições de seu Estudo para a Teoria Sintática
Professora Maria Jussara Abraçado de Almeida (UFF)
Conceptualização do Espaço e Referenciação Dêitica no Português Brasileiro
12h30h – 14h – Intervalo para o almoço
14h – 17h – Sessões de Comunicação
Área de Concentração: Língua Portuguesa

SESSÕES DE COMUNICAÇÃO
Área de Concentração: LÍNGUA PORTUGUESA
Dia 09/11/2016
Sessão 1 – Língua Portuguesa (Mestrado/Doutorado)
Debatedores: Danielle Kely Gomes (UFRJ) e Maristela Pinto (UFFRJ)
Local: SALA F-206
HORÁRIO DISCENTE TRABALHO ORIENTADOR
14h – 14h20
Silvia Carolina
Gomes de Souza
ALTEAMENTO DAS VOGAIS PRETÔNICAS: ESTUDO
DE CRENÇAS E ATITUDES
Eliete Figueira Batista
da Silveira
14h25 – 14h45
Mayra Santana O RÓTICO EM CODA SILÁBICA NO PORTUGUÊS DO
SUL DO BRASIL: VARIAÇÃO E PROSÓDIA Carolina Ribeiro Serra
14h50 –
15h10
Manuella Carnaval FOCO INFORMACIONAL E FOCO CONTRASTIVO NO
PORTUGUÊS DO BRASIL: UMA ABORDAGEM
PROSÓDICA
João Antônio de
Moraes
15h15 – 15h35
Aline Ponciano dos
Santos Silvestre
O DESGARRAMENTO DE ORAÇÕES ADVERBIAIS EM
DUAS VARIEDADES DO PORTUGUÊS
Violeta Virginia
Rodrigues
15h40 – 16h
Adriana Cristina
Lopes Gonçalves
A JUSTAPOSIÇÃO NA INTERFACE SINTAXE-
PROSÓDIA
Violeta Virginia
Rodrigues
16h05 –
16h25
Rachel de Carvalho Pinto Escobar
Silvestre1
A MULTIFUNCIONALIDADE DO ARTICULADOR
PARA EM PB
Violeta Virginia
Rodrigues
16h30 – 16h50
Gustavo Benevenuti
Machado2
MULTIFUNCIONALIDADE E DESGARRAMENTO DE ONDE: UMA ABORDAGEM FUNCIONALISTA
Violeta Virginia
Rodrigues
Sessão 2 – Língua Portuguesa (Mestrado/Doutorado)
Debatedores: Lucia Teixeira (UFF) e Beatriz Protti Christino (UFRJ)
Local: SALA F-208
HORÁRIO NOME TRABALHO ORIENTADOR
14h –
14h20
Paula Crespo Halfeld
O MODO DE ORGANIZAÇÃO ENUNCIATIVO NO
GÊNERO BLOG: UM ESTUDO SOBRE A DIVERSIDADE
CONTRATUAL E A MANIFESTAÇÃO DA
SUBJETIVIDADE
Maria Aparecida Lino
Pauliukonis
14h25 – 14h45
Vanessa Candida de
Souza REPORTAGEM E EMOÇÕES
Maria Aparecida Lino
Pauliukonis
14h50 –
15h10
Raquel Souza da
Silva
AS ESCOLHAS LEXICAIS COMO MARCAS DE
IDENTIDADE IDEOLÓGICA DO DESTINATÁRIO E DO
SUJEITO ENUNCIADOR NA ARGUMENTAÇÃO
MIDIÁTICA
Maria Aparecida Lino
Pauliukonis
15h15 –
15h35
Amanda Heiderich
Marchon
HIPOTAXE CIRCUNSTANCIAL: ESTRATÉGIA
ARGUMENTATIVA? UM ESTUDO DE INTERFACE SINTÁTICO-DISCURSIVA
Maria Aparecida Lino
Pauliukonis
15h40 – 16h
Marcia Andrade
Morais Cabral
A ARGUMENTAÇÃO EM TEXTOS DE SYLVIA
ORTHOF SOB O PONTO DE VISTA DA SEMIÓTICA Regina Souza Gomes
16h05 – 16h25
Margareth Andrade
Morais
REFERENCIAÇÃO EM CAMPO: A CONSTRUÇÃO DE
SENTIDOS NA NOTÍCIA ESPORTIVA
Leonor Werneck dos
Santos
1 Esta apresentação não irá ocorrer, em virtude de o discente estar envolvido no I Seminário do Grupo de Pesquisa Conectivos
e Conexão de Orações, que se realiza na Universidade Federal Fluminense (08/11/2016 – 10/11/2016). 2 Esta apresentação não irá ocorrer, em virtude de o discente estar envolvido no I Seminário do Grupo de Pesquisa Conectivos
e Conexão de Orações, que se realiza na Universidade Federal Fluminense (08/11/2016 – 10/11/2016).

Sessão 3 – Língua Portuguesa (Mestrado/Doutorado)
Debatedores: Gilson Freire (UFRRJ) e Andréa Rodrigues (UERJ)
Local: SALA F-210
HORÁRIO DISCENTE TRABALHO ORIENTADOR
14h –
14h20
Giselle Maria Sarti
Leal Muniz Alves
EMOÇÃO E PUBLICIDADE: EFEITOS PATÊMICOS E
REPRESENTAÇÕES DE GÊNEROS EM PEÇAS
PUBLICITÁRIAS DE REVISTAS IMPRESSAS
Lúcia Helena Martins
Gouvêa
14h25 – 14h45
Roberto de Farias
David Junior
A CONSTRUÇÃO DO ETHOS DISCURSIVO EM
EDITORIAIS DO JORNAL O GLOBO
Lúcia Helena Martins
Gouvêa
14h50 – 15h10
Paulo Gonçalves
Cerqueira
CONSTRUÇÕES PLUSQUAM: PROCESSOS
ESTRUTURAIS INTERJETIVOS
Maria Lucia Leitão de
Almeida
15h15 –
15h35
Alexandre Batista da
Silva
OS DÊITICOS ESPACIAIS LÁ E ALI E AS
COORDENADAS ESPACIAIS EM PORTUGUÊS
BRASILEIRO
Maria Lucia Leitão de
Almeida
15h40 –
16h
Jorge Luiz Ferreira
Lisboa Junior
DA SEMÂNTICA DE CASOS À SEMÂNTICA DE
PREPOSIÇÕES: A EXPRESSÃO DO GENITIVO EM
PORTUGUÊS
Maria Lucia Leitão de
Almeida
16h05 –
16h25
Marcus Vinicius
Brotto de Almeida
ENSINO DA ESCRITA: A METACOGNIÇÃO E A
CONSCIÊNCIA METATEXTUAL APLICADAS AO
ENSINO DA ORGANIZAÇÃO TÓPICA DO
PARÁGRAFO
Ana Flávia Lopes
Magela Gerhardt
Sessão 4 – Língua Portuguesa (Mestrado/Doutorado)
Debatedores: Roberto Botelho Rondinini (UFRRJ) e Caio Castro (CEFET-RJ)
Local: SALA F-220
HORÁRIO DISCENTE TRABALHO ORIENTADOR
14h –
14h20
Bismarck Zanco de
Moura
CONSTRUÇÕES COM O VERBO-SUPORTE HAVER: A
VARIAÇÃO ENTRE PREDICADORES COMPLEXOS E
FORMAS VERBAIS SIMPLES
Marcia dos Santos
Machado Vieira
14h25 –
14h45 João Carlos Tavares
da Silva
O PAPEL DOS ESQUEMAS DE IMAGEM NO
PROCESSO DE FORMAÇÃO DE DENOMINAIS EM
PORTUGUÊS
Carlos Alexandre
Victorio Gonçalves
14h50 – 15h10
Ana Cristina Rosito
de Oliveira FORMAÇÕES X-NEJO NO PORTUGUÊS DO BRASIL
Carlos Alexandre
Victorio Gonçalves
15h15 – 15h35
Camila Nunes de
Melo -TECA: COMPOSIÇÃO OU DERIVAÇÃO?
Carlos Alexandre
Victorio Gonçalves
15h40 – 16h
Mariana Delesderrier
da Silva
AS CONSTRUÇÕES DE TÓPICO MARCADO NA ESCRITA
DE ESTUDANTES EM PROCESSO DE LETRAMENTO Mônica Tavares Orsini
Sessão 5 – Língua Portuguesa (Mestrado/Doutorado)
Debatedores: Juliana Segadas Vianna (UFRRJ) e Mayara Nicolau de Paula (UFRJ)
Local: SALA F-324
HORÁRIO DISCENTE TRABALHO ORIENTADOR
14h –
14h20
Diana Silva Thomaz A POSIÇÃO DOS CLÍTICOS EM CARTAS PESSOAIS
DOS SÉCULOS XIX E XX: AS FAMÍLIAS PEDREIRA
FERRAZ E ABREU MAGALHÃES
Silvia Regina de
Oliveira Cavalcante
14h25 –
14h45
Antônio Anderson
Marques de Sousa
VARIAÇÃO E MUDANÇA NA EXPRESSÃO DO
ACUSATIVO ANAFÓRICO EM PB E PE: UM ESTUDO CONTRASTIVO
Maria Eugenia
Lammoglia Duarte
14h50 – 15h10
Mariana Maroja
Confalonieri Cardoso
ESTRATÉGIAS DE INDETERMINAÇÃO EM PEÇAS
PORTUGUESAS: UMA ANÁLISE DIACRÔNICA
Maria Eugenia
Lammoglia Duarte
15h15 – 15h35
Érica Nascimento
Silva
A ALTERNÂNCIA DO IMPERATIVO DE 2ª PESSOA – TU E VOCÊ – EM CARTAS DO RIO DE JANEIRO
Célia Regina dos
Santos Lopes
15h40 –
16h
Dailane Moreira
Guedes
POSSESSIVOS SIMPLES E PERIFRÁSTICOS NO
PORTUGUÊS BRASILEIRO: INVESTIGANDO A 3ª
PESSOA
Célia Regina dos
Santos Lopes

Dia 10/11/2016
10h – 11h – Conferência
Local: Auditório G1
Professora Ângela Maria Dias(UFF)
A dança da dobra infinita: sobre a obra de Adriana Varejão
11h – 12h30 – Mesa-redonda 2 – Literaturas Brasileira, Portuguesa e Africanas
Local: Auditório G1
Professora Rosa Gens(UFRJ)
Literatura brasileira hoje: apontamentos
Professor Emerson Inpacio (USF)
Interseccionalidades: novas propostas de leitura
Professor Júlio Machado (UFF)
Representações da escravidão nas literaturas africanas de língua portuguesa: do trauma ao
testemunho
12h30 – 14h – Intervalo para o almoço
14h – 17h – Sessões de Comunicação
Área de Concentração: Literatura Brasileira
Área de Concentração: Literaturas Portuguesa e Africanas
17h – Encerramento

SESSÕES DE COMUNICAÇÃO
Área de Concentração: LITERATURA BRASILEIRA
Dia 10/11/2016
Sessão 6 – Literatura Brasileira (Mestrado/Doutorado)
Debatedores – Maluh Faria (UFRJ) e Paulo Cesar de Oliveira (FFP-UERJ)
Local: SALA F-210
HORÁRIO DISCENTE TRABALHO ORIENTADOR
14h –
14h20
Andrea Luiza Blanco A POÉTICA DO “EU”, DE AUGUSTO DOS ANJOS:
PRINCÍPIOS E DESDOBRAMENTOS DA IRONIA E DO
MONÓLOGO DRAMÁTICO
Ronaldes de Melo e
Souza
14h25 – 14h45
Maykol Vespucci
JORNADA À TERRA CRUA: O LUGAR DA POESIA NA
OBRA POÉTICA DE CORA CORALINA
Anélia Montechiari
Pietrani
14h50 – 15h10
Lyza Brasil Herranz DO EROS COSMOGÔNICO EM AVALOVARA, DE
OSMAN LINS
Ronaldes de Melo e
Souza
15h15 – 15h35
Pedro Cornélio Vieira
de Castro
TRAVESSIA E COMPORTAMENTO DAS ÁGUAS NO
SERTÃO MITOPOÉTICO DE GUIMARÃES ROSA
Ronaldes de Melo e
Souza
15h40 –
16h
Thales de Barros
Teixieira
DO ENLACE ISOMÓRFICO ENTRE TRAMA
IMAGÉTICA E DEVIR TELÚRICO: UMA POÉTICA DE
GUIMARÃES ROSA
Ronaldes de Melo e
Souza
Sessão 7 – Literatura Brasileira (Mestrado/Doutorado)
Debatedores – Anabelle Loivos (UFRJ) e Masé Lemos (UNIRIO)
Local: SALA F-324
HORÁRIO DISCENTE TRABALHO ORIENTADOR
14h – 14h20
Fernando Pereira
Impagliazzo MANUEL BANDEIRA: TÍSICO PORQUE POETA
Eucanaã de Nazareno
Ferraz
14h25 –
14h45
Marco Marcelo
Bortoloti
O POETA E A REVOLUÇÃO: A INFLUÊNCIA DA
GUERRA CIVIL ESPANHOLA E DO COMUNISMO
INTERNACIONAL NA OBRA DE CARLOS
DRUMMOND DE ANDRADE
Eucanaã de Nazareno
Ferraz
14h50 – 15h10
Ramon Nunes de
Mello
LEMBRE-SE DA MULHER TRISTE: A POESIA DE
ADALGISA NERY
Eucanaã de Nazareno
Ferraz
15h15 – 15h35
Suzanny de Araujo
Ramos
A RAZÃO DA VERTIGEM: FIGURAÇÕES DA
SUBJETIVIDADE NA POESIA DE FERREIRA GULLAR
Eucanaã de Nazareno
Ferraz
15h40 – 16h
Tatiana Corrêa da
Silva
TELAS E LETRAS, CHAPLIN E POESIA: THE TRAMP EM TERRITÓRIO LITERÁRIO BRASILEIRO
Eucanaã de Nazareno
Ferraz
Sessão 8 – Literatura Brasileira (Mestrado/Doutorado)
Debatedores – Raimundo Nonato Gurgel (IM-UFRRJ) e Lucia Ricotta (UNIRIO)
Local: SALA F-329
HORÁRIO DISCENTE TRABALHO ORIENTADOR
14h –
14h20
Alita Tortello Caiuby COMO SE LIVRAR DO TRAUMA DA EXISTÊNCIA: O
VAZIO, A MORTE E O LIMBO NA TRILOGIA DE
EVANDRO AFFONSO FERREIRA
Godofredo de Oliveira
Neto
14h25 –
14h45
Flávia Danielle
Rodrigues Silva
A ESCRITA DO INDIZÍVEL EM LOCAL
DESAGREGADOR: MEMÓRIAS DE MAURA LOPES
CANÇADO
Adauri Silva Bastos
14h50 – 15h10
Thaís Fernandes
Velloso
PROCEDIMENTOS LITERÁRIOS NA CRÔNICA DE
MACHADO DE ASSIS Adauri Silva Bastos
15h15 – 15h35
Verônica Fonsêca dos
Santos Silva O TRÁGICO EM AUTRAN DOURADO Adauri Silva Bastos

SESSÕES DE COMUNICAÇÃO
Área de Concentração: LITERATURAS PORTUGUESA E AFRICANAS
Dia 10/11/2016
Sessão 9 – Literaturas Portuguesa e Africanas (Mestrado/Doutorado)
Debatedores – Mariana Custódio (UERJ) e Luciana Salles (UFRJ)
Local: SALA F-206
HORÁRIO DISCENTE TRABALHO ORIENTADOR
14h/ 14h20
Aline Pupato
Costa
VOZ, MEMÓRIA E SILÊNCIO: LLANSOL E A ESCRITA
DO TEMPO JUBILOSO
Jorge Fernandes da Silveira
14h25/ 14h45
Eliana Aparecida
Pinto da Cunha
DO TRAUMA À TRAMA EM JERUSALÉM DE
GONÇALO M. TAVARES
Gumercinda
Nascimento Gonda
14h50/ 15h10
Karine Ferreira
Maciel
“QUANTO MAIS PROSAICO MAIS POÉTICO”: ADÍLIA
LOPES E A POESIA CONTEMPORÂNEA BRASILEIRA
Sofia Maria de Sousa
Silva
15h15/ 15h35
Maria Silva Prado
Lessa
O POEMA COMO PALCO: A CENA DA ESCRITA DE
MÁRIO CESARINY
Sofia Maria de Sousa
Silva
15h40/
16h
Raquel Góes de
Menezes
DE SUPLÍCIO E AMOR, MARIANA ENCONTRA
INÊS
Jorge Fernandes da Silveira
Sessão 10 – Literaturas Portuguesa e Africanas (Mestrado/Doutorado)
Debatedores – Cláudia Amorim (UERJ) e Luci Ruas (UFRJ)
Local: SALA F-208
HORÁRIO DISCENTE TRABALHO ORIENTADOR
14h/ 14h20
Carlos Roberto dos
Santos Menezes
A TRAPAÇA DISCURSIVA EM BOLOR, DE AUGUSTO
ABELAIRA
Ângela Beatriz de
Carvalho Faria
14h25/ 14h45
Flávio Silva
Corrêa de Mello
EM TRÂNSITO – O ESTRANGEIRO QUE HABITA A
FICÇÃO DE OLGA GONÇALVES
Ângela Beatriz de
Carvalho Faria
14h50/ 15h10
Maria Carolina de
Oliveira Barbosa
O MASCULINO À PROCURA DE UM DISCURSO
POSSÍVEL: AS “VIDAS DESPERDIÇADAS” NOS
ROMANCES DE JOSÉ SARAMAGO
Mônica do
Nascimento
Figueiredo
15h15/ 15h35
Mariana de
Mendonça Braga
VIAGENS INICIÁTICAS: AVENTURAS DO
CONHECIMENTO E DO AUTOCONHECIMENTO NA
NARRATIVA DE HELDER MACEDO
Teresa Cristina
Cerdeira da Silva
Sessão 11 – Literaturas Portuguesa e Africanas (Mestrado/Doutorado)
Debatedores – Alexandre Montaury (PUC-Rio) e Marcelo Pacheco Soares(IFRJ)
Local: SALA F-203
HORÁRIO DISCENTE TRABALHO ORIENTADOR
14h/ 14h20
Camila de Toledo
Piza Costa
Machado
LEE-LI YANG: O EPISTOLAR EM TRANSE POÉTICO Carmen Lucia Tindó
Ribeiro Secco
14h25/ 14h45
Isabel Bellezia dos
Santos Mallet
DOS ESTILHAÇOS DA MEMÓRIA: A ANGÚSTIA EM NÓS, OS DO MAKULUSU, DE JOSÉ LUANDINO VIEIRA
Maria Teresa
Salgado Guimarães
da Silva
14h50/ 15h10
Laize Santos de
Oliveira
AS CARTOGRAFIAS DOS SONHOS NAS ESQUINAS DA
MEMÓRIA
Carmen Lucia Tindó
Ribeiro Secco
15h15/ 15h35
Marco Antônio
Fuly
O ESPAÇO DA INFÂNCIA NA NARRATIVA DE JOSÉ
LUANDINO VIEIRA: LEMBRANÇAS,
QUESTIONAMENTOS E RUPTURA
Maria Teresa
Salgado Guimarães
da Silva
15h40/
16h
Kezia Leão da Silva VIAGEM POR LETRAS E IMAGENS EM UM RIO
CHAMADO TEMPO, UMA CASA CHAMADA TERRA
Carmen Lucia Tindó
Ribeiro Secco
16h/ 16h20
Daniela da Glória
Silveira de Souza
Vianna
ESPAÇO E POÉTICA EM NOÉMIA DE SOUSA Nazir Ahmed Can

RESUMOS
LÍNGUA PORTUGUESA
ALTEAMENTO DAS VOGAIS PRETÔNICAS: ESTUDO DE CRENÇAS E ATITUDES
Silvia Carolina Gomes de Souza
Orientador: Eliete Figueira Batista da Silveira
Mestrado
O presente trabalho intenta observar as crenças e as atitudes dos informantes em relação ao alteamento
das vogais pretônicas. O processo de alteamento é habitualmente analisado a partir de condicionamentos
linguísticos e não-linguísticos. Alguns estudos caracterizam o fenômeno como não estigmatizado
(BISOL, 1981; CALLOU & LEITE, 2005); outros, como estigmatizado (VIEGAS, 1987; AVELHEDA,
2013). No entanto, não há trabalhos de crenças e atitudes dos informantes com foco no alteamento das
vogais médias pretônicas. Essa metodologia tem como propósito observar o comportamento do usuário
em relação à língua que fala. Acredita-se que a união metodológica dos estudos da Sociolinguística com
os de Crenças e Atitudes (BOTASSINI, 2013) contribua para análise do status social dos fenômenos em
variação. Segundo Labov (2008: 174), é difícil medir as reações a fenômenos de ordem fonológica, pois
estão “abaixo do nível da percepção consciente”. E afirma que, “para nossos objetivos linguísticos,
precisamos elicitar um tipo de comportamento avaliativo sensível o suficiente para registrar o efeito de
um traço linguístico particular”. Para a avaliação, criou-se um teste de atitude composto por quatro
técnicas diferentes: 1) leitura de texto, para verificar se o informante realiza o alteamento quando o lê;
2) questionário fechado, para avaliar também a percepção do informante; 3) questionário fechado
avaliativo, a fim de que o informante avalie o sujeito que realiza o alteamento; e 4) questionário aberto,
para observar a percepção, o julgamento, além de analisar a própria produção do informante. Portanto,
a junção das teorias avança na questão da avaliação, problema proposto por Labov (2008: 193).
FOCO INFORMACIONAL E FOCO CONTRASTIVO NO PORTUGUÊS DO BRASIL:
UMA ABORDAGEM PROSÓDICA
Manuella Carnaval
Orientador: João Antônio de Moraes
Mestrado
Tradicionalmente, a focalização é tratada como um processo em que a porção do enunciado que
corresponde à informação nova é destacada por recursos sintáticos, morfológicos ou prosódicos. A esse
trabalho interessam o expediente prosódico do processo de focalização, a partir do fator extensão do
constituinte focalizado, e os valores semânticos e pragmáticos que podem ser associados aos padrões
melódicos em questão. Consideram-se aqui duas subcategorias de foco: focalização informacional e
focalização contrastiva com valor exclusivo (MORAES, 2009). Assim, os objetivos definidos por nós
são: (i) estabelecer o padrão melódico das construções de focalização informacional e contrastiva; (ii)
definir o contexto de ocorrência dos padrões melódicos que serão descritos e seus respectivos valores
pragmáticos; (iii) verificar a relevância do fator extensão do constituinte focalizado (palavra, sintagma)
na marcação prosódica dos tipos de foco aqui considerados. Especialmente, no nível da
percepção, interessa-nos investigar o reconhecimento auditivo do processo de focalização, a partir do
reconhecimento de dos dois tipos de foco abordados, informacional e contrastivo, e em relação à
extensão do constituinte focalizado. Para isso, realizamos testes perceptivos, de modo a legitimar os
padrões melódicos descritos. Em última etapa, propomo-nos a realizar manipulações com a técnica de
ressíntese da fala, através do programa PRAAT de análise acústica, de modo que, a partir do contorno
melódico neutro, diferentes versões dos padrões de focalização informacional e contrastiva fossem
geradas para, posteriormente, serem julgadas em novo teste perceptivo. Este método, chamado de
“análise pela síntese” (MORAES, 2008), visa a obter maior entendimento sobre o fenômeno estudado e
estabelecer alcances e limitações da língua no processo de focalização prosódica.

O RÓTICO EM CODA SILÁBICA NO PORTUGUÊS DO SUL DO BRASIL:
VARIAÇÃO E PROSÓDIA Mayra Santana
Orientador: Carolina Ribeiro Serra
Mestrado
Nesta pesquisa, focaliza-se o processo de variação do rótico em coda medial e em coda final, no
Português do Sul do Brasil, do ponto de vista do encaixamento desse fenômeno variável na estrutura
prosódica da língua. Interessa descrever o comportamento linguístico de 24 falantes, sendo 12 cultos e
12 não-cultos das capitais dos três Estados da região Sul do país. A contribuição original deste trabalho
está na abordagem prosódica que se faz do fenômeno variável do cancelamento do /r/. Em termos mais
gerais, a proposta é analisar o avanço do apagamento em posição de coda silábica, aliando a abordagem
sociolinguística (LABOV, 1994) à prosódica (SELKIRK, 1984; NESPOR & VOGEL, 1986; 2007).
Mais especificamente, pretende-se: i) analisar a diversidade de pronúncia do /r/; ii) focalizar os dados
de fala semi-espontânea extraídos do corpus do Projeto ALiB, a fim de oferecer descrição recente dos
falares da Região Sul; iii) verificar a atuação (gradual ou não) da regra de posteriorização (realização
anterior passando a posterior), relacionada à possível mudança de modo de articulação do segmento (de
vibrante para fricativa), e a tendência progressiva ao zero fonético, sobretudo em final de palavra; e iv)
averiguar, a partir das observações de Serra & Callou (2013, 2015), se a fronteira direita do sintagma
entoacional (IP) inibe a ocorrência do fenômeno de lenição do rótico. Os resultados preliminares indicam
os seguintes valores percentuais de distribuição do apagamento do rótico para verbos e não-verbos,
respectivamente, analisando dados de informantes com grau de escolaridade baixo, das três capitais
sulistas brasileiras: Curitiba (95%, sem percentual de apagamento para as classes de não-verbos),
Florianópolis (99%, 35%) e Porto Alegre (90%, 2%).
O DESGARRAMENTO DE ORAÇÕES ADVERBIAIS EM DUAS VARIEDADES DO
PORTUGUÊS
Aline Ponciano dos Santos Silvestre
Orientador: Violeta Virgínia Rodrigues
Doutorado
Decat (1999, 2011) descreve a existência de orações subordinadas adverbiais que ocorrem sem a oração
matriz, interpretadas somente pelo contexto, que seriam diferenciadas por um contorno entoacional
específico, chamadas de cláusulas desgarradas. Baseado nessa assunção, o presente trabalho objetiva
verificar se há, de fato, um contorno melódico específico que caracterizaria o fenômeno do
desgarramento e, ainda, se outros fatores de ordem fonológica, tais como o tamanho da oração e a gama
de variação da F0 na fronteira do constituinte prosódico, mostrar-se-iam relevantes para sua
caracterização. Para tal, tomam-se por referência trabalhos como os de Fonseca (2010) e Barros (2014)
– que tratam prosodicamente de estruturas interpretadas no sentido não default, assim como orações
desgarradas – além de pesquisas anteriores que versam sobre a estrutura prosódica e entoacional do
Português do Brasil (FROTA & VIGÁRIO, 2000; TENANI, 2002; SERRA, 2009). O corpus de pesquisa
é composto por de 1.920 orações adverbiais (960 do PB e 960 do PE), com oito ou doze sílabas, lidas
por dez informantes (cinco de cada variedade do português), em contextos nos quais a produção de
cláusulas desgarradas ou não desgarradas é uma opção comunicativa. Os dados foram analisados no
programa computacional PRAAT e os resultados, traduzidos em tabelas e gráficos, que dão amostra do
domínio de atuação do fenômeno do desgarramento. Os resultados revelam que, para ambas as
variedades, não houve diferença significativa entre a gama de variação de F0 de orações desgarradas e
não desgarradas. Contudo, o comportamento entoacional e, majoritariamente, a diferença de duração
das sílabas finais mostraram-se fatores relevantes para a caracterização do fenômeno estudado.

A JUSTAPOSIÇÃO NA INTERFACE SINTAXE-PROSÓDIA
Adriana Cristina Lopes Gonçalves
Orientador: Violeta Virginia Rodrigues
Mestrado
Neste estudo, são analisadas cláusulas justapostas, a partir do aporte teórico da sintaxe funcionalista (cf.
DECAT, 2001; DIAS, 2009; MANN & THOMPSON, 1987). A justaposição se caracteriza pela
independência sintática entre as orações, que não apresentam conector explícito, mas que são
dependentes semanticamente umas das outras. Seguindo os postulados da fonética acústica
experimental, investigam-se os aspectos prosódicos de movimento melódico e presença e duração da
pausa silenciosa entre as cláusulas, para diferenciar os casos de coordenação dos de justaposição.
Defende-se aqui, portanto, que no período “a Bahia quer mais, o trabalho continua” (propaganda do
governo do estado da Bahia), emerge uma relação circunstancial entre as cláusulas, como evidencia a
seguinte paráfrase: [Porque/se] “a Bahia quer mais, o trabalho continua”. Para a análise sintática,
constituiu-se um corpus de 36 propagandas de mídia impressa (Associação Brasileira das Agências de
Publicidade - ABAP) e o corpus para análise prosódica constitui-se de 360 dados, provenientes de um
teste linguístico criado a partir do slogan de 8 propagandas. Quinze falantes jovens (gênero feminino,
cariocas, estudantes de pós-graduação da UFRJ) leram cláusulas justapostas sem pontuação, cláusulas
justapostas com pontuação e cláusulas coordenadas, objetivando verificar se o comportamento prosódico
das justapostas é distinto do das coordenadas e se a presença de pontuação pode interferir na ocorrência
de pausa entre elas. Verificou-se que 1) há mais movimento ascendente em final de cláusulas justapostas
(52%), enquanto as cláusulas coordenadas apresentam tanto movimento melódico final ascendente
quanto descendente (44% x 43%); 2) as cláusulas justapostas com pontuação apresentam maior
ocorrência de pausa do que as cláusulas justapostas sem pontuação (40% x 37%); e 3) as cláusulas
coordenadas apresentam percentual menor de pausa (12%).
A MULTIFUNCIONALIDADE DO ARTICULADOR PARA EM PB
Rachel de Carvalho Pinto Escobar Silvestre
Orientador: Violeta Virgínia Rodrigues
Mestrado
Esta pesquisa objetiva descrever as cláusulas introduzidas pelo conector para, seguindo os pressupostos
teóricos do Funcionalismo. Deseja-se comprovar que para é um articulador multifuncional, podendo
introduzir cláusulas completivas, hipotáticas (desgarradas e não desgarradas) e relativas. Espera-se
ainda evidenciar que para pode veicular conteúdo semântico de consequência, além do de finalidade, já
prescrito pelas Gramáticas Tradicionais. Além disso, pretendemos descrever, por meio da análise
acústico-experimental, as cláusulas desgarradas, visando a uma melhor caracterização do fenômeno do
desgarramento. Os dados analisados foram retirados do site Roteiro de Cinema
(http://www.roteirodecinema.com.br/), um portal constituído de roteiros audiovisuais na íntegra. O
roteiro pode ser considerado um gênero híbrido, já que tem uma função comunicativa dentro de uma
situação específica e características determinadas pelo canal a que se destina. Muitas vezes, o roteirista,
na tentativa de reproduzir a fala dos personagens envolvidos na narrativa, insere marcas de oralidade em
seu texto. O site foi escolhido devido a essa peculiaridade dos roteiros, que permite evidenciar usos das
estruturas com para em contextos comunicativos muito próximos de situações interativas reais. Foram
analisados 3.159 dados no total: 1.827 são de cláusulas completivas (57,7%), 1.267 são de hipotáticas
(sendo 55 de desgarradas - 42%) e 10 são de relativas (0,3%). A análise das cláusulas desgarradas
aponta que a pausa frequentemente antecede as desgarradas finais não prototípicas (77%). No que tange
à entoação, as desgarradas finais não prototípicas apresentam curva descendente na maioria dos dados
(91,6%), ao passo que, nas desgarradas prototípicas, a curva foi predominantemente ascendente (78%).

MULTIFUNCIONALIDADE E DESGARRAMENTO DE ONDE:
UMA ABORDAGEM FUNCIONALISTA
Gustavo Benevenuti Machado
Orientador: Violeta Virginia Rodrigues
Mestrado
O item onde apresenta duas acepções nos dicionários de língua portuguesa – ora é descrito como
advérbio locativo, ora como pronome indicativo de lugar equivalente a em que. Na articulação de uma
oração com outra, nas gramáticas normativas, pode introduzir orações subordinadas adjetivas, desde que
se refira a um antecedente nominal locativo. Entretanto, há casos em que este aparece sem antecedente
expresso, o que gera divergências de análise a depender da gramática consultada. Em contextos reais
de interação comunicativa, onde parece assumir funções diferentes daquelas que propõe a tradição
gramatical. Neste estudo, partimos da hipótese de que onde é tão multifuncional quanto o conector que
em língua portuguesa, levando em conta situações reais de interação. Assim, onde funciona como
introdutor de orações adjetivas, substantivas e adverbiais, além de veicular conteúdos semânticos de
tempo, explicação e nocional. Além disso, um dos aspectos mais inovadores em termos de seu uso a ser
investigado é o desgarramento. Com base na teoria funcionalista, analisaremos os usos de onde como
introdutor de orações substantivas, adjetivas e adverbiais, não desconsiderando o fato de que todas elas
podem se desgarrar. Os dados analisados são de língua escrita e foram coletados do site Roteiro de
Cinema. Até o momento foram analisados 15 roteiros e 274 dados, entre os quais estão os
funcionamentos de onde como articulador de orações substantivas, adjetivas e adverbiais (desgarradas
e não desgarradas).
O MODO DE ORGANIZAÇÃO ENUNCIATIVO NO GÊNERO BLOG: UM ESTUDO SOBRE
A DIVERSIDADE CONTRATUAL E A MANIFESTAÇÃO DA SUBJETIVIDADE
Paula Crespo Halfeld
Orientador: Maria Aparecida Lino Pauliukonis
Doutorado
A pesquisa tem o propósito de examinar como o modo de organização enunciativo se manifesta em
textos publicados em diferentes tipos de blog, agrupados nas seguintes categorias: blogs pessoais,
jornalísticos, de entretenimento, de utilidades e de humor. Buscam-se identificar e analisar quantitativa
e qualitativamente as diversas modalidades enunciativas presentes nos textos, segundo elenco proposto
por Charaudeau (2009), bem como as categorias de língua que as materializam e os efeitos de sentido
produzidos. Além disso, pretende-se também, em um segundo momento do trabalho, depreender e
examinar as diferentes classes de adjetivos subjetivos presentes nos textos, com base em classificação
de Kerbrat-Orecchioni (1997), e analisar sua relação com o quadro enunciativo delineado anteriormente.
Para integrar o corpus do trabalho, foram selecionados vinte blogs brasileiros, quatro de cada categoria
elencada. O estudo pretende responder às seguintes questões: 1) Qual a relação estabelecida entre o
emprego de determinadas modalidades e categorias enunciativas e os diferentes tipos de blog,
considerando o contrato de comunicação firmado entre autor e leitor?; 2) Uma única categoria modal
enunciativa é capaz de produzir efeitos de sentido diversos a depender do tipo de blog ou dos objetivos
específicos dos textos?; 3) De que maneira as particularidades enunciativas observadas nos diversos
tipos de blog se refletem na seleção lexical, propriamente na escolha dos adjetivos subjetivos? Para
fomentar a pesquisa, são adotados, sobretudo, os postulados teóricos da Análise do Discurso,
notadamente da Semiolinguística. De modo geral, pretende-se jogar luz sobre a diversidade de
estratégias discursivas presentes no gênero digital blog e sobre as particularidades da relação de
coautoria estabelecida entre autor e leitor nesse espaço.

REPORTAGEM E EMOÇÕES
Vanessa Candida de Souza
Orientador: Maria Aparecida Lino Pauliukonis Doutorado
Geralmente, a emoção é associada a sentimentos como dor, medo, pânico, raiva, vergonha, tristeza, ódio,
esperança. Pode ser definida como um impulso do organismo para a ação. Por uma tradição retórica,
durante muito tempo, prevaleceu a separação entre razão e emoção. É como se onde estivesse uma a
outra não pudesse estar. Aceitando-se, porém, que razão e emoção não se excluem, com relação ao
estudo da afetividade em reportagens, impõem-se algumas questões às quais este trabalho visa a
responder, tais como: Se há emoções, de que tipo são? Quais as estratégias utilizadas pelo enunciador
para despertar estados afetivos no enunciatário? A predominância de determinados índices emotivos no
discurso dar-se-ia em função do público visado? Como os topoi (lugares comuns) influenciam na
construção da emotividade? A fim de cumprir tal objetivo, analisa-se um corpus constituído por
reportagens publicadas pelos jornais Extra, O Dia e O Globo que abordam temas como os assassinatos
cometidos pelo atirador Wellington Menezes de Oliveira, na escola Tasso da Silveira, em 07 de abril de
2011, no bairro carioca Realengo, e os ataques terroristas ocorridos em Paris em novembro de 2015. A
escolha desse corpus se justifica pelo interesse em verificar o estatuto ocupado pela emoção em cada
um desses tipos de impressos. Como referencial teórico, adotam-se a Análise Semiolinguística do
Discurso, de Patrick Charaudeau (2005), e os estudos sobre emoções empreendidos por esse mesmo
teórico (2010) e por Plantin (2010).
AS ESCOLHAS LEXICAIS COMO MARCAS DE IDENTIDADE IDEOLÓGICA DO
DESTINATÁRIO E DO SUJEITO ENUNCIADOR NA ARGUMENTAÇÃO MIDIÁTICA
Raquel Souza da Silva
Orientador: Maria Aparecida Lino Pauliukonis
Mestrado
A proposta dessa pesquisa é analisar as escolhas lexicais feitas pelo sujeito enunciador em reportagens
de mídia virtual. Pretende-se investigar, por meio da Teoria Semiolinguística de Charaudeau e pelos
princípios dialógicos de Bakhtin, os tipos de vozes inseridos nesse contexto, os traços linguísticos que
marcam o estilo desse enunciador e quais estratégias estão a serviço da argumentação do enunciador.
Serão analisados textos veiculados em dois sites de notícias na Internet que aparentemente apresentam
linhas ideológicas diferentes. Ao escolher como objeto de estudo fontes jornalísticas colhidas da Internet
que têm como característica principal a interatividade entre enunciador e público-alvo, esse trabalho
também irá analisar a postura do destinatário em relação aos seus enunciadores. É preciso compreender
como o enunciador consegue convencer ou persuadir seus interlocutores em relação ao seu
posicionamento ideológico veiculado pelo seu texto. Levando em consideração a proposta da pesquisa,
é necessário responder as seguintes questões: (i) de que maneira é possível evidenciar as vozes alheias
no discurso?; (ii) de que forma o sujeito enunciador se apropria da voz alheia?; (iii) que tipos de traços
linguísticos marcam o estilo do enunciador em seu texto?; e (iv) quais são as estratégias utilizadas para
identificar a estrutura argumentativa dos textos estudados? Dessa maneira, esse trabalho tem como
objetivo estabelecer as intencionalidades do sujeito enunciador perante seu público-alvo, identificando
as principais características que qualificam o texto em determinada inclinação ideológica. Essas marcas
podem ser evidenciadas por substantivos avaliativos, adjetivos axiológicos, verbos, advérbios modais e
metáforas.

HIPOTAXE CIRCUNSTANCIAL: ESTRATÉGIA ARGUMENTATIVA?
UM ESTUDO DE INTERFACE SINTÁTICO-DISCURSIVA
Amanda Heiderich Marchon
Orientador: Maria Aparecida Lino Pauliukonis
Doutorado
Este trabalho analisará os mecanismos que ligam sintática, semântica e pragmaticamente as cláusulas
umas com as outras. Nessa perspectiva, discutiremos como estas se combinam, no português brasileiro
em uso, baseando-nos em um dos aspectos que contribuem para a organização argumentativa do
discurso, a hipotaxe circunstancial. Objetivando uma análise mais abrangente, partiremos das
postulações de Hopper e Trauggot (1993) sobre a classificação das cláusulas, priorizando tanto a
semântica quanto a sintaxe. Como o tipo de relação proposicional que emerge da relação de cláusulas
independe do conector que as une, debruçar-nos-emos sobre os efeitos de sentido que as estruturas
hipotáticas mantêm com as porções de discurso em que estão inseridas, conforme postulações de
Matthiessen & Thompson (1988) e de Halliday (2004). Nesse sentido, consideraremos não só o nível
microtextual, estudo apoiado na Semântica Argumentativa de Ducrot (1987), mas também o nível
macrotextual, análise baseada na Semiolinguística, de Charaudeau (2009), na tentativa de ampliar os
parâmetros da Gramática Tradicional no tratamento das cláusulas hipotáticas, bem como de contribuir
para um ensino da Língua Portuguesa mais proficiente, fato que justifica um estudo que promove uma
interface entre Funcionalismo e Análise do Discurso. Partindo da hipótese de que as estruturas
hipotáticas revelam um matiz argumentativo, constituíram-se como corpus de análise desta pesquisa
artigos de opinião publicados, aos sábados, pelo jornal Folha de São Paulo, na coluna Tendências e
Debates, entre os meses de janeiro e dezembro de 2014. A análise preliminar apontou que, quanto maior
a necessidade de comprovação de um argumento, mais produtivas são as estratégias para explicitar as
relações hipotáticas entre as partes do texto.
A ARGUMENTAÇÃO EM TEXTOS DE SYLVIA ORTHOF SOB O PONTO DE VISTA DA
SEMIÓTICA
Marcia Andrade Morais Cabral
Orientador: Regina Souza Gomes
Doutorado
O presente trabalho de doutorado em andamento tem por objetivo analisar a argumentação em obras de
literatura infantil de Sylvia Orthof, utilizando como fundamentação a teoria semiótica de linha francesa.
Para tanto, serão analisadas 50 obras da autora, cujo recorte compreenderá a produção da década de 80,
tendo em vista que este foi o período mais profícuo de produção da autora, que morreu na década
seguinte. Como escopo teórico, a teoria semiótica greimasiana permitirá verificar de que maneira o texto,
materialização do discurso, diz o que diz, ou seja, como se constrói o sentido, não somente observando
seu conteúdo, mas também a forma de dizer. Dessa maneira, a teoria considera níveis de abstração
diferentes (GREIMAS & COURTÉS, 2008: 232), que vão desde uma análise das estruturas mais
profundas, chamado de nível fundamental, passando a um nível intermediário, o narrativo, até o mais
complexo e concreto, o nível discursivo, todos compostos de uma sintaxe e uma semântica. Essa base
teórica nos auxiliará, então, a observar a argumentação na relação entre enunciador e enunciatário, tendo
em vista o contrato estabelecido entre ambos e a confiança do enunciatário na imagem do enunciador, o
que leva à adesão dos valores, ao mesmo tempo em que serão observados os recursos argumentativos
escolhidos por esse enunciador, que reforçam essa imagem e instauram a crença no discurso. Assim,
busca-se comprovar a hipótese de que o uso de estratégias argumentativas, como a intertextualidade, o
uso de implícitos, as projeções enunciativas, a exploração do humor e da ironia, dentre outros, cria a
imagem de um autor em Orthof irreverente e lúdico e, dessa forma, contribui para uma aproximação
entre enunciador e enunciatário, reforçando a manipulação e a crença nos valores no discurso.

ENSINO DA ESCRITA: A METACOGNIÇÃO E A CONSCIÊNCIA METATEXTUAL
APLICADAS AO ENSINO DA ORGANIZAÇÃO TÓPICA DO PARÁGRAFO
Marcus Vinicius Brotto de Almeida
Orientador: Ana Flávia Lopes Magela Gerhardt
Doutorado
Os parágrafos das redações escolares frequentemente apresentam falhas de estruturação tópica, o que
revela um letramento linguístico insuficiente. Assim, um desafio que se coloca para o professor de língua
é como auxiliar o aluno a aperfeiçoar a organização tópica dos textos produzidos na modalidade escrita.
Nesse sentido, argumenta-se que o ensino de produção textual precisa promover a reflexão
metacognitiva sobre a processualidade da escrita (o planejamento, a produção e a revisão do texto) e
desenvolver a reflexão metatextual sobre a organização tópica. A metacognição aplicada ao ensino da
escrita pode desenvolver o conhecimento metacognitivo relacionado à escrita (as habilidades, as crenças
e as estratégias que os redatores têm sobre a escrita) e a regulação sobre a escrita (o emprego dos
processos de monitoramento e controle no gerenciamento de planejamento, execução e avaliação da
escrita). Um tipo específico da consciência metalinguística, que consiste na percepção da linguagem
como um artefato que pode ser analisado e manipulado, a consciência metatextual concerne à atividade
metacognitiva que toma as propriedades específicas do nível do texto como objeto de reflexão. A partir
desse enquadramento teórico, o objetivo desta pesquisa é fornecer uma sequência didática que
desenvolva a consciência metatextual sobre a organização tópica do parágrafo, considerando os
processos cognitivos da escrita. Para tanto, formulou-se uma sequência de atividades. A pesquisa
encontra-se na fase de aplicação desse material em turmas do Ensino Médio. Os dados obtidos a partir
dessa aplicação mostrarão se tal sequência didática aprimorou a percepção da organização tópica e se
isso auxiliou os estudantes a produzirem parágrafos bem redigidos.
EMOÇÃO E PUBLICIDADE: EFEITOS PATÊMICOS E REPRESENTAÇÕES DE
GÊNEROS EM PEÇAS PUBLICITÁRIAS DE REVISTAS IMPRESSAS
Giselle Maria Sarti Leal Muniz Alves
Orientador: Lúcia Helena Martins Gouvêa
Doutorado
Esta pesquisa tem como proposta analisar textos publicitários em anúncios de duas revistas impressas,
voltadas para os públicos masculino e feminino – Men’s Health e Women’s Health, respectivamente.
Pretende-se examinar o fenômeno linguístico da patemização – processo discursivo pelo qual a emoção
pode ser estabelecida. A análise que se propõe está fundamentada, sobretudo, na Teoria Semiolinguística
do Discurso, preconizada por Charaudeau, coadunada aos estudos em Argumentação, de Plantin. Além
desses dois teóricos, buscam-se referências nos campos da Psicologia das emoções, nos estudos sobre a
Linguagem Publicitária e nos estudos acerca das identidades de gênero. A escolha do fenômeno da
patemização se justifica em função da necessidade de um detalhamento desse tipo de estratégia
discursiva que por muito tempo fora desprezada pelos estudos em Argumentação, sabendo-se,
atualmente que dele se pode lançar mão para levar o interlocutor ao convencimento. No caso do gênero
de discurso publicitário, observa-se que a dimensão patêmica do discurso se constitui como estratégia
basilar da construção da sua estrutura argumentativa. Optou-se por observar como se dá o fenômeno
discursivo da patemização em função do público-alvo dos anúncios publicitários, mais especificamente,
os públicos masculino e feminino. Buscou-se, portanto, verificar as ocorrências de índices patêmicos
diretos e indiretos, analisando-se em que medida a maior ou menor recorrência se relaciona com as
representações identitárias de gênero.

A CONSTRUÇÃO DO ETHOS DISCURSIVO EM EDITORIAIS DO JORNAL O GLOBO
Roberto de Farias David Junior
Orientador: Lúcia Helena Martins Gouvêa
Mestrado
A proposta deste trabalho é estudar a construção do ethos discursivo do jornal O Globo por meio de seus
editoriais, tendo como foco a análise das escolhas lexicais presentes na sua construção. A pesquisa tem
como fundamentação a Teoria Semiolinguística do Discurso, de Patrick Charaudeau, e o corpus é
composto de 147 textos, publicados entre janeiro e março de 2015. Além da Teoria Semiolinguística do
Discurso, há outras contribuições para o estudo da argumentação – principalmente de Ducrot e Perelman
e Olbrechts-Tyteca – e para o estudo do ethos – especialmente de Dominique Maingueneau e Patrick
Charaudeau. O principal objetivo é identificar os ethé discursivos do jornal O Globo nesses textos e as
estratégias linguístico-discursivas utilizadas para a construção de uma imagem de si do jornal. Quanto à
metodologia, trata-se de uma análise qualitativa e quantitativa, na medida em que há a identificação dos
ethé e das estratégias – especialmente da escolha lexical, tendo em vista a produtividade dessa estratégia
– e a classificação e contagem dos dados, com vistas à comparação percentual dos resultados obtidos.
Dentre os ethé registrados por Patrick Charaudeau (“seriedade”, “virtude”, “competência”, “potência”,
“caráter”, “inteligência”, “humanidade”, “chefia” e “solidariedade”), são recorrentes nos textos o de
“seriedade” e o de “inteligência”. Além desses dois, há um ethos de “preocupação social” –
nomenclatura adotada nesta pesquisa – que se destaca em alguns dos textos analisados.
CONSTRUÇÕES PLUSQUAM: PROCESSOS ESTRUTURAIS INTERJETIVOS
Paulo Gonçalves Cerqueira
Orientador: Maria Lucia Leitão de Almeida
Mestrado
Da gama de interjeições correntes no português brasileiro, há aquelas que têm forma semelhante à da
conjugação verbal simples do tempo pretérito mais-que-perfeito do modo indicativo. Tradicionalmente,
admite-se que algumas interjeições utilizam a forma verbal simples do referido tempo para expressar
desejo, espanto e exclamação. Não há, na literatura científica, muitos estudos que abordem essas
estruturas, descrevendo sua ocorrência, sua formação ou seu uso. Discutem-se, então, dois processos
construcionais diferentes: as interjeições plusquam – representadas pelas formas “tomara” e “pudera” –
e as locuções interjetivas – “quisera eu” e “quem me dera”. São considerados os conceitos da Linguística
Cognitiva, como base de conceptualização das estruturas citadas, adotando, como principais orientações
para análise dos dados, teorias construcionais de Goldberg (1995) e Langacker (2008), noções de
chunking, conforme Bybee (2010), e possíveis processos formadores dessas construções interjetivas,
além de discutir o tratamento que a tradição gramatical tem dado às interjeições. Os dados foram obtidos
por meio do Corpus do Português e do banco de dados Linguateca: Corpus Brasileiro. Como ferramenta
de análise das estruturas, o programa processador de textos, Unitex 3.1, mostrou-se eficaz na busca por
padrões construcionais em grandes volumes de frases. As análises e os resultados estatísticos obtidos
apontam para a manutenção da forma simples do mais-que-perfeito para emprego além da descrição
temporal.

OS DÊITICOS ESPACIAIS LÁ E ALI E AS COORDENADAS ESPACIAIS EM PORTUGUÊS
BRASILEIRO
Alexandre Batista da Silva
Orientador: Maria Lucia Leitão de Almeida
Doutorado
Uma abordagem cognitivista dos dêiticos lá e ali no português brasileiro falado demanda a determinação
de categorias não consideradas no tratamento tradicional desses itens linguísticos. Considerá-los
advérbios de lugar que expressam a ideia de mais distante e menos distante obliteram a complexidade
dos processos cognitivos e pragmáticos arrolados na conceptualização do espaço em português
brasileiro. O objetivo principal é a descrição dos usos não fóricos desses locativos, em textos orais, para
determinar as operações cognitivas na conceptualização do espaço. Para a pesquisa, combinamos a teoria
dos Esquemas Imagéticos (JOHNSON, 1987; LAKOFF, 1987, 1990) e Gramática Cognitiva de
Langacker (1987; 1990; 1991). Os chamados esquemas imagéticos (image schemas) correspondem à
premissa de que grande parte do nosso conhecimento é estruturado por padrões dinâmicos, não-
proposicionais e imagéticos dos nossos movimentos no espaço, da nossa manipulação dos objetos e de
interações perceptivas. A Gramática Cognitiva permite o tratamento desses padrões como entidades
simbólicas significativas que simbolizam um conteúdo conceptual. O corpus da pesquisa é multimodal,
pois corresponde à transcrição das ocorrências verbais do uso dos locativos lá e ali, no programa Big
Brother Brasil 10 e 15 exibidos na Rede Globo de Televisão. Para analisar os dados, recorreremos à
associação de dois recursos metodológicos: a análise qualitativa de dados reais de língua falada colhidos
nas gravações e a testes empíricos que demonstrem as motivações da escolha de um ou outro dêitico por
falantes do português brasileiro. As primeiras análises mostram que a distinção fundamental dos dois
dêiticos em termos de critérios como imediatamente acessível ou não-imediatamente acessível ou visível
e não-vísivel não têm se demonstrado suficientes para a descrição das motivações das escolhas de uso
do lá e do ali.
DA SEMÂNTICA DE CASOS À SEMÂNTICA DE PREPOSIÇÕES:
A EXPRESSÃO DO GENITIVO EM PORTUGUÊS
Jorge Luiz Ferreira Lisboa Júnior
Orientador: Maria Lucia Leitão de Almeida
Mestrado
A presente dissertação dedica-se a resolução de um “buraco descritivo” na semântica do português, a
saber: os aspectos semântico-cognitivos da expressão do Caso Genitivo no eixo latim-português. Grosso
modo, o genitivo é um antigo caso latino responsável pela codificação flexional das dimensões de posse,
partitivo, especificação etc. e que, devido a evolução da língua e a necessidades funcionais de expressão,
passa a ser substituído paulatinamente por uma expressão perifrástica preposicionada como
complemento ao substantivo (ex.: amor matris > amor [de mãe] – genitivo adnominal). Nossa proposta
segue no sentido de elaborar uma rede semântica para o genitivo em português com base no modelo da
Gramática Cognitiva (LANGACKER, 2008; TUGGY, 2006) e da Multidimensionalidade Semântica
(GEERAERTZ, 1998; SOARES DA SILVA, 2006). Desse modo, é nosso interesse central a busca de
coerência interna entre os conceitos de posse, parte-todo, especificação, origem e matéria na rede
semântica, considerando-se “tensões homonímicas” do ponto de vista sincrônico e uma “polissemia
genética” (HEINE, 1997) do ponto de vista histórico. Para tanto, avaliaremos: (i) a recursividade e a
projeção de esquemas imagéticos via metáfora, metonímia e mesclagem conceptual (LEITÃO DE
ALMEIDA, 2005; FAUCONNIER & TURNER, 2008), (ii) a direção das extensões semânticas entre as
construções de genitivo que, historicamente, ora procedem de um Genitivo, ora procedem de um
Ablativo e (iii) a co-indexação das dimensões de Ablativo e Genitivo na Rede, o que confere o caráter
multidimensional a preposição “de”, marcadora do Genitivo, como uma categoria semanticamente
complexa em português.

REFERENCIAÇÃO EM CAMPO:
A CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS NA NOTÍCIA ESPORTIVA
Margareth Andrade Morais
Orientador: Leonor Werneck dos Santos
Doutorado
De acordo com os avanços da Linguística do Texto acerca dos processos de referenciação e sua
importância para a textualidade, pretendemos, com esta pesquisa, analisar os processos de referenciação
no gênero notícia esportiva, comparando a seleção desses recursos em dois jornais com propostas e
público-alvo diferentes: um jornal exclusivamente esportivo – Lance! – e outro de assuntos gerais – O
Globo. Em nossa pesquisa no Mestrado, as análises mostraram que a notícia esportiva apresenta extrema
dependência do contexto cognitivo, o que pode ser verificado pelo exame dos processos de
referenciação. Dessa forma, continuamos as pesquisas no assunto, abordando os seguintes problemas:
(i) de que modo as estratégias de referenciação presentes nos dois jornais interferem no grau de
inferência e de conhecimentos compartilhados utilizados?; (ii) em decorrência dessa necessidade de
inferências, é possível que haja uma maior argumentatividade nos textos voltados para o público
específico? Sobre os processos de referenciação, especificamente, rediscutimos a delimitação entre
anáforas diretas, indiretas, encapsuladoras e a própria dêixis, mostrando como esses processos estão
interligados e constituem um processo colaborativo de construção, que emerge da negociação dos
sujeitos, conforme apontam Mondada e Dubois (2003), Marcuschi (2008), Koch (2002; 2005; 2006) e
Cavalcante (2011). Observamos a estrutura e característica dos gêneros e as formas de referenciação, a
fim de verificarmos a pertinência das hipóteses postuladas e implementar uma parte importante da nossa
pesquisa, que é atrelar o estudo da referenciação ao estudo dos gêneros textuais, demonstrando,
inclusive, como a noção de suporte é importante para caracterização da notícia esportiva.
CONSTRUÇÕES COM O VERBO SUPORTE HAVER:
A VARIAÇÃO ENTRE PREDICADORES COMPLEXOS E FORMAS VERBAIS SIMPLES
Bismarck Zanco de Moura,
Orientador: Márcia dos Santos Machado Vieira
Mestrado
Esta apresentação consiste na exposição do conteúdo de uma investigação acerca do fenômeno de
alternância entre construções com o verbo suporte haver em perífrases que apresentam o padrão
configuracional haver + Sn e formas verbais simples equivalentes. Geralmente, as gramáticas
tradicionais citam o uso desse verbo em apenas duas categorias, ora na de predicador, ora na de auxiliar.
Entretanto, uma análise dos contextos interacionais em que esse verbo é usado permite observar que
esse item exibe, no Português do Brasil, comportamento multifuncional. Embora seja uma unidade
polifuncional na elaboração das predicações, focalizamos, nesse trabalho, apenas um de seus usos
instrumentais, com que o fenômeno da alternância verbal está relacionado. A dissertação de que tratamos
aborda o emprego do verbo haver, na elaboração de predicações complexas, como elemento gramatical,
na categoria dos verbos suportes. A introdução desse elemento linguístico, nesse novo contexto de uso,
é concebida como resultado da atuação de um processo de gramaticalização (no continuum de
predicador a verbo suporte), a partir do qual haver migra da categoria de verbo lexical e vai adquirindo
propriedades gramaticais características de elementos que pertencem à categoria dos verbos suportes.
Focalizar-se-á, dessa forma, a alternância entre construções complexas – nas quais haver pertence a essa
categoria e está, portanto, associado a um elemento nominal predicante – e predicadores simples
cognatos aos sintagmas nominais – que funcionam como núcleo sintático e semântico de perífrases
verbo-nominais (Houve menção e mencionou-se, haverá solução e solucionará, houve queda e caiu). A
escolha do verbo-suporte haver foi motivada pelo interesse no comportamento que as perífrases
complexas que se configuram com esse item apresentam. A análise prévia sugere que essas construções
distanciam-se, em termos de usos linguísticos, das que se organizam com outros verbos-suporte da
língua (dar um beijo por beijar e fazer compras por comprar). Enquanto esses são mais esperados em
situações de expressão oral, em discursos informais, em gêneros textuais em que há menor grau de
monitoração por parte do falante, as perífrases com suporte haver parecem ser mais produtivas nas

situações de expressão escrita, em discursos formais e em gêneros em que os usuários monitoram-se
mais. Esse estudo desenvolve-se com base numa abordagem variacionista (WEINREICH, LABOV e
HERZOG, 1968; LABOV, 1972; LAVANDERA, 1985) e tem por objetivo geral analisar os
condicionamentos linguísticos e extralinguísticos que favorecem o emprego da forma complexa, com
verbo-suporte haver, ou da simples, morfologicamente simples, na estruturação das predicações dos
enunciados. A motivação para o uso dessa teoria deve-se à comparabilidade funcional existente entre as
duas formas alternantes, já que partilham uma mesma função e portam significado relativamente
equivalente. Portanto, comparam-se dados da modalidade falada aos da escrita e construções em que há
compatibilidade funcional entre construções com predicadores complexos e formas simples
consideradas equivalentes. Procura-se descobrir quais são os condicionamentos que motivam a escolha
de uma dessas formas verbais. Além da análise apoiada em metodologia empírica, serão usados
experimentos a fim de observar o comportamento dos usuários do Português em relação às opções
verbais a que nos referimos.
O PAPEL DOS ESQUEMAS DE IMAGEM NO PROCESSO DE FORMAÇÃO DE
DENOMINAIS EM PORTUGUÊS
João Carlos Tavares da Silva
Orientador: Carlos Alexandre Gonçalves
Doutorado
O objetivo principal do trabalho é analisar, descrever e propor um novo tratamento para algumas
construções do tipo [[X]s Y]s à luz da Morfologia Construcional de Geert Booij (2005; 2007; 2010),
que é, nas palavras do autor, “uma teoria da morfologia linguística em que a noção de construção
desempenha um papel central” (BOOIJ, 2010: 1). Trata-se de uma abordagem que, a partir da noção
mais geral de construção, desenvolve um olhar específico para construções no nível da palavra. Nessa
abordagem, o significado das construções é especificado, o que significa que é uma propriedade holística
da construção como um todo. Além disso, o modelo preconiza que o significado de uma palavra (SEM)
pode ter componentes tanto estritamente semânticos quanto pragmáticos. Assim, a fim de puxar o
significado para cima (SILVA, 2006), busca-se chegar ao nível semântico mais esquemático das
construções analisadas. Propõe-se, então, que o polo semântico de tais construções se sustenta numa
rede conceitual ancorada em esquemas de imagem de contiguidade (parte-todo, contenção, contato e
adjacência). Tal rede aqui proposta tem por base o trabalho de Peirsman & Geeraerts (2006), que,
juntamente com a Morfologia Construcional e com premissas mais gerais da Linguística Cognitiva,
integra o aporte teórico utilizado. Essa nova abordagem será aplicada em especial à análise das
formações X-eiro. A escolha desse sufixo decorre do fato de ser o que mais apresenta relações
semânticas, ou seja, é o sufixo mais polissêmico do português. Além disso (e justamente por isso), foi o
sufixo mais estudado do ponto de vista semântico, tendo despertado interesse em pesquisadores de
diversas linhas teóricas. Outros sufixos (-ário, -ada, -agem e -al) também são analisados com o intuito
de argumentar que tal rede conceitual sustenta processo de formação de palavras via sufixação do tipo
[[X]s Y]s e não apenas as formações X-eiro.
FORMAÇÕES X-NEJO NO PORTUGUÊS DO BRASIL:
UMA ANÁLISE MORFOSSEMÂNTICA
Ana Cristina Rosito de Oliveira
Orientador: Carlos Alexandre Victorio Gonçalves
Mestrado
O presente trabalho, vinculado à linha de pesquisa Língua e interface: morfologia-semântica, tem como
objeto de estudo as formações X-nejo do português brasileiro que se multiplicaram a partir do
surgimento e da propagação do gênero musical Sertanejo Universitário no Brasil, a exemplo de
pagonejo, funknejo (mistura de ritmos); blognejo, twitternejo (espaço em redes sociais para troca de
informações sobre música sertaneja e eventos a ela relacionados); gatonejo (rapaz bonito que frequenta
locais de música sertaneja), entre outras formações. O corpus é constituído de dados coletados na

internet (redes sociais, blogs e sites dedicados à música sertaneja, dicionários eletrônicos e através das
ferramentas de pesquisa Google e Yahoo). Objetivou-se, nesta pesquisa, investigar o que impulsiona as
novas formações criadas a partir do splinter -nejo, que tenham como mola propulsora a palavra
„sertanejo‟, e verificar o lugar do formativo no continuum derivação-composição. Para isso, foram
utilizadas as propriedades que entram na plausibilidade psicológica das construções gramaticais de
Langacker (2008: 16), a base teórica fornecida pela Morfologia Construcional (BOOIJ, 2005; 2010) e
aplicados os critérios empíricos apontados por Gonçalves & Andrade (2012).
-TECA: COMPOSIÇÃO OU DERIVAÇÃO?
Camila Nunes de Melo
Orientador: Carlos Alexandre Victorio Gonçalves
Mestrado
Gonçalves e Andrade (2012) elencam uma série de características que são responsáveis por diferenciar
afixos de radicais. Essas características estão sendo aplicadas a diversas palavras que contém o formativo
-teca, com o fim de fazer um mapeamento do comportamento morfológico desse item. A hipótese que
se levanta, neste trabalho, é que o elemento citado vem ganhando algumas características de afixo, apesar
de ainda manter algumas características de radical. Um corpus com 81 palavras foi montado a partir de
pesquisas em sites de relacionamento (como Facebook, Orkut), sites de buscas (como Google, Yahoo),
programas de televisão (como Fantástico, na Globo), jornais e revistas de grande circulação (como O
Globo e Veja), etc. Todas essas palavras foram colocadas à luz das características desenhadas pelos
autores citados, com a finalidade de entender como o formativo anda se comportando na língua. Quatro
critérios já foram testados e, até o momento, -teca apresentou duas características de radical e duas
características de afixo (sufixo). Esse comportamento corrobora uma análise escalar entre essas classes,
análise essa proposta por Gonçalves (2011) e Gonçalves & Andrade (2012). Para os autores, os
elementos ditos neoclássicos devem ser analisados de forma gradual entre as classes de radicais e afixos
e, por consequência disso, participariam de um processo de formação de palavras que estaria entre a
composição e a derivação, vistas também por esses autores como polos de um continuum.
AS CONSTRUÇÕES DE TÓPICO MARCADO NA ESCRITA DE ESTUDANTES EM
PROCESSO DE LETRAMENTO
Mariana Delesderrier da Silva
Orientador: Mônica Tavares Orsini Mestrado
O presente trabalho tem como objetivo investigar as construções de tópico marcado na escrita de
estudantes em processo de letramento, utilizando como pressupostos teóricos a Teoria de Princípios e
Parâmetros (CHOMSKY, 1981) e sua interface com o modelo de Competição de Gramáticas (KROCH,
1989; 2001). A constituição da gramática normativa brasileira, no século XIX, seguiu um rumo diferente
da portuguesa: enquanto esta revela os usos da fala culta dos portugueses, aquela se estabeleceu a partir
dos padrões lusitanos. Como consequência disso, há um distanciamento entre fala e escrita culta,
constituindo gramáticas diferentes. É nesse contexto que este trabalho se insere, investigando a
frequência das construções de tópico marcado, próprias da fala, na escrita. Para tal, elegeu-se a
metodologia quantitativa e se elaborou uma amostra que reúne 716 produções textuais de alunos do 6º
e 9º anos do Ensino Fundamental II e 3º Ano do Ensino Médio – séries escolhidas por refletirem etapas
da educação básica, distribuídas por gêneros (fábula, carta pessoal, texto opinativo e carta
argumentativa) à luz do contínuo de monitoração estilística (BORTONI-RICARDO, 2005). A hipótese
é a de que a escrita do aluno em processo de letramento reflete a competição entre duas gramáticas: a da
fala do Português Brasileiro, sua L1, e a norma padrão baseada no Português Europeu, ensinada pela
escola. Essa competição, por sua vez, leva à constituição de uma terceira gramática, denominada
gramática do letrado (KATO, 2005).

A POSIÇÃO DOS CLÍTICOS EM CARTAS PESSOAIS DOS SÉCULOS XIX E XX:
AS FAMÍLIAS PEDREIRA FERRAZ E ABREU MAGALHÃES
Diana Silva Thomaz
Orientador: Silvia Regina de Oliveira Cavalcante
Mestrado
Neste trabalho, apresento um estudo sobre a colocação pronominal em cartas pessoais escritas entre os
séculos XIX e XX. Esse fenômeno linguístico, amplamente estudado (GALVES, BRITTO & PAIXÃO
DE SOUSA, 2005; DUARTE & PAGOTTO, 2005; PAGOTTO, 1998; CAVALCANTE, DUARTE &
PAGOTTO, 2011), ainda nos faz levantar perguntas sobre a natureza da variação dos contextos de
próclise e de ênclise do Português escrito no Brasil. A partir do estudo de Pagotto (1998), podemos
observar, no Brasil, ao longo do século XIX, dois modelos de norma culta na escrita que se originam de
diferentes gramáticas ao mesmo tempo em que vem surgindo a gramática do Português do Brasil. Desse
modo, por considerar que temos num mesmo período a convivência de diferentes gramáticas, para a
discussão teórica e o levantamento de hipóteses, utilizarei o modelo de Competição de Gramáticas
proposto por Kroch (1989, 2001). Os objetivos que norteiam este trabalho são: (a) contribuir para a
história do português brasileiro, com o levantamento de corpus e análise da posição dos clíticos nos
séculos XIX e XX, olhando não somente para os contextos sintáticos em que ocorrem, mas também para
a influência dos fatores sociais para um determinado tipo de comportamento linguístico; (b) identificar
quais gramáticas aparecem nas missivas por meio dos contextos de próclise e ênclise; (c) verificar em
que contextos sintáticos as normas do Português Europeu atuam fortemente na escrita dos missivistas.
Os resultados preliminares, com base na análise de dados oriundos de 11 cartas da Zélia e do Jerônimo
escritas para seus filhos entre 1896 e 1919, revelaram um quadro de competição de gramáticas em que
a diferença entre ela e ele se dá não só no percentual de próclise em relação à ênclise, mas também nos
contextos morfossintáticos de um e de outro. Acredito que os resultados finais com toda a família
apontarão para um quadro de competição de gramáticas também que pode envolver as gramáticas do
português europeu, que entra na escrita dos brasileiros via escolarização, e do português brasileiro, sendo
proeminente esta última por se tratar de cartas pessoais trocadas entre familiares. O corpus que permitirá
o aprofundamento do trabalho é constituído de cartas pessoais da família Pedreira Ferraz Abreu
Magalhães pertencentes ao Corpus Compartilhado Diacrônico (www.letras.ufrj.br/laborhistorico) e
escritas entre 1877 – 1948, trocadas entre pais e filhos, irmãos e avô e netos, totalizando 170 cartas.
Consideramos, para análise, fatores linguísticos, como Posição e Tipo de Clítico, Forma Verbal e Padrão
de Colocação, Tipo de Construção com Clíticos, Ordem do Sujeito, Contexto imediatamente Anterior e
o Tipo de Estrutura da Oração com Clítico, Tipo Sintático da Oração, Local da Ocorrência na Carta, e
fatores extralinguísticos, como Período de Tempo e Faixa Etária. Para as análises estatísticas, foi
utilizado o programa Goldvarb X (SANKOFF, TAGLIAMONTE & SMITH, 2005).
VARIAÇÃO E MUDANÇA NA EXPRESSÃO DO ACUSATIVO ANAFÓRICO EM PB E PE:
UM ESTUDO CONTRASTIVO
Antônio Anderson Marques de Sousa
Orientador: Maria Eugenia Lammoglia Duarte
Mestrado
Pretendemos apresentar um estudo comparativo entre as gramáticas do PB e do PE, analisando a
expressão do acusativo anafórico nos séculos XIX e XX. Decidimos optar pelo termo acusativo no lugar
de objeto direto (OD), por verificarmos que os OD não são os únicos constituintes que recebem caso
acusativo. Os sujeitos de minioração e de completivas reduzidas de verbos sensitivos (ver, ouvir),
causativos (fazer) e de permissão (deixar) também recebem caso acusativo e estão suscetíveis à variação:
[o Carlos], vi-[o] chegar; [o Carlos], vi [ele] chegar; [o Carlos], vi [Ø] chegar e [o Carlos], vi [o
engraçadinho] chegar. No Brasil, o tema foi estudado primeiramente por Omena (1978) com base na
fala de adultos em processo de alfabetização, constatando a ausência de clíticos acusativos, a baixa
produtividade de pronome nominativo e a preferência por objetos nulos. Duarte (1986: 89) confirma a
baixa produtividade de pronome nominativo, a quase extinção de clítico e postula uma nova variante: o
SN anafórico. A nossa amostra é composta de peças teatrais brasileiras e portuguesas dos séculos XIX

e XX, divididas em sete períodos cronológicos. Os dados serão coletados e codificados conforme a
metodologia da sociolinguística variacionista e tratados por um programa computacional e estatístico.
Os pressupostos teóricos que embasam nosso estudo são da Teoria da Variação e Mudança, de
Weinreich, Labov e Herzog (1968), o que nos garante um modelo de estudo baseado na busca de
respostas relativas a (i) restrição, (ii) implementação, (iii) transição e (iv) encaixamento. Também nos
embasamos na Teoria de Princípios e Parâmetros de Chomsky (1981) para o levantamento de grupos de
fatores e para a interpretação paramétrica da mudança.
ESTRATÉGIAS DE INDERTERMINAÇÃO EM PEÇAS PORTUGUESAS:
UMA ANÁLISE DIACRÔNICA
Marianna Maroja Confalonieri Cardoso
Orientadora: Maria Eugênia Lammoglia Duarte
Mestrado
O presente trabalho tem por objetivo fazer uma análise das estratégias pronominais de indeterminação
com base em peças portuguesas escritas ao longo dos séculos XIX e XX e então comparar os resultados
obtidos com os encontrados por Vargas (2012) para peças escritas no Rio de Janeiro compreendendo o
mesmo período de tempo. A análise de Vargas mostra um claro processo de mudança em direção ao uso
novas estratégias de indeterminação do sujeito – como o uso dos pronomes você/tu e a gente, além de
uma drástica redução no uso do clítico indefinido se – que está, sem dúvida, relacionado ao crescente
preenchimento da posição de sujeito no português brasileiro (PB) (Duarte, 1993) e a uma redução no
quadro de clíticos de terceira pessoa (Duarte, 1989, 1995; Freire, 2000, entre muitos outros). Como o
português europeu (PE), apresenta um sistema de sujeitos nulos e de clíticos pronominais mais estável
(Duarte, 1995; 2007), nossa expectativa para esta pesquisa é que o PE conservaria as formas tradicionais
de indeterminação: o emprego do verbo na 3ª pessoa do plural com o pronome não expresso, uma forma
de indeterminação que exclui o falante, e o uso do clítico se, que pode ou não incluir o falante. Os
resultados preliminares obtidos confirmam nossas hipóteses. Nosso referencial teórico utiliza o modelo
de estudo da mudança proposto por Weinreich, Labov & Herzog (2006 [1968]) e toma como
componente gramatical para o levantamento de hipóteses e a interpretação dos resultados o quadro de
Princípios e Parâmetros (Chomsky, 1981), além dos estudos já realizados sobre o tema. A metodologia
utilizada segue a metodologia variacionista (Braga e Mollica, 2003). A amostra é constituída de peças
de teatro portuguesas de caráter popular, distribuídas em sete sincronias, que vão de 1835 a 1996,
aproximando-se bastante dos períodos contemplados na amostra de Vargas para o PB.
A ALTERNÂNCIA DO IMPERATIVO DE 2ª PESSOA – TU E VOCÊ – EM CARTAS
DO RIO DE JANEIRO
Érica Nascimento Silva
Orientador: Célia Regina dos Santos Lopes
Doutorado
O presente trabalho tem por objetivo fazer um estudo sociolinguístico acerca do imperativo no português
brasileiro relacionado à 2ª pessoa do singular tu e você em cartas do Rio de Janeiro dos séculos XIX e
XX. Partindo de trabalhos como os de Paredes (2003), Cardoso (2009) e Scherre (2012), que apontam a
predominância de formas relacionadas ao imperativo de tu no sudeste/sul do Brasil, pretende-se traçar
diacronicamente o comportamento dos pronomes de 2ª no modo imperativo considerando trabalhos que
tratam da inserção de você no português brasileiro. Em virtude da entrada de você, como atestam vários
trabalhos (SOUZA, 2012; DUARTE, 1993, 1995; LOPES, 2008), o quadro pronominal sofreu algumas
mudanças, visto que essa forma passou a ocorrer em contextos antes destinados a tu, embora ainda
mantivesse um valor de distanciamento típico de Vossa Mercê, pronome que o originou. Dessa forma,
por volta da década de 1930, você suplanta tu em número de ocorrência. Interessa-nos, assim, observar
se tal caráter do pronome você se reflete, ou não, em seu uso como forma imperativa. Uma das questões
a ser investigada é se os valores atribuídos ao imperativo ao longo do século XX acompanharam a
evolução histórica dos valores assumidos por você observados nos estudos já feitos. O imperativo de tu

e você, portanto, teria seguido a mesma trajetória histórica já apresentada em outros trabalhos ou seria
uma mudança paralela? Para tanto, consideraremos a teoria da Sociolinguística Laboviana (LABOV,
1994) como um aporte teórico para apontar os fatores linguísticos e extralinguísticos – através do
programa Goldvarb X – que estariam influenciando o uso do imperativo de tu ou de você.
POSSESSIVOS SIMPLES E PERIFRÁSTICOS NO PORTUGUÊS BRASILEIRO:
INVESTIGANDO A 3ª PESSOA
Dailane Moreira Guedes
Orientador: Célia Regina dos Santos Lopes
Mestrado
A pesquisa em andamento tem como objetivo avaliar a configuração da alternância entre os pronomes
possessivos de 3ª pessoa do português brasileiro, representados pelas formas simples seu e a forma
perifrástica dele (além de suas flexões de gênero e número). O propósito é verificar, tendo como aparato
teórico as premissas da Sociolinguística (WEINREICH, LABOV & HERZOG, 1968; LABOV, 1972) e
as diferentes hipóteses da literatura temática (CERQUEIRA, 1993; PERINI, 1995; MÜLLER, 1997), se
a alternância é um caso de substituição ou especialização de formas. O corpus utilizado consiste em
amostras da fala carioca, retiradas do projeto Concordância, no qual se encontram amostras das
variedades africanas, brasileiras e europeias da língua portuguesa. A hipótese que norteia o trabalho é a
de que a escolha entre os dois pronomes é determinada pelos traços semânticos do referente possuidor,
uma vez que fatores como a natureza (específica ou genérica) e a animacidade (animado ou inanimado)
se mostraram relevantes na escolha entre os dois pronomes no exame inicial dos dados. Para além de
uma análise de corpus, realiza-se também um estudo experimental pautado na metodologia da
Psicolinguística (DERWING & ALMEIDA, 2005; TRAXLER, 2012; MAIA, 2015), a fim de que se
possa avaliar experimentalmente se os resultados encontrados na análise posterior se confirmam na
tarefa psicolinguística. Por meio de um teste de aceitabilidade, serão avaliados os comportamentos dos
falantes diante de sentenças com seu e dele e sua relação com os traços de natureza e animacidade do
referente possuidor.

RESUMOS LITERATURA BRASILEIRA
A poética do “Eu” de Augusto dos Anjos: princípios e desdobramentos da Ironia e do Monólogo
Dramático
Andrea Luiza Blanco
Orientador: Ronaldes de Melo e Souza
Mestrado
Pesquisamos a poética de Augusto dos Anjos tendo como base as perspectivas da Ironia, do Monólogo
Dramático e daquelas nascentes na particularidade articulada nesta obra intitulada “Eu”. O conceito de
Ironia da tradição pré-romântica alemã nos é caro na crítica de arte posto que aqui se represente uma
verdadeira ruptura do pensamento filosófico hegemônico que - mimético, pragmático, lógico-causal,
tratadista - autoritariamente se abstrai da forma e força particular a cada experiência de realidade.
Buscamos hermeneuticamente o diálogo da poesia anjosiana com os desdobramentos da Imaginação e
do Eu na filosofia crítica, reflexiva, ensaística, chistosa, mística, fragmentária de F. Schlegel, Novalis e
Fichte. A própria dialética anjosiana nos leva a um permanente diálogo entre parte e todo, ordinário e
extraordinário, superando-se, portanto, os caminhos da abstração ou da formatação do mundo numa
teoria ou rótulo geral. Não sem auxílio crítico M.H. Abrams e de Ronaldes de Melo e Souza,
sublinhamos nos pressupostos filosófico-poéticos da Ironia o seu atento olhar ao corpo e realidade
originados da obra. A materialidade constelada na sempre tensional lírica de Augusto dos Anjos, tão
estranha e maravilhosa, é realização construída como limiar de autorreflexão e drama. Percebemos a
confluência dos momentos de crítica - em monólogo e reflexões narrativas - unidos aos momentos da
tomada e montagem dramatizadas por experiências de pathos. Estudaremos, em “Monólogo de uma
Sombra”, o assombroso drama panteístico da treva da poesia de Augusto dos Anjos, drama do intelecto
e da carne representando-se excessivamente pertencentes à ruína.
Jornada à terra crua: o lugar da poesia na obra poética de Cora Coralina
Maykol Vespucci
Orientadora: Anélia Montechiari Pietrani
Mestrado
Com base nos três livros de poemas publicados de Cora Coralina – Poemas dos becos de Goiás e
estórias mais, Vintém de cobre e Meu livro de cordel –, o presente trabalho objetiva analisar o lugar
que a poeta concede à poesia dentro da própria obra. A poesia, como atividade imaginativa e
expressiva, é uma das temáticas a que Cora se dedicou em suas criações. Nessa perspectiva, o poema é
colocado ora como meio de reconstrução e análise da própria história e do contexto social em que
viveu, ora como meio que a permite superar as feridas causadas por conflitos externos à poesia. Assim, a poesia de Cora Coralina assume o papel de um lugar de preservação de memórias e
reflexão sobre conflitos em um trabalho de reconstrução de si mesma em um cenário onde problemas e
celebrações dividem espaço. Como o trabalho não pretende se pautar pela biografia da escritora, essa
imagem que Cora Coralina cria de si mesma no interior da própria poesia será sua face relevante. A construção desse cenário em que a poesia é colocada como objeto de cura é feita a partir de
imagens comuns em sua obra. As pedras como obstáculos, as flores como objeto a ser celebrado e a
imagem da estrada como percurso poético são três metáforas recorrentes. Estas têm origem na imagem
da terra, que Cora também utiliza como temática de maneira não metafórica. Assim, a poesia se
constrói como meio imaginativo que permite a criação de um caminho que a escritora pode percorrer
em busca de si mesma e do contexto passado, como evidenciado, por exemplo, no poema “Errados
rumos”, nos versos “Eu avante na busca fatigante de um mundo impreciso, todo meu / feito de sonho
incorpóreo e terra crua”.

Do Eros cosmogônico em Avalovara, de Osman Lins
Lyza Brasil Herranz
Orientador: Ronaldes de Melo e Souza Mestrado
O projeto busca compreender como se dá a instauração de um novo cosmos sob o signo sagrado do Eros
cosmogônico no romance Avalovara (1973), de Osman Lins. O objetivo principal do trabalho, que se
vincula à linha de pesquisa “Estudos de narrativa brasileira”, é investigar a originalidade da concepção
osmaniana do Amor, que, além de desconstruir a metafísica platônica ainda em vigor na sociedade
moderna ao promover a união, há tanto tempo perdida, entre corpo e espírito, concebe o Amor como
centro de um tríptico formado também por Vida e Pensamento. Através de suas conjunções, sime-trias
e alinhamentos, o Amor leva à realização do ser humano em todas essas esferas; o Paraíso alcançado ao
final da narrativa representa a integralização do projeto global de conhecimento a que esse livro se
propõe – e que se expande à própria criação literária. Assim, a correspondência metaficcional
estabelecida entre a sala em que os personagens principais entram no início do romance e o texto que
está sendo escrito evidencia o ver-dadeiro ponto de convergência, o acontecer fulcral e propiciatório: a
linguagem, a Pala-vra Poética.
Travessia e comportamento das águas no sertão mitopoético de Guimarães Rosa
Pedro Cornelio Vieira de Castro
Orientador: Ronaldes de Melo e Souza
Mestrado
Ao estudarmos as obras de Guimarães Rosa, nos deparamos com um universo de significados e
significantes muito vasto, talvez infinito. O uso da língua e das imagens faz de seu sertão um espaço
inédito na literatura, embora seja confundido muitas vezes com uma obra de caráter regionalista. A
dissertação pretende trabalhar o aspecto mitopoético do sertão rosiano, em Grande sertão: veredas,
investigando as principais características da obra de Rosa: a nascitividade da natureza; formatividade da
linguagem; prodigalidade divina; predestinação do homem.Com alto teor imagético, o romance carrega
complexas questões envolvendo o ser humano. Essas questões se inserem a partir da narração, em
primeira pessoa, de Riobaldo, sempre dirigida a um homem “muito culto”. Entretanto, esse homem
jamais intervém na narrativa, demonstrando que o diálogo travado não é com ele, mas com um tipo
específico de leitor. A partir de reflexões explícitas tiradas do livro, faz-se necessário entender quem é
esse leitor a quem Rosa se dirige e de que modo acontece esse diálogo. As questões veladas do romance
são elucidadas através da concepção de diálogo e physis, que vão desencadear uma noção de
monodiálogo e esclarecer as quatro características de Grande sertão: veredas, enunciadas no primeiro
parágrafo. O trajeto que o trabalho vai seguir será o dos significados dos rios da obra rosiana. Para isso,
torna-se necessário desvendar os significados de quatro dos mais importantes rios do romance: o de-
Janeiro, o Urucuia, o São Francisco, o misterioso rio “que viesse adentro da casa de meu pai” e por
último, mas não menos importante, o Rio Baldo, que é o próprio narrador.

Do enlace isomórfico entre trama imagética e devir telúrico: uma poética de Guimarães Rosa
Thales de Barros Teixeira
Orientador: Ronaldes de Melo e Souza
Mestrado
Minha dissertação tem por objetivo trazer à tona a relação de isomorfia que Guimarães Rosa estabelece
entre as tramas imagéticas de seus textos e o corpo mesmo da natureza que neles se constrói. O devir
telúrico, ou seja, a transformação permanente do mundo, aqui, é o que viabiliza o movimento
metamórfico das imagens poéticas rosianas e vice-versa. Se consideramos a natureza enquanto entidade
que devém, é porque, em Rosa, o mundo natural é concebido como Terra Mater, a antiga divindade
Gaia, ente animado, personagem vivo, atuante, que permanentemente pensa e fala ao narrador. Não se
trata, portanto, da natureza estática e inanimada como hoje o Ocidente concebe. A natureza enquanto
Gaia existe em forma de devir permanente, metamorfoseando-se sempre, porque está em consonância
com o conceito grego pré-platônico de physis: processo dinâmico, brotação incessante, que põe as coisas
em constante estado de transe. Como uma imagem poética é um ineditismo em todos os seus
aspectos, Guimarães Rosa, assim acredito, percebeu que poderia, na passagem de uma imagem à outra,
construir formalmente as metamorfoses da natureza enquanto Gaia, e assim fazer das imagens,
isomorficamente, o corpo mesmo da natureza. Se as imagens são entidades novas, a construção de uma
trama imagética cria naturalmente um caminho metamórfico, assim como a natureza rosiana, tornando
possível a fusão das duas premissas – da imagem poética e do devir telúrico – em um único movimento
literário.
Manuel Bandeira: tísico porque poeta
Fernando Pereira Impagliazzo
Orientador: Eucanaã Ferraz
Mestrado
O objetivo do presente estudo é investigar o itinerário da persona tísica na poesia, na correspondência e
na autobiografia de Manuel Bandeira. Segundo Antonio Candido e Gilda de Melo e Souza, na introdução
de Estrela da vida inteira, o poeta utiliza, “elementos de sua psicologia individual”, de forma a traçar “o
contorno de um personagem”. Contemplada na tensão entre os estudos do poeta modernista e do poeta
povoado por índices românticos, propõe-se a abordagem de um poeta atualizador do romantismo. O
poeta que “faz versos como quem chora” é, ao ponto da insurgência biográfica, um bricoleur, um potente
desentranhador de quintessências líricas. Na poesia, abordaremos o intervalo entre A cinza das horas
(1917) e Libertinagem (1930). A suspeita é que, ao contrário do amadurecimento que a crítica observa
em 1930, já em 1917, há lentos indícios de um poeta ironicamente confessional como em Pneumotórax
(1930).
O POETA E A REVOLUÇÃO: A INFLUÊNCIA DA GUERRA CIVIL ESPANHOLA E DO
COMUNISMO INTERNACIONAL NA OBRA DE CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE
Marco Marcelo Bortoloti
Orientador: Eucanaã Ferraz
Doutorado
O trabalho parte da hipótese de que a Guerra Civil Espanhola (1936-1939) e a ideologia comunista que
ganhou força internacionalmente na década de 1930 tiveram maior impacto na obra do poeta Carlos
Drummond de Andrade do que a Segunda Guerra Mundial. Para isso, compara a produção estrangeira
do período com os poemas de três livros de Drummond, escritos entre 1935 e 1945: “Sentimento do
Mundo”, “José” e “A Rosa do Povo”. Os inúmeros pontos de contato entre a obra do poeta mineiro e a

dos autores revolucionários que gravitaram no entorno da Guerra da Espanha, levam a concluir que o
engajamento a uma ideologia socialista foi muito mais determinante na conformação da sua poesia nas
décadas de 1930 e 1940 do que a experiência de um conflito mundial. O trabalho também investiga o
papel de Drummond como funcionário do Estado Novo, revelando através de documentos sua função
nos bastidores do regime, e a tensão entre esta atuação junto a um governo repressor e a poesia de espírito
revolucionário que produziu no período.
LEMBRE-SE DA MULHER TRISTE
a poesia de Adalgisa Nery
Ramon Nunes Mello
Orientador: Eucanaã Ferraz
Mestrado
A dissertação tem como objeto de interpretação a obra da poeta e escritora brasileira Adalgisa Nery,
especialmente sua produção poética. Propõe-se, com tal recorte, uma leitura sobre como a presença do
“essencialismo” influenciou a autora, procurando demonstrar que a obra de Adalgisa é fortemente
marcada pela tristeza e melancolia, transformando sua voz num longo canto de angústia – à margem do
Modernismo Brasileiro.
A RAZÃO DA VERTIGEM: FIGURAÇÕES DA SUBJETIVIDADE NA POESIA DE
FERREIRA GULLAR
Suzanny de Araujo Ramos
Orientador: Eucanaã Ferraz
Doutorado
Se a pluralidade de vozes e de perspectivas estéticas são marcas fundamentais da poesia de Ferreira
Gullar, a apreensão materialista da realidade constitui-se como uma constante. Neste trabalho,
investigamos como tal percepção expõe a urgência de uma procura – sempre recomeçada no espanto –
da própria verdade do ser. Trata-se, mais propriamente, de compreender como a apurada atenção ao
mundo revela um sujeito em tensão, que, num jogo de espelhos, transfere à linguagem a inquieta
necessidade de fundar um mundo e, nele, a si mesmo. Num primeiro momento, procuraremos reconhecer
os procedimentos reflexivos que influem no próprio modo de ser da escrita de Ferreira Gullar; neste
caso, o espanto e a intencionalidade reflexiva que atravessam sua obra. Em seguida, na tentativa de
reconhecer as ressonâncias dessa subjetividade lírica, focalizaremos três momentos-chaves nos quais
podemos vislumbrar o sistema de pensamento que demarca a poesia do autor, a saber: a procura de uma
verdade da linguagem; a seguir, da verdade do social e do coletivo; e, por fim, da verdade de uma
realidade material que, mediante a experiência sensível, se coloca ao sujeito como impulsionadora de
um desejo de encontro e reconhecimento.

Telas e letras, Chaplin e poesia: The Tramp em território literário brasileiro.
Tatiana Corrêa da Silva
Orientador: Eucanaã Ferraz
Mestrado
Não há, até hoje, artista que se equipare à iconicidade de Charles Chaplin (1889-1977) no cinema e na
cultura mundial. Em 56 anos de uma intensa carreira, transpõe, para suas produções, experiências de
arte e de vida – dissociáveis – que são lapidadas a partir de sua perspectiva peculiar, subjetiva, única. A
busca pela naturalidade no simples, a valorização do marginal, o trabalho com avessos: ao explorar em
seus filmes o que é considerado pelos telespectadores e críticos como o que está fora do padrão, indo
contra o senso comum, o cineasta levou inovação à sétima arte. Pretendemos, durante esta pesquisa,
olhar para a linguagem cinematográfica desenvolvida por Chaplin, em especial a (des)construção de
Carlitos, e pensar sobre as marcas que inspiraram e foram incorporadas aos nossos poetas modernistas
de forma explícita, implícita, ocular e reflexiva. Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira e
Vinícius de Moraes, envolvidos de maneiras singulares com o cinema, o clown e suas gags, terão seus
papeis de destaque na constituição do que chamaremos de poética chapliniana.
Como se livrar do trauma da existência:
o vazio, a morte e o limbo na trilogia de Evandro Affonso Ferreira
Alita Tortello Caiuby
Orientador: Godofredo de Oliveira Neto
Doutorado
A abordagem literária de Evandro Affonso Ferreira evita o mundo narrativo sequencial, de
encadeamentos lógicos, de ação. Antes, apoia-se na suspensão da vida, no limiar entre a ação e o nada,
na existência límbica. É a audácia de não-narrar o presente para confirmar que a vida é só uma eterna
espera. O último livro do autor mineiro, Os piores dias de minha vida foram todos, ficou em 3º lugar do
Prêmio Jabuti de Literatura, em 2015. O anterior, O Mendigo que sabia de cor os adágios de Erasmo de
Rotterdam, de 2012, levou o primeiro lugar, em 2013. E Minha mãe se matou sem dizer adeus, de 2010,
foi vencedor do prêmio APCA (Associação Paulista dos Críticos de Arte - 2010) e também finalista do
Jabuti 2011. Esse é o corpus estudado para esta tese. O projeto literário de EAF nas obras aqui analisadas
consolida-se nas suas contraposições intencionais. Ao longo de suas páginas colocam-se as questões
sobre vazio e pleno; completo e incompleto; ausência e presença; concluso e inconcluso; loucura e
sanidade e assim por diante. Desse processo de antinomias resultam ainda dois debates indispensáveis:
a oposição polêmica entre vida e morte, na medida em que explora e extrapola esses conceitos, e, por
fim, o estado transitório entre duas noções opostas, a que chamo de “limbo”. Isso porque justamente por
apontar eixos divergentes e relativizá-los, mostra que esses limites podem não ser assim tão claros.
A escrita do indizível em local desagregador: memórias de Maura Lopes Cançado
Flávia Danielle Rodrigues Silva
Orientador: Dau Bastos
Mestrado
A temática da loucura sempre marcou presença na literatura, porém poucas obras a abordam em um
hospital psiquiátrico, a partir do olhar do paciente. Hospício é Deus: diário I (1965), de Maura Lopes
Cançado, faz aflorar a subjetividade de uma interna que usa a escrita como maneira de sobreviver aos
horrores do local. Relata temores, angústias, o fascínio pelo desvario, além de detalhes sobre a infância
e a vida antes do confinamento. Além do diário, a autora mineira escreveu contos, reunidos na coletânea

O sofredor do ver (1968), que chamam a atenção pela qualidade, assim como pelo fato de serem repletos
de dados biográficos e retomarem questões abordadas em Hospício é Deus. Propomos, então, uma
análise comparativa no interior da obra da autora – composta apenas pelos dois livros citados –, de modo
a verificarmos as convergências e distinções entre o diário e a ficção curta. O assunto a perpassar os dois
volumes impõe o aproveitamento de reflexões desenvolvidas em livros como História da loucura, de
Michel Foucault. Também se faz pertinente pensar o diário e a memória a partir de obras como Memória
e sociedade: lembrança de velhos, de Éclea Bosi; O pacto autobiográfico, de Philippe Lejeune; e
Arquivar a própria vida, de Phillip Artières. Mas enfatizaremos sobretudo a teoria da literatura, para
pensar intercessões e diferenças entre os gêneros cultivados pela escritora e verificar em que medida o
assunto e o estado em que ela se encontrava contribuíram para a criação de vazios a serem suplementados
pelo leitor (conforme Wolfgang Iser). À luz da Estética da Recepção esperamos compreender também
o fato de os dois livros terem merecido uma acolhida inicial lisonjeira, mas seguida de anos de um
esquecimento contrastante com o prestígio de que gozam agora, quando, reeditados, têm sido lidos
amplamente.
Procedimentos literários na crônica de Machado de Assis
Thaís Velloso
Orientador: Dau Bastos
Mestrado
A proposta desta pesquisa é analisar a crônica de Machado de Assis, com foco em seu aspecto literário.
Para isso, utilizamos especificamente crônicas da seção “A Semana”, do jornal Gazeta de Notícias,
aparecidas em um momento em que o escritor já tinha muitas publicações nas chamadas “páginas
menores” dos periódicos, uma vez que “A Semana” só se inicia em 1892, quando o autor somava mais
de três décadas de escrita regular de crônicas. Diante dessa perspectiva, abordaremos inicialmente o
surgimento do folhetim no Brasil – influenciado pela imprensa francesa – e seus primeiros folhetinistas,
com destaque para José de Alencar. Sabendo que Alencar antecede Machado nos folhetins, uma breve
comparação entre os dois certamente contribuirá para a elucidação de algumas características que o
gênero apresentou nos trópicos. Em seguida, trataremos exclusivamente de Machado de Assis. Nesse
sentido, apresentaremos um panorama geral de suas crônicas, com o objetivo de analisar
meticulosamente seu estilo e ver em que medida o cronista influenciou a construção do narrador
machadiano. Os paralelos e cruzamentos entre a crônica, o conto e o romance do escritor certamente
realçarão pontos em comum e diferenças entre os três tipos de texto, ampliando e aprofundando a visão
dos escritos ficcionais do autor.
O trágico em Autran Dourado
Verônica Fonsêca dos Santos Silva
Orientador: Godofredo de Oliveira Neto
Mestrado
A presente pesquisa, que se encontra em andamento, tem como objetivo principal desvelar a verdadeira
significação que o trágico assume no romance de Autran Dourado. O escritor mineiro faz uma
reinterpretação original da tragédia grega em seu romance, sendo que esta é assim atualizada para
reinaugurar o sentido da existência de seus personagens. Os personagens de Autran Dourado vivem um
drama de agonia e morte, o drama da existência, a busca do sentido da vida. Para compreendermos o
real sentido do trágico nos romances douradianos, faz-se necessário descontruímos a interpretação
ocidental de tragédia grega preconizada pelo filósofo Aristóteles que a tem como drama de ações. Para
desvelarmos a verdade da poesia dos poetas gregos Ésquilo, Sófocles e Eurípides, é necessário
reconhecermos que o drama grego não é um drama de ações e sim um drama de paixões, em outras
palavras, a tragédia grega é um drama estático, pois o que realmente interessa aos poetas são os efeitos
dos eventos na vida dos personagens, ou seja, as emoções suscitadas. E esse é o tema central da presente
pesquisa em andamento.

RESUMOS
LITERATURAS PORTUGUESA E AFRICANAS
Voz, memória e silêncio: Llansol e a escrita do tempo jubiloso
Aline Pupato Couto Costa
Orientador: Jorge Fernandes da Silveira
Doutorado
“Nada foi, tudo está sendo”, assim nos fala Maria Gabriela Llansol em Finita. É por essa perspectiva
do continuum, da sua textualidade que é “força de pujança”, e do registro da imagem como “cena fulgor”
trazida em fragmentos que esse trabalho busca identificar a presença da voz, da memória e do silêncio
na escrita de Maria Gabriela Llansol, assim como os mecanismos pelos quais estes elementos se
articulam com vista à expressão no corpus textual de um tempo jubiloso. A pesquisa que aqui se projeta
traz como foco central os livros Um beijo dado mais tarde, Parasceve, Amar um cão e Amigo e amiga
– curso de silêncio de 2004, assim como a investigação no espólio em Sintra. Se a ideia da voz, da
memória e do silêncio muitas vezes vem acompanhada de uma negatividade, de uma melancolia e de
um certo niilismo, em Maria Gabriela Llansol não há angústia, pois “nada foi, tudo está sendo”. O que
seria um fim, é apenas transformação; metamorfose dada pela decepação da memória, aquela que, sem
excluir o já passado, conjuga com o novo uma nova simetria pelos efeitos da dobra que vem em silêncio,
no elo afetuoso entre uma palavra e outra. Acredita-se, portanto, que a ideia do tempo jubiloso esteja
compreendida como resultado de um projeto de escrita cujo processo de elaboração tenha origem na
articulação da voz, da memória e do silêncio.
Do trauma à trama em Jerusalém de Gonçalo M. Tavares
Eliana Aparecida Pinto da Cunha
Orientadora: Gumercinda Nascimento Gonda
Mestrado
Do romance, Jerusalém, alguns caminhos a percorrer: O deslocamento do sentido de vitima e carrasco.
A crueldade como traço perverso da condição humana. O mecânico, o automático e o repetitivo
atravessando a normalidade de uma existência burocratizada, constante, linear e doente. A banalização do gesto inscrito no corpo violentado e estéril O corte, o choque e a interrupção como leitmotiv de um
nonsense absurdamente concreto e palpável. Atração e repulsa na representação poética de homens com e sem qualidades em situações-limite. O corte seco a toda e qualquer possibilidade lírica e humana em
nós. A impossibilidade do gesto/discurso amoroso na era dos extremos. A dor concentrada de uma humanidade violentadamente incapaz de redenção. Gestos exatos, precisos e falhados a rasurarem uma
existência/ escrita que procura sentido. Do corpo dilacerado a outros corpus. Do mundo fechado, concentrado e doente ao universo infinito de uma escritura forjada na dor. Escrita como arquivo, rastro
e restos a vislumbrar uma Jerusalém outra a partir de dispositivos de memória, história e literatura em
tempos de desastres3, descentramentos e desubjetivações. O anônimo e o singular como testemunhos de
uma falta que arde. Nossa cultura, nosssa violência, nossa sobrevivência.
A criação do texto literário e a falta sentida no mundo que se pretende suprir pela linguagem, a
confissão de que a vida não basta. A escrita literária incorporando um sentido ausente. A narrativa de
Gonçalo Tavares a se inscrever no ato de recolher a dor do outro e fazê-lo voltar a pulsar. Pulsão de vida
ou de morte a lembrar-nos que a existência tem um pacto consciente com a finitude além da dor e do
prazer. Lembrar, escrever e esquecer em deslocamentos.
3 Acaba de ser aprovada a PEC 241 no Congresso Nacional depois do golpe parlamentar midiático no Brasil. Tempos marcados por desastres no Brasil e no mundo: furacão no Haiti, crise dos refugiados, crescimento da direita nazista em todo o mundo.

“Quanto mais prosaico mais poético”: Adília Lopes e a poesia contemporânea brasileira
Autora: Karine Ferreira Maciel
Orientadora: Sofia Maria de Sousa Silva
Mestrado
A partir de 2002 Adília ocupa um papel notório na poesia contemporânea brasileira, seja a partir da
Antologia publicada em 2002 pela editora paulista Cosac & Naify e pela carioca 7Letras, que constava
de um Posfácio de Flora Süssekind, seja pelo destaque que ocupa na edição da revista Inimigo Rumor
n°10, de 2001, que lhe dedica nada menos que a publicação do livro O poeta de Pondichéry (1986),
uma entrevista e dois ensaios críticos: um de Osvaldo Manuel Silvestre e outro de Américo António
Lindeza Diogo.
Marília Garcia, no livro Um teste de resistores de 2014, registra em versos esse processo de inserção de
Adília Lopes na poesia brasileira. Nesse livro, que é uma espécie de diário, cheio de descrições e
pormenores, também as citações são numerosas e Adília aparece citada, ao lado de poetas como Wislawa
Szymborska, Gertrude Stein, entre tantas outras personalidades. Ainda relacionada à citação, podemos
pensar na poesia de Alice Sant‟Anna em seu primeiro livro, Dobradura (2008) e a relação com a poesia
de Adília.
Uma outra poetisa brasileira que trava diálogo com Adília Lopes é Angélica Freitas. Não mais através
da citação, e sim pelo estilo e conteúdo. A poesia dessa autora se relaciona com a de Adília na incidência
de determinadas temáticas e no que diz respeito a um estilo prosaico, que por vezes não vai além de uma
afirmação objetiva e quase banal.
O presente trabalho pretende estudar a recepção de Adília Lopes pela crítica, pelas editoras e por poetas
contemporâneos brasileiros. Interessa-nos, além de esmiuçar a maneira como estes últimos dialogam
com Adília, se através da citação, do estilo ou do conteúdo, também refletir sobre a causa dessa
notoriedade que Adília detém. Para isso, nos apoiaremos principalmente nas teorias de estética da
recepção, mais especificamente, nas de Hans Robert Jauss.
O poema como palco: a cena da escrita de Mário Cesariny
Maria Silva Prado Lessa
Orientadora: Sofia Maria de Sousa Silva
Mestrado
Esta pesquisa tem como objeto de estudo seis poemas do surrealista Mário Cesariny. Construídos como
artes poéticas, os textos encenam um poeta condenado a lutar contra o “peso” que as palavras adquiriram
ao longo do tempo, em busca de um novo leitor e de um tempo futuro no qual as palavras haverão se
tornado puras – em que serão pura potência de significado e não mais surgirão com “raízes, com
associações” (POUND, 2006, p. 40). No entanto, os poemas estão eles próprios sempre em diálogo com
outros poetas, outros tempos, outras vozes que são evocadas quase que fantasmagoricamente, ao
apostarem na intertextualidade como modo de criação. Cesariny toma para si as palavras que já foram
de outros, entrando em um jogo que atravessa os tempos e as vozes dos homens, engrossando o coro e
adensando ainda mais a trama textual da linguagem poética. A solução desse aparente paradoxo é
possível se considerarmos a esperança do tempo de “acordar”, o tempo de “nomes puros”, e a esperança
de comunicação baseada na intertextualidade, representada pelo “nosso dever falar”, como algo irônico,
sentido como desejo de inscrição na tradição, “o nosso querer falar”. Pretendo analisar de que forma
esses poemas estabelecem o jogo intertextual, quais as forças que põem em ação e como desestabilizam
o nosso papel pretensamente assegurado de leitores, ao nos incluírem na cena de escrita.

De suplício e amor, Mariana encontra Inês
Raquel Góes de Menezes
Orientador: Jorge Fernandes da Silveira
Doutorado
Inês de Castro, umas das personagens mais revistadas da obra camoniana representando um discurso
amoroso, neste trabalho será apresentada em perspectiva a uma outra celebre personagem da história da
literatura portuguesa, Mariana Alcoforado. A amante de D. Pedro e a Freira de Beja serão colocadas em
diálogo com o intuito de ler estas histórias de amor (e súplica) à luz do amor camoniano.
A trapaça discursiva em Bolor, de Augusto Abelaira
Carlos Roberto dos Santos Menezes
Orientadora: Ângela Beatriz de Carvalho Faria Mestrado
Bolor, romance singular de Augusto Abelaira, ainda desperta inquietações que o tornam, ainda hoje, um
texto fundamental e intrigante, pertencente à mais alta literatura produzida durante o período político-
cultural denso dos anos 60 em Portugal. Contudo, para além da sua temática, já muito focalizada em
diversos estudos anteriores que servem de base para a atual reflexão crítica, a sua fortuna crítica ainda
solicita uma leitura atenta quanto a sua forma de composição. A partir da leitura rente do texto literário,
busca-se compreender alguns dos processos de elaboração da forma romanesca e como a sua estrutura
pode ser concebida como chave de interpretação, não só da temática, mas também da própria obra em
si. No viés de Vilma Arêas, pretende-se compreender “como o romance constrói o seu traço, de que
modo a matéria-prima de uma „realidade‟ (coada pela ideologia) sofre os processos característicos da
condensação, do deslocamento e da teatralização para compor um „recit‟ ficcional” (ARÊAS, s/d, p. 79).
Como apoio teórico desta investigação, destacam-se as seguintes obras: A Cicatriz e o Verbo, Vilma
Arêas (s/d); O Pacto autobiográfico: de Rousseau à Internet (2008), de Philippe Lejeune; Devires
Autobiográficos - a atualidade da escrita de si (2009), de Elizabeth Muylaert Duque-Estrada e O que é
o autor? (1992), de Michel Foucault.
Em trânsito – O estrangeiro que habita a ficção de Olga Gonçalves
Flávio Silva Corrêa de Mello
Orientadora: Ângela Beatriz de Carvalho Faria
Mestrado
O Objetivo deste trabalho é dissertar sobre o romance A Floresta em Bremerhaven, da escritora
portuguesa contemporânea Olga Gonçalves. Pretende-se apresentar tópicos de análise sobre questões
identitárias, recursos narrativos e enfocar ensaístas que teceram reflexões críticas sobre a autora em
estudos de teoria literária e sociologia, principalmente, em Portugal. Busca-se citar, estudar e
exemplificar questões e apontamentos cunhados por estudiosos que problematizaram a discussão de
indivíduos descentrados e/ou distantes de seu país no momento histórico da Revolução dos Cravos e ao
longo da História da nação portuguesa. Serão destacadas, inclusive, marcas da narrativa oral presentes
na obra e inerentes às personagens situadas num entrelugar. A pesquisa focará três trânsitos (tessituras,
teceres). O primeiro versará sobre as concepções de identidade, de alteridade, de ausência e sobre o
tempo histórico e trans-histórico, a partir das reflexões críticas presentes em Eduardo Lourenço,
Boaventura de Souza Santos e Isabel Allegro Magalhães. Serão entretecidos os conceitos referentes ao
“aquém e além-mar”, o de nação destinada aos grandes feitos, de reminiscência camoniana, e a condição
de periferia excluída e emudecida durante o salazarismo. O segundo estabelecerá o valor da oralidade
presente na obra, explorando-o a partir da memória, do esquecimento (Paul Ricoeur e Ecléa Bosi) e do

conceito de diáspora (Stuart Hall), ampliando-o ante a perspectiva da dispersão econômica. Neste
trânsito, será fundamental o estudo de Sílvio Renato Jorge, um dos primeiros a focalizar a obra de Olga
Gonçalves, no Brasil. O terceiro buscará tecer um paralelo entre uma possível matriz neorrealista
(Alexandre Pinheiro Torres) e a matiz que nos possibilitará ver qual paisagem ou qual cor o Cravo de
Abril assumirá na obra selecionada.
O masculino à procura de um discurso possível: as “vidas desperdiçadas” nos romances de José
Saramago
Maria Carolina de Oliveira Barbosa
Orientadora: Mônica do Nascimento Figueiredo
Doutorado
Este trabalho pretende apresentar parte da análise que proponho em minha tese de doutorado em
Literatura Portuguesa, que tem como objetivo analisar os caminhos percorridos pelas personagens
masculinas dos romances História do cerco de Lisboa (1989) e Todos os Nomes (1997). Novamente,
como fiz no Mestrado, revisito a obra de José Saramago, com o objetivo de mostrar que as trajetórias
dessas “figurações ficcionais” (REIS, 2015, p. 15) revelam-se também percursos de descoberta da
realidade inicialmente vazia na qual estão imersos e da possibilidade de construir um discurso para ser
ouvido – e lido, já que se materializa sob a forma de escrita. Dessa forma, parto dos conceitos de
intertextualidade, autoria e personagem para estabelecer um diálogo entre essas obras. Para isso, porém,
retomo o romance O ano da morte de Ricardo Reis (1984), texto que, ao apresentar o heterônimo
pessoano como personagem em meio a Lisboa ditatorial de 1936, já “ensaia” a problematização da ideia
de “vida desperdiçada” (SARAMAGO apud REIS, 1998, p.57) comumente atribuída aos “homens” da
ficção saramaguiana.
Viagens iniciáticas: Aventuras do conhecimento e do autoconhecimento na narrativa de Helder
Macedo
Mariana de Mendonça Braga
Orientadora: Teresa Cristina Cerdeira da Silva
Mestrado
A escrita de Helder Macedo se constitui como fértil terreno de intertextualidades e de relações
intratextuais as quais resultam altamente producentes e esclarecedoras na obra do autor, que retoma
insistentemente certas constantes temáticas, referências obsessivas e imagens reiteradas. Cabe, pois, à
minha pesquisa uma leitura detalhada de dois romances eleitos, Pedro e Paula e Tão longo amor, Tão
curta a vida, bem como da produção ensaística de Helder Macedo, com atenção sobretudo a dois
estudos: Camões e a Viagem Iniciática e "Reconhecer o desconhecido". Está sendo, portanto, aplicada
a estratégia das "passagens paralelas" de que nos fala Antoine Compagnon em O demônio da teoria, por
estar se mostrando viável manter o diálogo entre diversas produções autorais.
O objetivo desta pesquisa consiste na leitura de questões relativas ao espaço e à transposição de
fronteiras do discurso como viagens de conhecimento e autoconhecimento e como representações
alegóricas, de acordo com o conceito benjaminiano. Até agora, a análise do corpi vem confirmando as
hipóteses levantadas, no que concerne às fronteiras interartes atravessadas pelos narradores helderianos,
às trajetórias pessoais de alguns personagens e à imagem dos mapas imaginários e modificados presente
em Tão longo amor, Tão curta a vida.

Lee-Li Yang: o epistolar em transe poético
Camila de Toledo Piza Costa Machado
Orientadora: Carmen Lucia Tindó Ribeiro Secco
Mestrado
A saudade e o amor podem, de maneiras diversas, criar e recriar cenários. O desejo fruto de relações
interpessoais também é capaz de impulsionar inaugurações de novos universos. Na poesia, a avidez por
desvendar outros horizontes faz com que movimentos de linguagem não se restrinjam a folhas de papel:
a concepção de novas lógicas, na cosmovisão virgiliana, é capaz de fazer, se refazer e se desfazer. Novas
perspectivas culminam na gênese dos heterônimos, desdobramentos do poeta, redescobertas da natureza
humana. Lee-Li Yang é uma dessas vozes poéticas, moradia da saudade, do erotismo e do amor. Através
de suas cartas – que são simultaneamente poemas, vice e versa –, o poema respira, transpira e transborda
diálogos e monólogos; versos e cantos; danças e políticas. Endereçadas a seu amante Duarte Galvão,
heterônimo guerrilheiro de Virgílio de Lemos, a poesia de Lee-Li Yang encontra no entrelugar entre
carta e poema um espaço em que pode cantar a saudade, o desejo, o amor e ser, singularmente,
metapoética. Assim, as relações entre a carta, como um gênero originalmente comunicativo, e a poesia,
um modo de transgressão da linguagem, serão apresentados de maneira a contribuir para o estudo da
poesia do escritor moçambicano. O livro Mar de mim: coração de gozo, publicado em 1952, será o alvo
principal das reflexões deste estudo sobre a poesia encontrando abismos na superfície do texto, em que
o silêncio, o canto e a arte se fundem para ser, em suas existências, eternas no instante efêmero da vida.
Dos estilhaços da memória: A angústia em Nós, os do Makulusu, de José Luandino Vieira
Isabel Bellezia dos Santos Mallet
Orientadora: Maria Teresa Salgado
Doutorado
A intenção condutora deste trabalho caminha em favor da maturação de um processo reflexivo acerca
das particularidades e especificidades que envolvem a sociedade angolana no momento em que
acontecem as lutas pela libertação de Angola, tempo que, revestido de caos e angústias várias, apresenta-
se como palco propício ao nascimento de uma produção ficcional não menos dilacerante e visceral. Com
objetivo, portanto, de fazer desta uma contribuição de bases sólidas aos estudos das Literaturas Africanas
de Língua Portuguesa, foi eleito como objeto de nossa apreciação o romance angolano, Nós os do
Makulusu (1967), de José Luandino Vieira. O livro, escrito em apenas uma semana, enquanto seu autor
encontrava-se preso no Tarrafal, revela a presença da angústia como chave mestra para a escolha de
recursos estéticos sofisticados, guiados, sobretudo, pelo narrador-personagem, cujo descentramento
evidente marca uma estética da angústia, que se pretende investigar ao longo desta pesquisa. Tal
investigação busca, antes, enfatizar que a densidade temática e estética do texto em análise corrobora,
pois, o diálogo com a memória, a história e a barbárie, em cuja crueldade repousa o impasse da
representação: “como fazer a morte e a destruição significarem”?
As cartografias dos sonhos nas esquinas da memória
Laize Santos de Oliveira
Orientadora: Carmen Lucia Tindó Ribeiro Secco
Mestrado
Em Sonhos azuis pelas esquinas, observamos uma mudança na poética – já anunciada em Os
transparentes – do escritor angolano Ondjaki. Para além da narrativa habitualmente memorialística da
infância, nos deparamos com um narrador adulto que transforma espaço e tempo numa fluidez quase
impalpável, a partir de uma atmosfera onírica. Nesta, surgem revelações de um sujeito cindido entre dois

universos de escrita.
Efetuando uma leitura literária das cidades ficcionalizadas neste livro e de seus diversos simbolismos,
nossa dissertação focalizará um cotidiano que dá ênfase a cenários urbanos, interpretando as cartografias
poéticas construídas a partir de espaços reais, oníricos e imaginários. Serão estudadas as influências que
as relações entre cidade e literatura exercem no constructo do livro, assim como os arrolamentos dos
jogos intertextuais tecidos em vários contos que nos levam a levantar a hipótese de uma dualidade, uma
fratura na identidade deste sujeito que busca em sua escrita um cosmopolitismo sem obliterar, entretanto,
as questões nacionais e as tradições africanas, o que, deste modo, faz com que haja, em seu livro, um
claro diálogo entre tradição e modernidade.
O espaço da infância na narrativa de José Luandino Vieira: lembranças, questionamentos e
ruptura
Autor: Marco Antônio Fuly
Orientador: Maria Teresa Salgado Guimarães da Silva Mestrado
Esta dissertação pretende mostrar a evolução do pensamento do escritor angolano José Luandino Vieira
a respeito das circunstâncias adversas que antecederam a independência de Angola, bem como a sua
preocupação com os rumos que a utopia revolucionária estava tomando naqueles últimos anos da
colonização portuguesa implantada no país. Na análise das obras A Cidade e a Infância (1960),
Lourentinho, Dona Antónia de Sousa Neto & Eu (1972) e Nosso Musseque (2013) –– todas escritas entre
1954 e 1972 ––, observa-se que o referido autor valorizou sobremaneira o ambiente da infância. E foi
neste contexto de aventuras desmedidas que o olhar dos meninos para o mundo dos adultos configurou
a oposição combativa de Luandino Vieira ao regime colonial português e o desejo de uma pátria justa e
livre aos angolanos. Com estes posicionamentos, a narrativa luandina, nas três obras supracitadas,
evidencia os anseios e a voz do povo através de algumas histórias narradas por personagens comuns que
se distanciam do cotidiano de opressão e se permitem reviver as suas experiências na fase da infância
dentro do musseque. Neste topônimo, onde as histórias assentam-se em um antigamente bom de se viver,
o estilo de vida dos moradores autóctones revela o quanto o ente colonizado – discriminado e explorado
pelo colonizador, que a todo instante procura implantar-lhe os valores da cultura europeia – encontra
condições favoráveis para preservar sua língua materna, suas tradições culturais e suas referências
históricas.
O espaço da infância é, portanto, perspectivado na dimensão de personagens não-adultas, realçando,
assim, a memória evocativa, criticando o cotidiano massacrante e questionando a utopia que se forjava
no ardor da luta pela independência de Angola.
Viagem por letras e imagens em Um rio chamado tempo, uma casa chamada terra
Kezia Leão da Silva
Orientador: Carmen Lucia Tindó Ribeiro Secco
Mestrado
O romance Um rio chamado tempo, uma casa chamada terra, do escritor moçambicano Mia Couto,
apresenta o tema da viagem como forma de resgate de uma memória perdida do narrador-personagem.
O deslocamento físico e psicológico principia a transformação do sujeito. A (re)construção da memória
do indivíduo ocorre em letras e imagens polifônicas que o texto literário provoca.
A obra aborda a busca por uma memória coletiva por parte do narrador-personagem, que reflete em sua
construção identitária, ao retomar o lugar de origem – Ilha de Luar-do-Chão – e ao (re)descobrir sua
própria memória individual.
Pretende-se tratar do local – Ilha de Luar-do-Chão – como espaço de retomada da memória identitária
do sujeito e do coletivo, vista como o retorno à casa. A origem será trabalhada a partir da análise familiar

e a representação do local para a construção do indivíduo, além do papel da tradição diante da
modernidade. A memória identitária também será pensada através das imagens e letras que o texto
literário constrói. Têm-se as fotografias e cartas a fim de revelar questões essenciais à descoberta do ser
cuja memória e identidade se encontram incompletas.
Mariano não está só na (re)criação da memória dos Malilanes. Através da polifonia, cria-se um jogo em
que a voz pertence ao coletivo. Observa-se um romance baseado na oralidade múltipla das personagens,
sendo as vozes individuais e coletivas essenciais para a percepção de memória e identidade da Ilha de
Luar-do-Chão.
Espaço e poética em Noémia de Sousa
Daniela da Glória Silveira de Souza Vianna
Orientador: Nazir Armed Can
Mestrado
A obra Sangue Negro, de Noémia de Sousa, é composta por 49 poemas e constitui-se de partes: “Nossa
voz”, “Biografia”, “Munhuana 1951”, “Livro de João” e “Sangue Negro”. Seus poemas, longos e fortes,
são considerados marcos da produção poética feminina, africana, moçambicana. Através da voz de
Noémia viaja-se pelo território moçambicano. Ler a sua poesia é rever criticamente a escravatura e o
processo de reificação, ao qual o negro fora submetido, e também descobrir povos e culturas, permeados
de credos, mitos e ritos.
Assim, seus poemas marcam a história e fazem sua representação. Nesse campo de sonhos, lutas,
desejos, afirmação e resistência que traduz sua poesia, Sousa surge como uma voz reivindicatória,
demonstrada pelo seu comprometimento com a situação histórica, política e econômica do seu país. Seu
trabalho enfoca a busca pelos valores que afirmem a moçambicanidade, enfatizando a questão da
africanidade.
Pretende-se abordar o espaço como retomada da memória identitária do sujeito e do coletivo. Seguindo
esta proposta de leitura, pretende-se ainda refletir outras problemáticas relacionadas ao universo
feminino, não se restringindo apenas à opressão feminina, mas também discutir a crítica à colonização
e à escravidão, e como Noémia afirma sua identidade como moçambicana.
Nesse sentido, a obra da escritora é expressiva por trazer ao conhecimento do leitor a experiência de
vida de indivíduos excluídos, além de retratar a violência imposta pelo colonialismo que ainda hoje
manifesta seus desdobramentos.
Concluindo, Sangue negro de Noémia de Sousa é uma obra de ontem, hoje e do amanhã que nunca
deixará de sonhar, lutar e defender seus ideais diante da dor e sofrimento e até mesmo da surdez das
sociedades tidas como detentoras do poder.