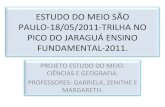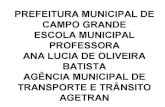Estudo do Meio · caderno propiciar, através do Estudo do Meio, experiências que permitam a eles...
Transcript of Estudo do Meio · caderno propiciar, através do Estudo do Meio, experiências que permitam a eles...

Estudo do Meio 1º ano
São Paulo
(Cartão postal da Rua São Bento, 1929)
Nome: Turma: nº:

2
Apresentação
“A resposta certa, não importa nada: o essencial é que as perguntas estejam certas.”
(Mario Quintana)
“A mente que se abre a uma nova idéia jamais voltará ao seu tamanho original.”
(Albert Einstein)
A escola é para nós o local do aprendizado por excelência, assim como os
professores são vistos como os responsáveis por mediar o ensino das diversas
áreas do conhecimento. E o aluno? Esquecemos-nos muitas vezes dessa
figura chave, a qual esta instituição se destina e para quem se dirige o trabalho
dos professores. A resposta mais frequente a indagação sobre qual é o papel
do aluno na escola é: ele deve aprender o que lhe é ensinado. Mas como isto
ocorre? Quais os mecanismos utilizados para compartilhar o conhecimento
detido pelos professores? A gama de respostas, ou se quiserem, de estratégias
para isso é vasta: aula expositiva, debates e experiências em laboratório são
apenas alguns exemplos entre tantos outros.
Entre tantas possibilidades gostaríamos de dar destaque a elaboração de
pesquisas. Por pesquisa entendemos o processo, balizado por um método, de
levantamento de informação e dados, organização e sistematização deste
material, reflexão a partir dele e, por fim, a elaboração de um produto final para
compartilhar todo o processo de pesquisa. O que torna tal estratégia tão
interessante é que permite o envolvimento do aluno no próprio processo de
construção do saber, sempre – é claro – com a mediação do professor.
Foi justamente dentro dessa perspectiva que elaboramos um Estudo do
Meio para os alunos que optaram ficar na escola, tendo como objeto de
pesquisa a cidade de São Paulo. Os professores de Ciências Humanas
(Geografia, História, Filosofia e Atualidade) e de Língua Portuguesa, do 1º ano
do Ensino Médio, escolheram como eixo central o estudo da relação entre o
homem e a natureza na produção do espaço e das relações sociais.
Entendemos que o desenvolvimento de uma pesquisa como esta é uma grande

3
oportunidade para que os alunos possam desenvolver os conceitos e
conteúdos trabalhados em sala, a partir de práticas interdisciplinares.
Por isso a preocupação em elaborar um caderno como este, que contenha
as diversas etapas necessárias para a realização de uma pesquisa mais
complexa. Cada uma destas etapas irá resultar em uma produção que busque
sintetizar o conhecimento e as experiências adquiridas pelos alunos. Tais
produções serão publicadas em uma plataforma digital no intuito de
compartilhar todo o processo educativo inerente de um Estudo do Meio.
Tal estudo começa por uma pesquisa prévia sobre o objeto de estudo, o
que denominamos de pré-campo. Nosso objetivo com as atividades de pré-
campo – presentes na primeira parte deste caderno – é prepará-los para os
trabalhos que serão realizados ao longo da semana, familiarizando-o com as
principais características da cidade de São Paulo hoje, assim como o seu
histórico de uso e ocupação.
A segunda parte deste caderno contém uma série de textos e atividades
que serão desenvolvidas pelos professores no decorrer da semana. O intuito
destas atividades é propiciar um ambiente que permita não só sistematizar as
informações recolhidas no pré-campo, como também aprofundar a análise
sobre elas e construir uma reflexão sobre o objeto de estudo, a cidade de São
Paulo.
Por fim, na ultima parte, há as instruções para a elaboração do trabalho de
pós-campo, que consiste na produção de um vídeo e de uma sinopse. Este
trabalho deve ser entendido como um momento de síntese, não só das
informações colhidas durante o pré-campo e das atividades realizadas no
decorrer da semana, mas também das experiências vivenciadas ao longo de
todo o Estudo do Meio. Por isso a escolha de uma linguagem – áudio-visual –
que permita aos alunos exercitarem sua capacidade criativa e de síntese.
Ao fim e ao cabo, temos como intuito ao propor as atividades neste
caderno propiciar, através do Estudo do Meio, experiências que permitam a
eles colocar em prática os conhecimentos aprendidos na sala e aula,
despertando assim a sua curiosidade em relação a realidade que o cerca.
Boa leitura e bom trabalho!

4
Parte 1 - Orientações Gerais

5
1.1 – Atividades do Estudo do Meio e a plataforma d igital
Para realizar as atividades propostas no Estudo do Meio os alunos devem:
1) Formar grupos de 3 alunos;
2) Criar um blog na plataforma Wordpress (http://pt-br.wordpress.com/) com o seguinte título: Estudo do Meio Villare 1EM 2014 – Grupo X
3) Publicar os textos no seguinte padrão de formatação: Fonte Arial, 12, espaçamento 1,5, justificado;
4) Publicar nas datas indicadas cada um dos trabalhos solicitados;
1.2 – Cronograma de atividades
Data: de 28/04/2014 a 30/04/2014
Período Aula 28 de Abril
Segunda-feira
29 de Abril
Terça-feira
30 de Abril
Quarta-feira
Manhã
1ª Aula
Leitura do texto 1: História de São Paulo
(monitora: Vera Lúcia) Análise Iconográfica
(monitores: Vera Lúcia e Beatriz)
Leitura do texto 6: O que é cidade
(monitor: Bruno)
2ª Aula
Resolução das questões do texto 1
(monitora: Vera Lúcia)
Resolução das questões do texto 6
(monitor: Bruno)
3ª Aula
Leitura dos textos 2, 3:
Variação Lingüística e Coletânea de Literários
(monitora: Beatriz)
Leitura do texto 5: Patrimônio Histórico
(monitora: Vera Lúcia) Apreciação e discussão dos vídeos: Entre Rios e
Periferia Luta
(monitor: Bruno) 4ª
Aula
Resolução das Questões dos textos 2, 3
(monitora: Beatriz)
Resolução das questões do texto 5
(monitora: Vera Lúcia)
Almoço Almoço Almoço
Tarde TAREFA DE CASA TAREFA DE CASA TAREFA DE CASA

6
Parte 2 – Pré-Campo

7
A função das atividades de pré-campo é prepará-lo, através de uma
pesquisa prévia sobre o objeto de investigação, para os trabalhos que serão
realizados durante a semana de 28/04 à 30/04. Você encontrará a seguir
alguns itens que devem ser pesquisados, sendo que o resultado destas
pesquisas deve ser apresentado para o visto do professor no dia 28/04.
1. As atividades desenvolvidas na escola terão como objeto de estudo a da
cidade de São Paulo. Para compreender melhor esta cidade é preciso recolher
informações sobre ela e compará-la com outras cidades que conhecemos.
Portanto, pesquise e complete com os dados encontrados as tabelas a seguir:
SÃO PAULO
Data de fundação: Área do município: População total: População urbana: População rural: Densidade demográfica: Taxa de fecundidade: Expectativa de vida: Mortalidade infantil (até 1 ano): Principal atividade econômica: PIB: PIB percapita: Taxa de alfabetização: IDH:

8
SÃO CAETANO
Data de fundação: Área do município: População total: População urbana: População rural: Densidade demográfica: Taxa de fecundidade: Expectativa de vida: Mortalidade infantil (até 1 ano): Principal atividade econômica: PIB: PIB percapita: Taxa de alfabetização: IDH:
2. A partir dos dados presente nas tabelas aponte as principais diferenças
entre a cidade de São Paulo e São Caetano.

9
3. Descreva as principais características do relevo e do clima da região em
que a cidade de São Paulo foi fundada.
4. Os aspectos históricos são fundamentais para compreender o
desenvolvimento de uma cidade. Tendo isso em vista pesquise sobre os temas
indicados a seguir:
a) A fundação da cidade de São Paulo e seu papel durante o período colonial.

10
b) A importância do desenvolvimento da produção de café no século XIX para
o desenvolvimento da cidade.
c) O papel da cidade no processo de industrialização do Brasil.

11
Parte 3 – Atividades de Campo

12
3.1. Orientações gerais
No decorrer da semana de 28/04 à 04/05 você irá realizar uma série de atividades que buscam aprofundar as informações recolhidas no pré-campo. Nesta parte do caderno de campo você encontrará as instruções do que deve ser feito em cada dia, as atividades propostas e o material de apoio ligado a estas atividades.
3.2. Atividades
Segunda-feira (28/04)
1ª Atividade
Texto 1: SÃO PAULO, VEIOS E FLUXOS
Na cidade de São Paulo na virada do século XIX para o XX, o Triângulo
era a maneira como todos se referiam “à parte mais animada da Cidade”. No
testemunho de 1883, de Carl Von Koseritz (1830 – 1890): “A vida na capital se
concentrara no Triângulo, que é formado pelas ruas São Bento, Direita e da
Imperatriz”, esta, posteriormente, rua XV de Novembro. Antonio de Almeida
Prado (1889 – 1965) acrescentava: o Triângulo “clássico” completo era descrito
por Koseritz, mas havia um outro,”incompleto, em parte decepado, que de certa
maneira continha o primeiro em seu âmbito, composto pelas ruas Boas Vistas,
Líbero Badaró e José Bonifácio”. Koseritz chegou a reconhecer um triângulo, e
chamou a XV de Novembro de “hipotenusa”, percebendo que a única esquina
em ângulo reto na cidade situava-se na São Bento com a Direita. Mas na
vivacidade finissecular, o trilátero se desenhava na animação das ruas.
Podemos ordenar uma outra triangulação que não se estabelece pelos
lados da figura geométrica, mas pelos ângulo. Quais são os vértices? Para
entender o caráter de acrópole da Cidade de São Paulo, deve-se instituir que a
implantação da Cidade se organizou segundo uma lógica monumental
religiosa, balizada pelas três grandes estruturas conventuais: o Mosteiro de
São Bento, o Convento de São Francisco e o Convento do Carmo. A Rua São
Bento ordenava o liame físico e visual entre os adros e as fachadas das igrejas
de São Bento e de São Franscisco; a perpendicular Rua Direita estabelecia o
vínculo da Igreja de Santo Antonio com o largo da Sé, e, numa virtualidade

13
geométrica, a Direita guarda a precisa direção até o adro da Igreja do Carmo.
Uma linha imaginária, unindo o largo São Bento, o Pátio do Colégio e o Carmo,
quase desenha um triângulo isósceles.
Koseritz observou: “No coração da Cidade, em uma distância de três
quadras, se encontram sete igrejas, uma sempre olhando para a outra”. Este
entreolhar revela uma peculiar forma de apropriação do sítio urbano de São
Paulo, que os pioneiros urbanistas religiosos souberam desenhar para dar
personalidade a nascente cidade. Os conventos se voltam para o interior do
Triângulo, dando as costas para o exterior, numa atitude defensiva, coerente
com os temores coloniais. E as três estruturas conventuais se situam sobre os
cursos d’água: o Ribeirão Anhangabaú corre às costas do São Francisco e na
lateral do São Bento; o Rio Tamanduateí, na área adjacente aos carmelitas, se
chamou Várzea do Carmo. (...)
O ascetismo insular no alvorecer do burgo jesuíta não tinha mais sentido
no ocaso do Império. Atravessando o Vale do Paraíba, o café avançava pelo
interior paulista. A expansão das frentes pioneiras com a rubiácea era servida
ou induzida pela ferrovia, que em 1867, com a linha completada entre Santos e
Jundiaí, instaurava em definitivo a grande transformação que se processaria
doravante na geografia paulista. O ruído e a fumaça do trem despertavam a
acanhada capital da Província de sua sonolência colonial. Um novo ritmo se
instaurava na cidade.
Caminhos da terra: organizando o território
Introspecção e depressões eram males existenciais dos quais a
nascente metrópole padecia. No testemunho de Liberani, espectador da
metamorfose finissecular, a auto-estima de uma cidade se media pela sua
elegante vestimenta em renovação, capaz de sacrificar até mesmo os relevos.
As depressões cercavam a acrópole paulistana. Os cursos d’água, os vales
alagadiços insulavam o Triângulo, reprimiam a expansão da cidade.
Ultrapassar as vertentes do Anhangabaú, subjugar as baixadas insalubres do
Carmo foram os primeiros desafios concretos. Primeiros desafios simbólicos
para romper a modorra colonial. As tarefas pareciam héculeas: transpor as
várzeas, irradiar a cidade com pujança do café.
São Paulo nasceu não longe das águas, mas diferente de boa parte das
vilas e cidades surgidas próximas a rios, a navegação não fez parte dos

14
episódios notáveis da urbe paulistana. As sendas de e para São Paulo foram
terrestres, as crônicas guardam as memórias do caminho do Padre José, a
Calçada do Lorena, a Estrada da Maioridade e as trilhas sulcadas para o
interior em tempos imemoriáveis, orientadas pelo pico do Jaraguá. Caminhos
são naturais vetores de ocupação territorial, e as iniciativas no final do século
XIX bem demonstram a vontade de reestruturação da circulação de
mercadorias e gente. Os trilhos vão reorganizar os direcionamentos da
Província e os fluxos da Cidade. Uma inédita mobilidade urbana se
estabeleceu na apropriação territorial paulistana, viabilizando as ocupações
novas para além daqueles limites do colonial Triângulo. Em metáforas, veias e
fluxos caracterizam o processo de transformação da cidade pós-colonial. Veias
como cursos d’água, obstáculo, mas ao mesmo tempo, comunicação; fluxos
como escoamento, movimento contínuo, num vaivém febricitante que fluiu
pelos caminhos que tornavam São Paulo a confluência e centro pulsante da
riqueza cafeeira.
Abridor de Caminhos
“A cidade de São Paulo de 1870 era a mesma cidade de 1822, quando
foi proclamada a Independência do Brasil”, afirmava Antonio Egydio Martins em
seu relato de 1912. Em seus escritos, o cronista não disfarçava a sua
admiração por João Teodoro Xavier (1828-1878), presidente da Província de
São Paulo entre 1872 e 1875. A ele “coube a glória de haver iniciado, no seu
patriótico governo, a transformação desta grande capital” (...).
A administração de João Teodoro empreendeu a reforma do jardim da
Luz, a regularização do largo dos Curros (hoje Praça da República), a abertura
das ruas João Teodoro (nos terrenos do Recolhimento da Luz) e 7 de Abril e
melhoramentos na rua do Gasômetro. Essas intervenções podem parecer
obras isoladas sobre o vazio da periferia urbana. Na realidade, o conjunto
organizava um anel de circulação externa ao Triângulo, que potencializava as
futuras ocupações e estabeleciam elos com o exterior. Tendo como nódulo a
região do antigo mercado e a Várzea do Carmo, os caminhos abertos ou
melhorados por João Teodoro estabeleciam o preâmbulo de uma
circunvolução. O percurso Gasômetro – Monsenhor Andrade – João Teodoro –
Jardim da Luz – Helvética perfazia uma perimetral que ligava um dos lados do
Triângulo do Brás, Luz e Santa Cecília; para o outro lado, a abertura da

15
Frederico Alvarenga “até a ponte da Mooca” era o encaminhamento para Rua
da Mooca (futura Avenida Alcântara Machado) com a urbanização das áreas
lindeiras e parte da Várzea do Carmo; e a Rua do Glicério era uma
variante/continuidade de Frederico Alvarenga rumo ao sul da cidade, caminho
do litoral. A abertura da 7 de Abril e as melhorias da futura praça da República
decerto fariam parte de um inconcluso fechamento da primeira circunvolução
concebida para o núcleo de São Paulo. Anos depois, duas outras intenções de
estabelecer uma circulação periférica foram esboçadas (...).
Talvez fosse pretensão de João Teodoro e seu tempo agir segundo o
modelo de Viena e seu Ring (1859 – 1872): incluir a cidade antiga num sistema
viário moderno, preservando o seu núcleo – caracterizando o conceito moderno
de centro - , ordenando um crescimento concêntrico com bairros divididos em
zonas especializadas – burguesa, pequeno-burguesa e operária, e criando vias
como cenários para arquiteturas de qualidade e jardins públicos. A ringstrasse
de João Teodoro jamais se completou e, diferentemente da realizada a partir
do alinhamento dos demolidos muros conforme queria o imperador Franz
Joseph em Viena, em São Paulo ela foi riscada sobre promissor e aberto vazio.
Mas um vazio não isento de intenções.
Caminhos de ferro: capitalização da nova cidade
Os trilhos faziam parte dos caminhos vislumbrados por João Teodoro
Xavier. Foi durante sua administração, em março de 1873, que se iniciaram os
trabalhos da Estrada de Ferro São Paulo e Rio de Janeiro, a futura Central do
Brasil. Em julho de 1877, inaugurou-se a Estação Norte, abrindo um novo
panorama para a ocupação de seu entorno. Em 1871, o governo provincial
concedia uma autorização para a Companhia Carris de Ferro de São Paulo
estabelecer uma linha de diligência por trilhos de ferro entre o largo do Carmo e
a Estação da Luz, inaugurada no ano seguinte. As ações de João Teodoro não
estavam dissociadas de parcerias com inversões privadas e o governo era
agente indutor de urbanização com a implantação de transporte ligando um
lugar ao quase vazio urbano.
Os últimos vinte anos do século XIX conheceram inúmeras iniciativas
isoladas para a implantação de bondes tracionados por animais, até que, a
partir de 1900, a São Paulo Tramway Light and Power Co., conhecida

16
simplesmente como Light, passa a monopolizar não só a construção, uso e
gozo de bondes elétricos, como o da produção e transmissão de energia
elétrica em São Paulo. O monopólio do transporte público acionado pela
eletricidade inaugurava um novo capítulo na organização dos fluxos
paulistanos: ao longo das linhas valoriza-se a terra. Os trilhos ajudaram a
desenhar as zonas especializadas na cidade.
Esta microtrama férrea se articulava com a macrotrama: em 1867, a São
Paulo Reilway e a Estação da Luz assinalavam um novo marco arquitetônico e
urbanístico na trama incipiente da cidade; em 1877, a inauguração da linha
férrea São Paulo e Rio de Janeiro situava a Estação Norte numa área
segregada pela Várzea do Carmo; a linha da Sorocabana enfatizava a vocação
de entroncamento férreo da cidade, em 1875. Os trilhos, na metamorfose
paulistana da virada do século, vascularizavam as periferias, promovendo a
urbanização; na chamada “Marcha para Oeste”, o semear cafezais pelas
frentes pioneiras do Estado de São Paulo e parte dos Estados do Rio de
Janeiro e de Minas Gerais, deitavam-se trilhos por onde fluiu o café, dos
interiores ao porto de Santos, constituindo a mais próspera região do país nas
primeiras décadas do século XX.
Caminhos saudáveis: as normas salubristas
A manifestação de Monteiro Lobato (1882 – 1948), apoiado pela
Sociedade Eugênica de São Paulo e pela Liga Pró-Saneamento do Brasil,
revelaria uma suposta dianteira paulista numa causa fundamental para o país
de economia agrícola na virada do século XIX pára o XX: a questão da
profilaxia rural. As iniciativas de São Paulo nesse campo foram consideradas
modelares naquele momento.
Não menos complexa era a questão do saneamento urbano, e São
Paulo pode ser uma referência das atitudes de uma época frente à organização
do espaço das cidades pressionadas pelos fluxos migratórios e o aumento de
população, sob a égide das ideias da salubridade consubstanciadas no século
XIX. (...)
O desenvolvimento de formas de controle, cujos mecanismos foram
sendo codificados e ministrados pela medicina urbana enquanto técnica geral
de saúde foi se afirmando e assumindo importante papel nas estruturas de
poder administrativo – vale dizer, do poder político abarcado pela medicina do

17
Estado. A medicina se nomeava um “administrador do espaço coletivo”,
diagnosticava o espaço urbano como um meio perigoso, e prescrevia ações
saneadoras (em múltiplos sentidos) investida de autoridade policial, para
integrar a grande massa populacional que assolava São Paulo no alvorecer da
metrópole segundo a ordem de fundamento “científico”.
A reorganização advinda coma República ilustra os contornos amplos da
prática sanitária do final desse século. A Intendência de Higiene e Saúde
Pública foi o primeiro setor administrativo municipal de competência específica
no campo social. Embora as atribuições conferidas a essa Intendência, em
1892 dessem prosseguimento às práticas vigentes no Império, elas elucidam o
alcance do seu controle urbano-policial: tratar da limpeza pública, dirigir o
serviço de canalização de água potável e a construção de esgoto, fiscalizar a
alimentação pública cuidando de feiras e pastagens, higiene dos mercados,
matadouros, açougues, determinar as regras para “serviços ou classes de
pessoas que afetem a saúde como a das meretrizes”, cuidar dos assuntos
médicos-sanitários como prevenir ou enfrentar moléstias endêmicas,
epidêmicas, regular serviços de amas-de-leite e vacinação, organização de
socorros médicos e farmacêutico pára indigentes, criar hospitais, creches,
maternidades, asilos, albergues noturnos, banheiros, lavanderias, construir ou
ajudar a construir casas para operários, inspecionar estabelecimentos nos
quais haja aglomerações, como colégios, hotéis, hospedarias, teatros e circos,
e administrar cemitérios.
Na Europa, a legislação sanitária foi o precedente direto da moderna
legislação urbanística. No Brasil, o precedente similar foram os Códigos de
Postura, instituídos com o Regimento das Câmaras Municipais de 1828. (...) Os
programas arquitetônicos começavam a merecer alguma identidade,
decorrente de restrições de natureza comercial, administrativa, comportamental
e higiênica: matadouros, açougues, mercados, hotéis, botequins, tavernas,
casas de negócio, teatros e espaços de divertimento público. Alguns recintos
mereceriam destaque maior e regulamentação específica: proibição de
construção de cortiços no município de São Paulo; instalação de
estabelecimentos fabris “nocivos à atmosfera, à pureza das águas potáveis ou
(que) incomodem a vizinhança” ou movidas a vapor, além dos curtumes” (...).

18
Foi com a República que o Estado de São Paulo assumiu, com todas as
letras, a ordenação dos espaços, promulgando o Código Sanitário, em 1894,
extensa carta de normas com 520 artigos determinando, com rigor maior que o
das imperiais posturas municipais, regras para as ruas e praças públicas,
habitações em geral, habitações coletivas, hotéis e casas de pensão, habitação
das classes pobres, habitações insalubres, fábricas e oficinas, escolas, teatros,
padarias, botequins, restaurantes, açougues, mercados, matadouros, hospitais
e maternidades, necrotérios, cemitérios e preconizando medidas variadas
relativas a alimentação, abastecimento de água e esgoto, lavanderias, latrinas
e mictórios públicos, vacinação, epidemias e outros pormenores. Num longo
regulamento, pela primeira vez, prescreviam-se normas reguladoras, sobretudo
de edificações, especificando-se implantações, dimensões mínimas, alturas,
larguras, espessuras, lotações, dependências e recintos especiais, materiais de
construção, acabamento e até cuidados higiênicos.
Da postura municipal ao Código Sanitário, evidenciou-se um
aperfeiçoamento das normas de caráter medicalizador com um gradual
reconhecimento das características de salubridade dos elementos participantes
do espaço urbano. Programas arquitetônicos adquiriram identidades próprias
com a especialização de suas funções. Todavia, afora os 26 artigos referentes
a rua e praças públicas, as demais regras quase nada se ocupavam do espaço
urbano em seu conjunto, á exceção das instalações potencialmente insalubres
(habitações coletivas, habitações pobres, fábricas e oficinas, escolas,
matadouros, hospitais e maternidades, necrotérios e cemitérios), sempre
recomendadas para se localizarem fora da aglomeração urbana, longe das
habitações, em local perfeitamente saneado ou até na direção oposta àquela
em que os povoados tenham mais tendência a se desenvolverem. Princípios
de isolamento físico/sanitário ordenando a ocupação do território, práticas
prescritas pelos higienistas/sanitaristas.
Alinhar os caminhos: reorganizando o centro
No alvorecer da metrópole paulistana, uma das fixações da elite
paulistana foi vencer a modorra colonial, as depressões: transpor e urbanizar
os vales e baixadas, romper os limites do Triângulo tradicional.

19
Desde 1877, o litógrafo francês Jules Martin (1832 – 1906) havia
organizado uma companhia para a construção de uma transposição do Vale do
Anhangabaú, que contou em um momento com a parceria de Vitor Nothmann,
este quase onipresente prussiano nos negócios urbanos nessa época, sócio
nos loteamentos de Campos Elíseos e Higienópolis. Martin propunha uma
perspectiva que teria como ponto focal a nova (na imaginação do francês)
catedral de São Pedro, no então vazio largo dos Curros (futura Praça da
República) aberta por João Teodoro entre 1872 e 1875.
A persistência de Jules Martin se materializou no Viaduto do Chá,
inaugurado em 1892 com a cobrança de pedágio para a sua travessia,
estabelecendo o contato entre o Triângulo e a então não tão vazia Praça da
República, que em 1894 ganharia vida coma inauguração da monumental
Escola Normal, depois denominada Caetano de Campos, e deve ter resultado
num bom negócio para o litógrafo, que vendeu sua ponte metálica para a
Companhia de Ferrocarril de São Paulo em 1896.
Ao que parece, promover travessias havia se tornado um bom negócio.
Em 1890, dois grupos distintos apresentavam à Câmara a mesma ideia de um
projeto de um “grande viaduto, aterro ou aquilo que melhor convenha, que
ligará o largo do São bento ao de Santa Ifigênia, e ao mesmo tempo de uma
linha de bondes a vapor ou por tração animal que servirá o bairro mais
florescente da cidade, atravessando ruas importantes e que até hoje não
gozam desse confortável e cômodo melhoramento”. Como já visto, o recém-
aberto loteamento de Santa Ifigênia já despertava a avidez dos inversionistas.
Essa disputa não resultou em nada concreto, senão anos mais tarde, em 1906,
a autorização do prefeito Antonio Prado para a construção do Viaduto Santa
Ifigênia.
A gestão da cidade se desenrola predominantemente sem a tutela
governamental: expansão urbana, saneamento de várzea, prestação de
serviços como água, energia e transporte, loteamentos, e até a construção de
viadutos, inúmeras iniciativas se materializam (ou quase) graças a proposições
de origem privada, sem uma articulação clara entre as ações. O poder público
atuava a reboque dos acontecimentos, como que às vezes remediando com
normativas letra morta. Nesse espectro desconjuntado de transformação
urbana, a figura do prefeito Antonio da Silva Prado (1840 – 1929) tornou-se

20
paradigmática como administrador que transformou a cidade. Figura
proeminente da política nacional, membro da aristocracia cafeeira, industrial
sócio da Santa Maria, na Água Branca (um dos grandes encraves industriais na
baixada do Tietê), as credenciais de Antonio Prado eram de um político cuja a
ação pressupunha uma contraditória promiscuidade entre interesses públicos e
privados. Ao longo de sua administração, entre 1899 e 1910, o conselheiro
Prado é lembrado como o responsável pela modernização do transporte
urbano com a introdução dos bondes elétricos da São Paulo Tramway Light
and Power Co., envolvendo-se contrariamente ao privilégio da Light, com o
apoio popular(...).
As melhorias introduzidas ao longo da primeira década do século XX por
Antônio Prado iniciaram efetivamente o processo de renovação da paisagem
paulistana, substituindo a imagem da cidade colonial e imperial pela nascente
metrópole do café. A transformação não se operava apenas pela troca de
arquitetura: o centro da cidade, como paisagem e como lugar de encontro e
troca, passava a merecer atenções de natureza estética. “Embelezamento” era
o termo corrente na época, que Adolfo Augusto Pinto (1856 – 1930) adotava
numa série de artigos publicados em 1912 e enfeixados num livro chamado A
transformação e o embelezamento de São Paulo. Ainda não era corrente em
São Paulo termos recém-cunhados na Europa, que se refeririam às
intervenções urbanas planejadas (...). A gestão do conselheiro Prado foi uma
etapa preparatória para instaurar debates de natureza urbanística em São
Paulo (...)
(Segawa, Hugo. “São Paulo, veio e fluxos: 1872 – 1954”, pp. 341 – 373. In: Porta, Paula (org.).
História da cidade de São Paulo: a cidade na primeira metade do século XX. São Paulo: Paz e
Terra, 2004.)

21
Questões referentes ao texto 1:
1. Como estava organizado o núcleo inicial da cidade de São Paulo até o
século XIX e quais os seus limites geográficos.
2. Com base nas informações levantadas na pesquisa de pré-campo e nas que estão presentes no texto explique a escolha do sítio em que foi fundada a cidades de São Paulo.

22
3. A construção de um anel viário na cidade de São Paulo é um tema
bastante atual. Tendo em vista as informações presentes no texto identifique
quando foi proposto o primeiro projeto para a construção de um anel viário e
quais seus objetivos.
4. Com relação a questão dos transportes explique qual a importância da
construção da malha ferroviária e a implantação dos bondes elétricos para o
desenvolvimento dos transportes.

23
5. Por que a partir das ultimas décadas do século XIX a questão da higiene
passou a ser um tema importante para organização da cidade de São Paulo.
6. A partir da análise do texto aponte sobre quais aspectos da vida cotidiana
dos cidadãos agiam os órgão e legislações ligadas a questão sanitária.

24
7. Qual o significado simbólico da construção do Viaduto do Chá e, posteriormente, de Santa Ifigênia para a cidade?
8. Qual a relação entre poder público e iniciativa privada no processo de
expansão da cidade na passagem do século XIX para o século XX?

25
Texto 2: AS LINGUAGENS DA LINGUA
A língua é uma das realidades mais fantásticas da nossa vida. Ela está
presente em todas as nossas atividades; nós vivemos entrelaçados (às vezes
soterrados!) pelas palavras; elas estabelecem todas as nossas relações e
nossos limites, dizem ou tentam dizer quem somos, quem são os outros, onde
estamos, o que vamos fazer, o que fizemos. Nossos sonhos são povoados por
palavras. Os outros se (e nos) definem por palavras, todas as nossas emoções
e sentimentos se revestem de palavras. O mundo inteiro é uma magnífica e
gigantesca sala de “bate-papo”, de chefes de Estado negociando a paz mundial
às primeiras sílabas de uma criança em alguma vila, no Brasil, na África ou no
Oriente. É pela linguagem, afinal, que somos indivíduos únicos: somos o que
somos depois de um processo de conquista da nossa palavra, afirmada no
meio de milhares de outras e com elas compostas. Ou seja: a língua é algo real
no nosso cotidiano e, a primeira coisa que devemos fazer ao pensar sua
realidade, é separá-la em duas categorias básicas: língua escrita e língua
falada. Além disso, precisamos ter em mente que a realização primeira da
língua é a fala, tanto na história da humanidade quanto na nossa história
pessoal. Isto é: a escrita surgiu depois, e fundamentada na realidade da fala.
Para dar início às reflexões que nos interessam nesse momento, de
trabalho Pré-campo, observe os seguintes exemplos de fala (desconsidere as
inadequações de grafia):
1) Eu conheço eles dês que a gente era colega de colégio.
2) Eu o conheço desde o tempo em que éramos colegas no colégio.
3) O sinhô vai armoçá agorinha memo? Não faiz mar, nóis vórta despois.
4) O senhor vai almoçá nessi momentu? Não faz mal, nóis voltamu depois.
5) Comprei um pacótchi di lêitchi.
6) Comprei um pacotE dE leitE.
São enunciados bastante diversos, concorda? Não apenas pelas
informações veiculadas, mas também quanto às formas empregadas – nas
diferenças de sons, principalmente. De qualquer forma, são somente uns
poucos exemplos. Se saíssemos à rua com um gravador na mão, coletando
amostras de como as pessoas realmente falam no dia-a-dia, passaríamos o
resto da vida juntando material sem jamais esgotar a variedade da língua

26
portuguesa. Ora, temos aqui uma palavra-chave para qualquer compreensão
da língua, o ponto de partida de nosso estudo: a variedade. Isso porque uma
língua é um conjunto de variedades. Em geral, pela própria orientação
tradicional da escola e do ensino da escrita, temos uma tendência a imaginar a
realidade da língua como alguma coisa homogênea, fixa, profundamente
uniforme quando, na realidade, observamos o inverso disso ao focarmos nossa
atenção na oralidade, ou seja: na língua falada – a língua real que vivemos
todos os dias. Todavia, essa variação toda não é algo aleatório e sem base de
realização. Isso porque, tecnicamente, essas variedades da língua são
divididas em quatro tipos básicos:
a) Diferenças sintáticas: aquelas que decorrem da ordem das palavras na fala
(ele me disse X ele disse-me) ou de diferentes modos de realizar a
concordância verbal (tu querias X tu queria ou nós estávamos X nós
estava);
b) Diferenças morfológicas: aquelas que decorrem da forma da palavra,
tomada individualmente (vamos X vamo);
c) Diferenças lexicais: diferentes nomes para o mesmo objeto (pipa X raia X
papagaio);
d) Diferenças fonéticas: pronúncias diferentes da mesma unidade sonora sem
distinção de significação (poRta, com “erre” aspirado X porta, com o “erre”
dito “caipira”.
Mas, que fatores determinam essa variedade? Isto é: por que as pessoas
falam mais ou menos diferente umas das outras? Considerando apenas os
exemplos acima, podemos enumerar algumas razões. Veja:
a) A região de origem ou moradia do falante : Esse aspecto talvez seja o
mais imediatamente compreensível de todos. Cada região do país tem um
conjunto mais ou menos homogêneo de características fonéticas (relativas
ao som), um “sotaque” próprio que dá traços distintivos ao falante nativo,
um sotaque que, em geral, passa a ser sua marca mesmo quando ele não
vive mais na sua região de origem. Você consegue pensar em algumas
diferenças de região quanto a:
b)

27
● Pronúncia de uma mesma palavra?
● Nomes diferentes para um mesmo objeto?
c) O nível social do falante, sua escolaridade e re lação com a escrita :
Esse é outro aspecto fundamental na distinção das variedades, e em geral
independe dos sotaques regionais. Aqui as distinções tocam diretamente
algumas formas da língua reproduzidas pela escola e sustentadas na
escrita, como alguns pontos de concordância verbal (nós vamos X nós vai)
ou emprego de alguns termos estigmatizados (menos X menas). Você
consegue pensar em mais algum exemplo dessa variação?
d) A situação da fala : Todo o conjunto das circunstâncias que cercam o
momento da enunciação. O mesmo falante empregará variedades
diferentes da língua dependendo de onde ele está (na sala de aula, em
casa, no shopping...) e com quem está: os pais, os professores, os amigos
ou um desconhecido na rua... Também falará de acordo com sua intenção
(dar uma ordem, convencer alguém, ensinar algum procedimento...). Enfim,
as possibilidades de diversificação são tão diversas quanto a própria
atividade humana o é.
Para finalizar (por enquanto...)
Em decorrência das relações humanas e da vida em sociedade, pode-se
dizer que as variedades mantêm uma relação de valor (hierarquia) umas com
as outras. Por razões sociais e históricas, algumas variedades são
consideradas “boas” (recebem o nome de variedade ou língua padrão) e outras
são consideradas “ruins”, no sentido de “estragarem” o português. Essas
relações deram origem ao que se chama, didaticamente falando, de
“Preconceito Linguístico” - um assunto bastante polêmico.

28
Texto 3: BRAZ, BEXIGA E BARRA FUNDA
GAETANINHO
- Xi, Gaetaninho, como é bom!
Gaetaninho ficou banzando bem no meio da rua. O Ford quase o
derrubou e ele não viu o Ford.
O carroceiro disse um palavrão e ele não ouviu o palavrão.
- Eh! Gaetaninho! Vem prá dentro.
Grito materno sim: até filho surdo escuta. Virou o rosto tão feio de
sardento, viu a mãe e viu o chinelo.
- Subito!
Foi-se chegando devagarinho, devagarinho. Fazendo beicinho.
Estudando o terreno. Diante da mãe e do chinelo parou. Balançou o corpo.
Recurso de campeão de futebol. Fingiu tomar a direita. Mas deu meia volta
instantânea e varou pela esquerda porta adentro.
Êta salame de mestre!
Ali na Rua Oriente a ralé quando muito andava de bonde. De automóvel
ou carro só mesmo em dia de enterro. De enterro ou de casamento. Por isso
mesmo o sonho de Gaetaninho era de realização muito difícil. Um sonho.
O Beppino por exemplo. O Beppino naquela tarde atravessara de carro a
cidade. Mas como?
Atrás da tia Peronetta que se mudava para o Araçá. Assim também não
era vantagem.
Mas se era o único meio? Paciência.
Gaetaninho enfiou a cabeça embaixo do travesseiro.
Que beleza, rapaz! Na frente quatro cavalos pretos empenachados
levavam a tia Filomena para o cemitério. Depois o padre. Depois o Savério
noivo dela de lenço nos olhos. Depois ele. Na boléia do carro. Ao lado do
cocheiro. Com a roupa marinheira e o gorro branco onde se lia:
ENCOURAÇADO SÃO PAULO. Não. Ficava mais bonito de roupa marinheira
mas com a palhetinha nova que o irmão lhe trouxera da fábrica. E ligas pretas
segurando as meias. Que beleza rapaz! Dentro do carro o pai os dois irmãos

29
mais velhos (um de gravata vermelha outro de gravata verde) e o padrinho Seu
Salomone. Muita gente nas calçadas, nas portas e nas janelas dos palacetes,
vendo o enterro. Sobretudo admirando o Caetaninho.
Mas Gaetaninho ainda não estava satisfeito. Queria ir carregando o
chicote. O desgraçado do cocheiro não queria deixar. Nem por um instantinho
só. Gaetaninho ia berrar mas a tia Filomena com a mania de cantar o "Ahi,
Mari!" todas as manhãs o acordou.
Primeiro ficou desapontado. Depois quase chorou de ódio.
Tia Filomena teve um ataque de nervos quando soube do sonho de
Gaetaninho. Tão forte que ele sentiu remorsos. E para sossego da família
alarmada com o agouro tratou logo de substituir a tia por outra pessoa numa
nova versão de seu sonho. Matutou, matutou, e escolheu o acendedor da
Companhia de Gás, Seu Rubino, que uma vez lhe deu um cocre danado de
doído.
Os irmãos (esses) quando souberam da história resolveram arriscar de
sociedade quinhentão no elefante. Deu a vaca. E eles ficaram loucos de raiva
por não haverem logo adivinhado que não podia deixar de dar a vaca mesmo.
O jogo na calçada parecia de vida ou morte. Muito embora Gaetaninho
não estava ligando.
- Você conhecia o pai do Afonso, Beppino?
- Meu pai deu uma vez na cara dele.
- Então você não vai amanhã no enterro. Eu vou!
O Vicente protestou indignado:
- Assim não jogo mais! O Gaetaninho está atrapalhando!
Gaetaninho voltou para o seu posto de guardião. Tão cheio de
responsabilidades.
O Nino veio correndo com a bolinha de meia. Chegou bem perto. Com o
tronco arqueado, as pernas dobradas, os braços estendidos, as mãos abertas,
Gaetaninho ficou pronto para a defesa.
- Passa pro Beppino!
Beppino deu dois passos e meteu o pé na bola. Com todo o muque. Ela
cobriu o guardião sardento e foi parar no meio da rua.
- Vá dar tiro no inferno!
- Cala a boca, palestrino!

30
- Traga a bola!
Gaetaninho saiu correndo. Antes de alcançar a bola um bonde o pegou.
Pegou e matou.
No bonde vinha o pai do Gaetaninho.
A gurizada assustada espalhou a noticia na noite.
- Sabe o Gaetaninho?
- Que é que tem?
- Amassou o bonde!
A vizinhança limpou com benzina suas roupas domingueiras.
Às dezesseis horas do dia seguinte saiu um enterro da Rua do Oriente e
Gaetaninho não ia na boléia de nenhum dos carros do acompanhamento. Ia no
da frente dentro de um caixão fechado com flores pobres por cima. Vestia a
roupa marinheira, tinha as ligas, mas não levava a palhetinha.
Quem na boléia de um dos carros do cortejo mirim exibia soberbo terno
vermelho que feria a vista da gente era o Beppino.
LISETTA
Quando Lisetta subiu no bonde (o condutor ajudou) viu logo o urso.
Felpudo, felpudo. E amarelo. Tão engraçadinho.
Dona Mariana sentou-se, colocou a filha em pé diante dela.
Lisetta começou a namorar o bicho. Pôs o pirulito de abacaxi na boca.
Pôs mas não chupou.
Olhava o urso. O urso não ligava. Seus olhinhos de vidro não diziam
absolutamente nada. No colo da menina de pulseira de ouro e meias de seda
parecia um urso importante e feliz.
- Olha o ursinho que lindo, mamãe!
- Stai zitta!
A menina rica viu o enlevo e a inveja da Lisetta. E deu de brincar com o
urso. Mexeu-lhe com o toquinho do rabo: e a cabeça do bicho virou para a
esquerda, depois para a direita, olhou para cima, depois para baixo. Lisetta
acompanhava a manobra. Sorrindo fascinada. E com um ardor nos olhos! O
pirulito perdeu definitivamente toda a importância.

31
Agora são as pernas que sobem e descem, cumprimentam, se cruzam,
batem umas nas outras.
- As patas também mexem, mamã. Olha lá!
- Stai ferma!
Lisetta sentia um desejo louco de tocar no ursinho. Jeitosamente
procurou alcançá-lo. A menina rica percebeu, encarou a coitada com raiva, fez
uma careta horrível e apertou contra o peito o bichinho que custara cinqüenta
mil-réis na Casa São Nicolau.
- Deixa pegar um pouquinho, um pouquinho só nele, deixa?
- Ah!
- Scusi, senhora. Desculpe por favor. A senhora sabe, essas crianças
são muito levadas. Scusi.
Desculpe.
A mãe da menina rica não respondeu. Ajeitou o chapeuzinho da filha,
sorriu para o bicho, fez uma carícia na cabeça dele, abriu a bolsa e olhou o
espelho.
Dona Mariana, escarlate de vergonha, murmurou no ouvido da filha:
- In casa me lo pagherai!
E pespegou por conta um beliscão no bracinho magro. Um beliscão
daqueles.
Lisetta então perdeu toda a compostura de uma vez. Chorou. Soluçou.
Chorou. Soluçou.
Falando sempre.
- Hã! Hã! Hã! Hã! Eu que...ro o ur...so! O ur...so! Ai, mamãe! Ai, mamãe!
Eu que...ro o... o... o... Hã! Hã!
- Stai ferina o ti amazzo, parola d'onore!
- Um pou...qui...nho só! Hã! E... hã! E... hã! Um pou...qui...
- Senti, Lisetta. Non ti porterò più in città! Mai più!
Um escândalo. E logo no banco da frente. O bonde inteiro testemunhou
o feio que Lisetta fez.
O urso recomeçou a mexer com a cabeça. Da esquerda para a direita,
para cima e para baixo.
- Non piangere più adesso!
Impossível.

32
O urso lá se fora nos braços da dona. E a dona só de má, antes de
entrar no palacete estilo empreiteiro português, voltou-se e agitou no ar O
bichinho. Para Lisetta ver. E Lisetta viu.
Dem-dem! O bonde deu um solavanco, sacudiu os passageiros,
deslizou, rolou, seguiu. Demdem!
- Olha à direita!
Lisetta como compensação quis sentar-se no banco. Dona Mariana
(havia pago uma passagem só) opôs-se com energia e outro beliscão.
A entrada de Lisetta em casa marcou época na história dramática da
família Garbone.
Logo na porta um safanão. Depois um tabefe, Outro no corredor.
Intervalo de dois minutos. Foi então a vez das chineladas. Para remate. Que
não acabava mais.
O resto da gurizada (narizes escorrendo, pernas arranhadas,
suspensórios de barbante) reunido na sala de jantar sapeava de longe.
Mas o Ugo chegou da oficina.
- Você assim machuca a menina, mamãe! Cotadinha dela!
Também Lisetta já não agüentava mais.
- Toma pra você. Mas não escache.
Lisetta deu um pulo de contente. Pequerrucho. Pequerrucho e de lata.
Do tamanho de um passarinho. Mas urso.
Os irmãos chegaram-se para admirar. O Pasqualino quis logo pegar no
bichinho. Quis mesmo tomá-lo à força. Lisetta berrou como uma desesperada:
- Ele é meu! O Ugo me deu!
Correu para o quarto. Fechou-se por dentro.
(Machado, Alcântara. Brás, Bexiga e Barra Funda, 1927)

33
Texto 4: Mágico de Oz
Aquele moleque, que sobrevive
como manda o dia-a-dia,
Tá na correria, como vive a maioria,
Preto desde nascença, escuro de
sol.
Eu tô pra vê ali igual, no futebol.
Sair um dia das ruas é a meta final,
Viver descente, sem ter na mente o
mal.
Tem o instinto que a liberdade deu,
Tem a malicia, que cada esquina
deu.
Conhece puta, traficante e ladrão,
Toda raça, uma par de alucinado e
nunca embaçou.
Confia neles mais do que na polícia,
Quem confia em polícia? Eu não
sou louco.
A noite chega e o frio também,
Sem demora, ai a pedra,
O consumo aumenta a cada hora.
Pra aquecer ou pra esquecer,
Viciar, deve ser pra se adormecer,
Pra sonha, viajar, na paranoia, na
escuridão,
Um poço fundo de lama, mais um
irmão,
Não quer crescer, ser fugitivo do
passado,
Envergonhar-se se aos 25 ter
chegado.
Queria que Deus ouvisse a minha
voz,
E transformasse aqui num Mundo
Mágico de Oz.
Queria que Deus ouvisse a minha
voz (que Deus ouvisse a minha voz)
Num Mundo Mágico de Oz (um
Mundo Mágico de Oz) (2x)
Um dia ele viu a malandragem com
o bolso cheio,
Pagando a rodada, risada e
vagabunda no meio.
A impressão que dá, é que ninguém
pode parar,
Um carro importado, som no talo,
Homem na Estrada, eles gostam.
Só bagaceira só, o dia inteiro só,
Como ganha o dinheiro?
Vendendo pedra e pó.
Rolex, ouro no pescoço à custa de
alguém,
Uma gostosa do lado, pagando pau
pra quem?
A polícia passou e fez o seu papel,
Dinheiro na mão, corrupção a luz do
céu.

34
Que vida agitada, hein? Gente
pobre tem.
Periferia tem. Você conhece
alguém?
Moleque novo que não passa dos
12,
Já viu, viveu, mais que muito
homem de hoje.
Vira a esquina e para em frente a
uma vitrine,
Se vê, se imagina na vida do crime.
Dizem que quem quer segue o
caminho certo,
Ele se espelha em quem tá mais
perto.
Pelo reflexo do vidro ele vê,
Seu sonho no chão se retorcer.
Ninguém liga pro moleque tendo um
ataque,
"Foda-se, quem morrer dessa porra
de crack."
Relacione os fatos com seu sonho,
Poderia ser eu no seu lugar.
Das duas uma, eu não quero
desandar,
Por aqueles manos que trouxeram
essa porra pra cá.
Matando os outros, em troca de
dinheiro e fama,
Grana suja, como vem, vai, não me
engana.
Queria que Deus ouvisse a minha
voz,
E transformasse aqui num Mundo
Mágico de Oz.
Queria que Deus ouvisse a minha
voz (que Deus ouvisse a minha voz)
Num Mundo Mágico de Oz (um
Mundo Mágico de Oz) (2x)
Ei mano, será que ele terá uma
chance?
Quem vive nessa porra, merece
uma revanche.
É um dom que você tem de viver,
É um dom que você recebe pra
sobreviver.
História chata, mas cê tá ligado,
Que é bom lembrar: quem entra, é
um em cem pra voltar.
Quer dinheiro pra vender? Tem um
monte aí.
Tem dinheiro, quer usar? Tem um
monte aí.
Tudo dentro de casa vira fumaça, é
foda.
Será que Deus deve estar
aprovando minha raça?
Só desgraça gira em torno daqui.
Falei do JB ao Piqueri, Mazzei.
Rezei para o moleque que pediu,
"Qualquer trocado, qualquer moeda,
Me ajuda tio..."
Pra mim não faz falta, uma moeda
não neguei,
Não quero saber, o que que pega

35
se eu errei.
Independente, a minha parte eu fiz,
Tirei um sorriso ingênuo, fiquei um
terço feliz.
Se diz que moleque de rua rouba,
O governo, a polícia, no Brasil quem
não rouba?
Ele só não tem diploma pra roubar,
Ele não esconde atrás de uma farda
suja.
É tudo uma questão de reflexão
irmão,
É uma questão de pensar.
A polícia sempre dá o mau exemplo,
Lava a minha rua de sangue, leva o
ódio pra dentro.
Pra dentro de cada canto da cidade,
Pra cima dos quatro extremos da
simplicidade.
A minha liberdade foi roubada,
Minha dignidade violentada.
Que nada dos manos se ligar,
Parar de se matar.
Amaldiçoar, levar pra longe daqui
essa porra.
Não quero que um filho meu um dia
Deus me livre morra,
Ou um parente meu acabe com um
tiro na boca.
É preciso eu morrer pra Deus ouvir
minha voz,
Ou transformar aqui no Mundo
Mágico de Oz?
Queria que Deus ouvisse a minha
voz (que Deus ouvisse a minha voz)
Num Mundo Mágico de Oz (um
Mundo Mágico de Oz) (2x)
Jardim Filhos da Terra e tal,
Jardim Hebron, Jaçanã e Jova
Rural.
Piqueri, Mazzei, Nova Galvão.
Jardim Corisco, Fontális e então.
Campo Limpo, Guarulhos, Jardim
Peri.
JB, Edu Chaves e Tucuruvi.
Alô Doze, Mimosa, São Rafael.
Zaki Narchi, tem um lugar no céu.
Às vezes eu fico pensando,
Se Deus existe mesmo, morô?
Porque meu povo já sofreu demais,
E continua sofrendo até hoje.
Só que ai eu vejo os moleque nos
farol, na rua,
Muito louco de cola, de pedra,
E eu penso que poderia ser um filho
meu, morô?
Mas aí, eu tenho fé,
Eu tenho fé... em Deus.
(Racionais MC’s. Sobrevivendo do Inferno)

36
Questões referentes aos textos 2, 3 e 4:
1) A partir da análise do contos extraídos de Brás, Bexiga e Barra Funda, de Alcântara Machado, responda:
a) Qual a ambientação feita pelo autor nos contos lidos?
b) Que aspectos sociais do cotidiano da cidade de São Paulo estão presentes nos contos?
c) Qual o tipo de linguagem empregado nos dois contos e qual o objetivo do
autor em utilizá-la.

37
2) Considerando a letra de rap reproduzida neste caderno, e os estudos sobre oralidade e escrita indique dois termos que foram empregados segundo o critério da sonoridade, e não o da norma-padrão da língua, justificando suas escolhas:
3) O rap é uma manifestação popular cujas composições privilegiam a língua
oral. No entanto, embora geralmente a composição apresente tais
características, em alguns momentos há um emprego normatizado da escrita,
que de certa forma não condiz com o “padrão popular” da fala. Levando em
conta essa observação:
a) Encontre pelo menos mais um termo, empregado na composição, que
“fuja” dos padrões típicos da fala, justificando sua resposta.
b) Considere a relação escolarização X letramento, vista em sala de aula. Em relação a esses aspectos, o que se pode dizer a respeito dos compositores e apreciadores do rap?

38
4) Compare a linguagem empregada nos contos de Bras, Bexiga e Barra
Funda com a empregada na música Mágico de Oz.
5) Compare a forma como a cidade de São Paulo é retratada nos contos de
Bras, Bexiga e Barra Funda e na música Mágico de Oz.

39
6) Que elementos explicam as diferenças na forma como os autores buscaram retratar a cidade de São Paulo e a usarem formas diferentes de linguagem.
TAREFA DE CASA:
A partir do material levantado na pesquisa de pré-campo, dos textos lidos e das questões respondidas por cada integrante do grupo devem ser produzidos os seguintes textos:
Texto 1: 2 parágrafos sobre a cidade de São Paulo contemplando os seguintes
aspectos históricos:
• Processo de ocupação da região e fundação da cidade;
• Principais atividades econômicas desenvolvidas ao longo do século XIX e
XX;

40
• Principais transformações do espaço urbano na virada do século XIX para
o XX e fatores que contribuíram para tais mudanças;
Texto 2: 2 parágrafos sobre a cidade de São Paulo contemplando os seguintes
aspectos geográficos:
• Características do relevo e clima da região
• Principais aspectos sociais (utilize os dados recolhidos no pré-campo)
Texto 3: 2 parágrafos contemplando as discussões sobre Língua e Linguagem
em que se trabalhe:
• O conceito de variação linguística
• As diversas formas de falar presentes na cidade de São Paulo
Cada grupo deve postar estes textos em seu blog impreterivelmente no dia
28/04.
Terça-feira (29/04)
1ª Atividade
Uma das principais fontes documentais acerca de uma cidade, das suas
transformações e de sua memória são as imagens fotográficas. A análise delas
nos permite recuperar elementos cotidianos do passado, perceber as
alterações da paisagem e compreender o grau de transformação pelo qual
passou o espaço urbano ao longo do tempo. A seguir você encontrará uma
série de fotografias que tratam de dois aspectos da cidade de São Paulo, a
paisagem da cidade e o cotidiano de seus habitantes. Observe as imagens
com atenção e responda as questões propostas:

41
A paisagem
Imagem 1:
(Largo de São Bento,1882)
1. Descreva, detalhadamente, os elementos dispostos na imagem 1 (incluir cores, composição, disposição dos elementos na imagem).

42
2. Que aspectos da cidade de São Paulo podem ser percebidos através da
análise da imagem 1? Justifique sua resposta a partir dos elementos apontados na questão anterior.

43
Imagem 2:
(Largo do São Bento, 1920)
3. Descreva, detalhadamente, os elementos dispostos na imagem 2 (incluir cores, composição, disposição dos elementos na imagem).

44
4. Que aspectos da cidade de São Paulo podem ser percebidos através da análise da imagem 2? Justifique sua resposta a partir dos elementos apontados na questão anterior.
5. Compare as paisagens retratadas na imagem 1 e na imagem 2 e explique
as diferenças presentes nela.

45
Imagem 3:
(Vale do Anhangabaú, 1890)
6. Descreva, detalhadamente, os elementos dispostos na imagem 3 (incluir cores, composição, disposição dos elementos na imagem).

46
7. Que aspectos da cidade de São Paulo podem ser percebidos através da análise da imagem 3? Justifique sua resposta a partir dos elementos apontados na questão anterior.
Imagem 4:
(Vale do Anhangabaú, 1933)
8. Descreva, detalhadamente, os elementos dispostos na imagem 4 (incluir cores, composição, disposição dos elementos na imagem).

47
9. Que aspectos da cidade de São Paulo podem ser percebidos através da
análise da imagem 4? Justifique sua resposta a partir dos elementos apontados na questão anterior.
10. Compare as paisagens retratadas na imagem 3 e na imagem 4 e explique
as diferenças presentes nela.

48
O cotidiano
Imagem 5:
(Encontro de mulheres no mercado caipira, 1910)
11. Descreva, detalhadamente, os elementos dispostos na imagem 5 (incluir cores, composição, disposição dos elementos na imagem).

49
12. É possível identificar elementos que apontem para características do cotidiano da cidade no início do século XX?

50
Imagem 6:
(Saída de fábrica no Brás, 1850)
13. Descreva, detalhadamente, os elementos dispostos na imagem 6 (incluir cores, composição, disposição dos elementos na imagem).

51
14. É possível identificar elementos que apontem para características do cotidiano da cidade na década de 1950?
15. A partir d comparação das imagens 5 e 6 é possível perceber alterações
no cotidiano da cidade? Se sim, explique quais são estas alterações

52
2ª Atividade
Texto 5: O PATRIMÔNIO: UMA QUESTÃO DE VALOR
Não importa quais sejam os direitos de propriedade, a destruição de um
prédio histórico e monumental não deve ser permitida a esses ignóbeis
especuladores, cujo interesse os cega para a honra. (...) Há duas coisas num
edifício: seu uso e sua beleza. Seu uso pertence ao proprietário, sua beleza a
todo o mundo; destruí-lo é, portanto, extrapolar o que é direito.
Victor Hugo
A questão dos patrimônios históricos e artísticos nacionais costuma ser
abordada tendo como foco o conjunto de objetos que os constituem, ou,
quando muito, os discursos que os legitimam. Neste trabalho, o centro da
investigação serão os processos e as práticas de construção desses
patrimônios, conduzidos por atores definidos e em circunstâncias específicas.
São essas práticas e esses atores que atribuem a determinados bens valor
enquanto patrimônio, o que justificaria sua proteção. Nesse sentido, é a noção
de valor que servirá de base a toda a reflexão aqui desenvolvida, pois
considero que são esses processos de atribuição de valor que possibilitam uma
melhor compreensão do modo como são progressivamente construídos os
patrimônios.
Na medida em que um dos traços que diferencia as sociedades simples
das sociedades complexas é a existência, nestas últimas, de um aparelho
estatal, com regras próprias e maior ou menor autonomia em relação aos
diferentes grupos sociais e, conseqüentemente, à distinção entre memórias
coletivas diversificadas e uma memória nacional, neste capítulo procuro
analisar o modo específico de construção do universo simbólico dos
patrimônios culturais nacionais: a sua constituição, a partir de um estatuto
jurídico próprio, a sua proposição, como uma forma de comunicação social, e a
sua institucionalização, enquanto objeto de uma política pública.
No artigo “A história da arte”, Giulio Carlo Argan * parte de uma distinção
entre coisa e valor - que servirá de base para a discussão, neste capítulo, da
noção de patrimônio:
Uma vez que as obras de arte são coisas às quais está relacionado um
valor, há duas maneiras de tratá-las. Pode-se ter preocupação pelas coisas:
procurá-las, identificá-las, classificá-las, conservá-las, restaurá-las, exibi-Ias,
comprá-las, vendê-las; ou, então, pode-se terem mente o valor; pesquisar em

53
que ele consiste, como se gera e transmite, se reconhece e se usufrui. (1992a,
p. 13)
Essas duas maneiras de abordar os fenômenos artísticos ocorrem também
no tratamento dos chamados bens patrimoniais. É próprio das políticas de
preservação estarem voltadas para as coisas e mesmo serem absorvidas por
elas. A necessidade de resistir a pressões no sentido da destruição (tanto por
fatores naturais como humanos), aliada à responsabilidade, inclusive penal, do
Estado e de eventuais proprietários, em relação aos bens tombados, faz com
que o objetivo dessas políticas acabe se reduzindo à proteção de bens,
convertendo-se assim as coisas no objeto principal da preocupação dos atores
envolvidos.
Conseqüentemente, o valor cultural que se atribui a esses bens tende a ser
naturalizado, sendo considerada sua propriedade intrínseca, acessível apenas
a um olhar qualificado. Essa costuma ser a visão do técnico, do restaurador,
dos responsáveis, enfim, pela conservação da integridade material dos bens,
mas termina por predominar também entre os formuladores daquelas políticas.
Entretanto, considero que uma política de preservação do patrimônio
abrange necessariamente um âmbito maior que o de um conjunto de atividades
visando à proteção de bens. É imprescindível ir além e questionar o processo
de produção desse universo que constitui um patrimônio, os critérios que
regem a seleção de bens e justificam sua proteção; identificar os atores
envolvidos nesse processo e os objetivos que alegam para legitimar o seu
trabalho; definir a posição do Estado relativamente a essa prática social e
investigar o grau de envolvimento da sociedade. Trata-se de uma dimensão
menos visível, mas nem por isso menos significativa, das políticas de
preservação.
No caso dos patrimônios históricos e artísticos nacionais, o valor que
permeia o conjunto de bens, independentemente de seu valor histórico,
artístico, etnográfico etc., é o valor nacional, ou seja, aquele fundado em um
sentimento de pertencimento a uma comunidade, no caso a nação. Como
observa José Reginaldo Gonçalves (1990), esses bens viriam objetivar, conferir
realidade e também legitimar essa “comunidade imaginada”.
Essa relação social, mediada por bens, de base mais afetiva que racional e
relacionada ao processo de construção de uma identidade coletiva - a
identidade nacional - pressupõe um certo grau de consenso quanto ao valor
atribuído a esses bens, que justifique, inclusive, o investimento na sua
proteção. No caso dos patrimônios, essa capacidade de evocar a idéia de
nação decorreria da atribuição, a esses bens, de valores da ordem da cultura -

54
basicamente o histórico e o artístico. A noção de patrimônio é, portanto,
datada, produzida, assim como a idéia de nação, no final do século XVIII,
durante a Revolução Francesa, e foi precedida, na civilização ocidental, pela
autonomização das noções de arte e de história. O histórico e o artístico
assumem, nesse caso, uma dimensão instrumental, e passam a ser utilizados
na construção de uma representação de nação. Já dizia Guizot, no século XIX,
que o solo da França é simbolizado por seus monumentos.’
Enquanto prática social, a constituição e a proteção do patrimônio estão
assentadas em um estatuto jurídico próprio, que torna viável a gestão pelo
Estado, em nome da sociedade, de determinados bens, selecionados com
base em certos critérios, variáveis no tempo e no espaço. A norma jurídica,
nesse caso, funciona como linguagem performativa de um modo bastante
peculiar: não apenas define direitos e deveres para o Estado e para os
cidadãos como também inscreve no espaço social determinados ícones,
figurações concretas e visíveis de valores que se quer transmitir e preservar.
A seguir, com base na idéia de patrimônio tal como é formulada em textos
jurídicos brasileiros,1 vou procurar especificar o modo como, no Brasil, se
constituiu essa noção enquanto fato jurídico e enquanto fato social.
1.1 A NOÇÃO DE PATRIMÔNIO COMO CATEGORIA JURÍDICA
Em termos jurídicos, a noção de patrimônio histórico e artístico nacional é
referida pela primeira vez no Brasil (embora não exatamente com essa
denominação), como sendo objeto de proteção obrigatória por parte do poder
público, na Constituição de 1934. Diz o art. 10 das disposições preliminares:
Art. 10 - Compete concorrentemente à União e aos Estados:
É, no entanto, somente com o decreto-lei nº 25, de 30 de novembro de
1937, que se regulamenta a proteção dos bens culturais no Brasil. Esse texto,
além de explicitar os valores que justificam a proteção, pelo Estado, de tens
móveis e imóveis”, tem como objetivo resolver a questão da propriedade
desses bens. Desde então, todas as Constituições brasileiras têm ratificado a
noção de patrimônio em termos de direitos e deveres, a serem observados
tanto pelo Estado como pelos cidadãos.’
A primeira linha de reflexão que desenvolverei diz respeito à questão do
valor. Em todos os textos jurídicos, é o valor cultural atribuído ao bem que
1 proteger as belezas naturais e os monumentos de valor histórico ou artístico, podendo impedir a
evasão de obras de arte.

55
justifica seu reconhecimento como patrimônio e, conseqüentemente, sua
proteção pelo Estado.
A segunda linha de reflexão - vinculada à primeira - remete
especificamente à questão da propriedade, crucial nas implicações práticas do
instituto do tombamento, sobretudo quando consideramos que a maior parte
dos bens que compõem os patrimônios, e, certamente, os mais significativos,
são bens arquitetônicos. Na medida em que são considerados de interesse
público, os bens tombados se convertem, em certo sentido, em propriedade da
nação, embora não percam seu caráter de mercadorias apropriáveis
individualmente.
0 instituto do tombamento - dispositivo por meio do qual, no decreto-lei n°-
25, de 30.11.37, se efetiva a proteção de bens culturais pelo Estado no Brasil -
incide sobre o sistema de valores dos bens por ele atingidos e sobre o estatuto
da propriedade desses bens de forma peculiar, específica. Para entender essa
especificidade, é preciso retomar a distinção referida por Argan entre coisa e
valor.’
Do ponto de vista jurídico - e para fins de regulamentação do direito de
propriedade -, tanto o Código Civil como o Código Penal brasileiros distinguem
bens materiais, ou coisas, de bens imateriais. O Direito das Coisas, no Código
Civil, “trata da coisa, enquanto valor econômico apropriável individualmente, e
de suas relações privadas” (Castro, 1991, p. 25). Distingue a coisa, apropriável,
dos bens imateriais, não econômicos, que, no dizer do jurista Clóvis
Bevilacqua, “são irradiações da personalidade que, por não serem suscetíveis
de medida de valor, não fazem parte de nosso patrimônio” (apud Castro, 1991,
p. 34).
Esses bens imateriais, ou valores, são objeto específico, por exemplo, do
Título III do Código Penal de 1940. Do ponto de vista jurídico, são
inapropriáveis individualmente - à diferença dos bens materiais - e a relação
dos indivíduos com esses bens se expressa juridicamente sob a forma de
direitos: o direito à liberdade, à vida, à instrução etc. Nessa linha se
inscreveriam também os direitos culturais, mencionados no art. 215 da
Constituição de 1988 e reconhecidos pela Unesco, desde 1948, na Declaração
Universal dos Direitos do Homem.
0 direito, portanto, além de ter por objeto interesses que se realizam dentro
do círculo da economia, volta-se também para interesses outros, tanto do
indivíduo, quanto da família e da sociedade. São os direitos meta-individuais,
que têm como titular não o indivíduo, mas uma coletividade mais ou menos
abrangente. Entre esses interesses figura o interesse público de que fala o art.

56
11 do decreto lei nº 25, de 30.11.37. Pelas características do sujeito desse tipo
de interesse indeterminado (a sociedade nacional, a humanidade etc.) - do seu
objeto - fluido (a identidade nacional, a qualidade de vida, o meio ambiente
etc.) e, também, pela intensa litigiosidade de seus parâmetros e pelo caráter
mutável de seu conteúdo (cf. Mancuso, 1991, p. 67-80), o interesse público se
insere na categoria dos interesses difusos.
0 próprio direito à propriedade - enquanto direito do indivíduo, consagrado
pelo Direito romano, fonte para o Direito brasileiro - é, no Código Civil
Brasileiro, limitado pelo que seria a função social da propriedade,
regulamentada pela legislação. Nesse sentido, o exercício do direito de
propriedade sobre as coisas não se pode contrapor a outros valores, não-
econômicos, de interesse geral, e, por isso, o exercício desse direito é tutelado
pela administração pública.
No caso específico do bem tombado, a tutela do Estado recai sobre
aqueles aspectos do bem considerados de interesse público - valores culturais,
referências da nacionalidade. O valor patrimonial é qualificado no texto legal:
“quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu
excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico” (art. 12
decreto-lei nº 25, de 30.11.37). De acordo com o mesmo texto, o agente
encarregado da atribuição desse valor, para fins de tutela pública, é a
autoridade estatal competente - no caso, o Serviço do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional, através de seu Conselho Consultivo.
Cabe ao poder público, portanto, exercer tutela no sentido de proteger “os
valores culturais ínsitos no bem material, público ou particular, a cujos
predicamentos, particularidades ou peculiaridades é sensível a coletividade e
importa defender e conservar em nome da educação, como elementos
indicativos da origem, da civilização e da cultura nacionais” (Rocha, 1967, p.
31).
Esse é, lato sensu, o objetivo das políticas de preservação: garantir o
direito à cultura dos cidadãos, entendida a cultura, nesse caso, como aqueles
valores que indicam - e em que se reconhece - a identidade da nação.
Entretanto, embora a proteção incida sobre as coisas, pois estas é que
constituem o objeto da proteção jurídica, o objetivo da proteção legal é
assegurar a permanência dos valores culturais nelas identificados. Esses
valores só são alcançáveis através das coisas, mas nem sempre coincidem
exatamente com unidades materiais. Essa distinção se torna mais clara quando
consideramos o tombamento de conjuntos, seja de bens móveis (por exemplo,
coleções de museus) ou imóveis (por exemplo, centros históricos). Nesses

57
casos, o objeto do tombamento é um único valor - o bem coletivo (no sentido
gramatical do termo, de conjunto de unidades), embora materializado em uma
multiplicidade de coisas, geralmente heterogêneas.
No caso do patrimônio, os valores não econômicos a serem protegidos
(valores culturais) estão inscritos na própria coisa, em função de seu
agenciamento físico-material, e só podem ser captados através de seus
atributos. Mas, com o tombamento, o bem não perde o valor econômico que
lhe é próprio, enquanto coisa, passível da apropriação individual. Por esse
motivo, é preciso regular mais rigidamente ainda, nesse caso, o exercício do
direito de propriedade.
Sobre o mesmo bem, enquanto bem tombado, incidem, assim, duas
modalidades de propriedade: a propriedade da coisa, alienável, determinada
por seu valor econômico, e a propriedade dos valores culturais nela
identificados que, por meio do tombamento, passa a ser alheia ao proprietário
da coisa: é propriedade da nação, ou seja, da sociedade sob a tutela do
Estado.
Esse duplo exercício de propriedade sobre um mesmo bem gera,
obviamente, uma série de problemas, pois o exercício de um tipo de
propriedade limita necessariamente o exercício do outro. É evidente que os
conflitos de interesses - sobretudo entre o interesse público e o privado - ficam,
nesse caso, mais agudos, mesmo porque o chamado valor cultural de um bem
não é regulado por um mercado específico, mas se define no nível da
“economia das trocas simbólicas”.
De tudo que foi dito, fica claro que o âmbito de uma política de preservação
do patrimônio vai muito além da mera proteção de bens móveis e imóveis em
sua feição material, pois, se as coisas funcionam como mediação
imprescindível dessa atividade, não constituem, em princípio, a sua justificativa,
que é o interesse público, nem seu objeto último, que são os valores culturais.
E, se os valores que se pretende preservar - conforme está explícito na
abordagem jurídica da questão -são apreendidos na coisa e somente nela, não
se pode deixar de levar em consideração o fato óbvio de que os significados
nela não estão contidos, nem lhe são inerentes: são valores atribuídos em
função de determinadas relações entre atores sociais, sendo, portanto,
indispensável levar em consideração o processo de produção, de reprodução,
de apropriação e de reelaboração desses valores enquanto processo de
produção simbólica e enquanto prática social.

58
1.2 O PATRIMÔNIO COMO FORMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
O universo dos patrimônios históricos e artísticos nacionais se caracteriza
pela heterogeneidade dos bens que o integram, maior ou menor conforme a
concepção de patrimônio e de cultura que se adote: igrejas, palácios, fortes,
chafarizes, pontes, esculturas, pinturas, vestígios arqueológicos, paisagens,
produções do chamado artesanato, coleções etnográficas, equipamentos
industriais, para não falar do que a Unesco denomina patrimônio não-físico ou
imaterial - lendas, cantos, festas populares, e, mais recentemente, fazeres e
saberes os mais diversos.
Essa enumeração, propositalmente caótica, visa a chamar a atenção para
o fato de que os bens enumerados acima pertencem, enquanto signos, a
sistemas de linguagem distintos: à arquitetura, às artes plásticas, à música, à
etnografia, à arqueologia etc. Cada um desses sistemas tem, por sua vez, suas
especificidades e seu modo próprio de funcionamento enquanto código. Além
disso, esses bens cumprem funções diferenciadas na vida econômica e social.
Do que foi dito acima, pode-se deduzir que o que denominamos patrimônio
constitui um discurso de segundo grau: às funções e significados de
determinados bens é acrescentado um valor específico enquanto patrimônio, o
que acarreta a ressemantização do bem e leva a alterações no seu sistema de
valores. O processo de seleção desses bens é conduzido por agentes
autorizados - representantes do Estado, com atribuições definidas - e dentro de
categorias fixas, a priori definidas, relacionadas a determinadas disciplinas
(arte, história, arqueologia, etnografia etc.).
No caso brasileiro, essas categorias são os valores especificados no
decreto lei nº 25, de 30.11.37.6 A essas categorias se superpõe uma categoria
unificadora, a de valor nacional.
Os signos referidos funcionam antes como símbolos, no sentido
saussuriano do termo. Para Saussure (1969, p. 101), o símbolo nunca é
inteiramente arbitrário, ele não é vazio, pois é construído com base em uma
motivação cultural. O símbolo da justiça não poderia ser uma carruagem.
No caso dos bens patrimoniais, os atributos da coisa são considerados
valores culturalmente relevantes, excepcionais. No caso do Brasil,
determinados bens como igrejas dos séculos XVII e XVIII, casas de câmara e
cadeia, fortes, palácios, sedes de fazendas etc. foram erigidos pelos agentes
do Sphan em símbolos da nação por sua vinculação a fatos memoráveis mas,
sobretudo, por suas qualidades construtivas e estéticas. Cabe, portanto,

59
recorrer à noção de símbolo, pois haveria uma motivação, baseada na cultura,
na constituição desses símbolos.
Pode-se concluir que os patrimônios funcionam como repertórios nos
termos da definição de Umberto Eco: “um repertório prevê uma lista de
símbolos, e eventualmente fixa a equivalência entre eles e determinados
significados” (1987, p. 40).
Neste ponto, quero chamar a atenção para a distinção - até o momento não
explicitada - entre bem cultural e bem patrimonial. A intermediação do Estado
no segundo caso, através de agentes autorizados e de práticas socialmente
definidas e juridicamente regulamentadas, contribui para fixar sentidos e
valores, priorizando uma determinada leitura: seja a atribuição de valor
histórico, enquanto testemunho de um determinado espaço/tempo vivido por
determinados atores; seja de valor artístico, enquanto fonte de fruição estética,
o que implica também uma modalidade específica de conhecimento; seja de
valor etnográfico, enquanto documento de processos e organizações sociais
diferenciados.
Ao se considerar um bem como bem cultural, ao lado de seu valor utilitário
e econômico (valor de uso enquanto habitação, local de culto, ornamento etc; e
valor de troca, determinado pelo mercado), enfatiza-se seu valor simbólico,
enquanto referência a significações da ordem da cultura. Na seleção e no uso
dos materiais, no seu agenciamento, nas técnicas de construção e de
elaboração, nos motivos, são apreendidas referências ao modo e às condições
de produção desses bens, a um tempo, a um espaço, a uma organização
social, a sistemas simbólicos. No caso dos bens patrimoniais selecionados por
uma instituição estatal, considera-se que esse valor simbólico refere-se
fundamentalmente a uma identidade coletiva, cuja definição tem em vista
unidades políticas (a nação, o estado, o município).
Assim como ocorre na literatura, portanto, e nas artes em geral, para que
determinados bens funcionem enquanto patrimônio é preciso que se aceite
uma convenção: que esses bens conotam determinadas significações - ou
seja, que se entre no jogo, aceitando suas regras. Isso significa que o
interlocutor deve ter condições de participar do jogo não só na medida em que
tenha algum domínio dos códigos utilizados - no caso, as diferentes linguagens
-, como também que tenha acesso a um determinado -universo cultural. No
caso do patrimônio não basta, portanto, selecionar e proteger criteriosamente
um conjunto de bens. É preciso que haja sujeitos dispostos e capazes de
funcionarem como interlocutores dessa forma de comunicação social, seja para
aceitá-la tal como é proposta, seja para contestá-la, seja para transformá-la.

60
O que quero dizer é que a proteção da integridade física dos bens
patrimoniais não é por si só suficiente para sustentar uma política pública de
preservação. Isso porque a leitura de bens enquanto bens patrimoniais
pressupõe as condições de acesso a significações e valores que justifiquem
sua preservação. Depende, portanto, de outros fatores além da mera presença,
num espaço público, de bens a que agentes estatais atribuíram valor histórico,
artístico etc., devidamente protegidos em sua feição material.
Essa dimensão da questão do patrimônio - ou seja, a consideração dos
bens do ponto de vista de sua recepção - não costuma ser abordada, a não ser
eventualmente, pelos agentes institucionais. Normalmente, é do ponto de vista
da produção dos patrimônios que a questão é tratada, seja na afrmação do
valor nacional dos bens tombados - tônica do discurso oficial -, seja na crítica
ao modo como são selecionados esses bens. Entretanto, poucos se voltam
para a análise do modo e das condições de recepção desse universo simbólico
pelos diferentes setores da sociedade nacional - questão que é particularmente
importante no Brasil, onde a diversidade cultural é imensa, a escola cumpre
muito precária e limitadamente uma de suas funções principais, que é a de
formar cidadãos com uma base cultural comum, e onde o hábito de consumo
de bens culturais é incrivelmente restrito. Por esse motivo, qualquer proposta
de democratização da política de preservação que não leve em conta essa
realidade corre o risco de cair no vazio, na medida em que os valores culturais
que se quer preservar - fundados, como já foi observado, nas noções de arte e
de história - só fazem sentido para um pequeno grupo. Outro problema, na
mesma linha mas em sentido inverso, é a leitura que as classes cultas fazem
da cultura popular, em geral a partir de uma perspectiva folclorizante que
enfatiza o exotismo ou a discutível categoria da autenticidade.’
Por esse motivo, vale a pena considerar esse aspecto da questão, ou seja,
o processo de apropriação dos bens patrimoniais. Para Roger Chartier (1988),
todo receptor é, na verdade, um produtor de sentido, e toda leitura é um ato de
apropriação. As significações produzidas pelas diferentes leituras podem,
inclusive, estar bem distantes da intenção ou do interesse do autor da obra -
ou, no caso dos bens patrimoniais, das significações e valores que os agentes
estatais autorizados lhes atribuíram enquanto patrimônio.
De um lado, é evidente que esses bens serão tanto mais nacionais quanto
maior for o número de pessoas que os identifique como patrimônio. Por outro
lado, esse consenso não significará necessariamente que todos fazem a
mesma leitura do bem. Só para dar um exemplo bastante óbvio, a igreja do
Senhor do Bonfim, em Salvador, será valorizada por alguns por suas

61
qualidades estéticas, por outros, como local de culto católico, por outros ainda,
como palco para rituais de candomblé, e pelos turistas, muito provavelmente
como um dos símbolos da capital da Bahia.
O que quero dizer é que, por mais regulamentado e controlado que
pretenda ser o processo de construção dos patrimônios, e por mais fixos que
possam parecer os efeitos de um tombamento, tanto materiais como
simbólicos, a recepção dos bens tombados tem uma dinâmica própria em dois
sentidos: primeiro, no da mutabilidade de significações e valores atribuídos a
um mesmo bem em diferentes momentos históricos - mudança que diz respeito
inclusive às próprias concepções do que seja histórico, artístico etc.; segundo,
no da multiplicidade de significações e de valores atribuídos, em um mesmo
momento e um mesmo contexto, a um mesmo bem, por grupos econômica,
social e culturalmente diferenciados.
A percepção dessas dinâmicas relativamente ao patrimônio é fenômeno
mais ou menos recente, e decorre de circunstâncias específicas, que serão
abordadas no próximo capítulo. O que interessa ressaltar aqui é que é
imprescindível levá-las em conta na formulação de uma política de
preservação.
O fato é que as análises críticas das políticas de preservação têm dado
ênfase ao processo de construção dos patrimônios, visando a chamar a
atenção para sua utilização como instrumento ideológico de legitimação do
poder estatal. Ao criticarem o seu caráter elitista, atribuem-no apenas ao
processo de seleção de bens, excludente, e que privilegia os monumentos
identificados com a cultura dominante que, no caso do Brasil, é a cultura luso-
brasileira. Conseqüentemente, as propostas visando a democratizar o
patrimônio se centram no vértice de sua construção - ou seja, na ampliação do
conceito de patrimônio e na participação da sociedade na constituição e no
gerenciamento desse patrimônio. Fica de fora a questão da democratização da
apropriação simbólica desses bens.
A democratização da apropriação não deve, no entanto, ser entendida
como mera difusão das significações produzidas pelos agentes institucionais.
Como observa Roger Chartier, uma abordagem que leve em conta a
complexidade do processo de recepção vai chamar a atenção para os usos
diferenciados que são feitos dos mesmos bens, o que possibilita, inclusive, sua
apropriação diferenciada pelos grupos sociais, mesmo em situação de
desigualdade econômica e social. Por outro lado, esse tipo de abordagem vai
evidenciar os limites que se interpõem a essa apropriação, e que decorrem da
dificuldade de acesso, para grupos sociais culturalmente desfavorecidos

62
(entendida aqui cultura como as informações e experiências veiculadas
primordialmente pela educação formal), ao consumo e aos códigos de leitura
dos bens patrimoniais.
Essa perspectiva não impede que as diferenças sejam identificadas
(inclusive as diferenças com raízes econômicas e sociais), mas desloca a sua
própria esfera de identificação, uma vez que não implica a qualificação social
das obras como um todo (“arquitetura luso-brasileira”, “artesanato”, “arte
popular” etc.). Em vez disso, caracteriza as práticas que se apropriam,
distintivamente, dos materiais que circulam numa determinada sociedade
(Chartier, 1988, p. 233).
As análises centradas no processo de construção dos patrimônios são
importantes, na medida em que procuram desvendar o modo como
determinados intelectuais, em nome do Estado, concebem a identidade
nacional”. Mas, uma vez que o interesse na questão do patrimônio seja o de
entender o processo específico de circulação dos bens patrimoniais numa
sociedade, a consideração do vértice da recepção é indispensável, tendo em
vista o caráter dinâmico e ativo de qualquer apropriação social. Apenas quando
esse aspecto é devidamente incorporado à política estatal é que se pode falar
em uma política pública.
1.3 O PATRIMÔNIO COMO OBJETO DE UMA POLÍTICA PÚBLICA
Para Oscar Ozlack e Guillermo O’Donnel, as políticas estatais seriam
“alguns acordes de um processo social tecido em torno de um tema ou
questão” (1976, p. 17). Para Jobert e Muller, as políticas públicas constituem
“tentativas de gerir uma relação entre um setor e a sociedade global” (1987, p.
52). Em ambas as definições, pressupõe-se um “Estado em ação”, distinto da
imagem de um Estado uno, que se apresenta como identificado à nação, de
que garantiria a coesão. Nessa imagem a do Estado como um organismo que
regula os movimentos da sociedade - Estado, nação e sociedade praticamente
se fundem no imaginário social.
A idéia de um “Estado em ação” implica, no entanto, a heterogeneidade, a
luta de poder e o conflito de interesses, mesmo dentro da burocracia estatal.
Logo, analisar o “Estado em ação” significa levar em conta sua dinâmica
interna, a partir das ações de diferentes sujeitos, tornando-se difícil recorrer,
nesse nível, a modelos analíticos que o reduzam a um instrumento de classe, a
gestor da ordem social, a promotor do desenvolvimento, ou a qualquer outra

63
concepção que neutralize os inevitáveis antagonismos, tanto do Estado com a
sociedade quanto internamente, na máquina estatal.
A imagem que se tem da política federal de preservação no Brasil contradiz
essa afirmação. A idéia de uma ação política monolítica, conduzida
praticamente sem contestações pelo Estado, em nome do interesse público,
foi, inclusive, reforçada pela aura que, até hoje, envolve a fase heróica do
Sphan. Entretanto, como a trajetória dessa política estatal veio demonstrar,
essa foi apenas uma entre diferentes orientações possíveis - e que, na época,
se impôs sem maiores dificuldades, como a mais apropriada - para se elaborar
a questão da identidade nacional na constituição de um patrimônio histórico e
artístico.
Partindo do pressuposto de que essa imagem é formada com base em
uma situação conjuntural - o modo como essa política vem sendo conduzida no
Brasil, o que uma análise comparativa com outras políticas pode comprovar -,
propusme, neste trabalho, a abordar essa política estatal na sua relação com a
sociedade, procurando apreender, ainda que nos limites de uma prática
específica - os tombamentos -a presença de outros atores que não apenas os
agentes institucionais. Pois é evidente que, se essa política foi instaurada e se
mantém há mais de cinqüenta anos, é porque atende a algum tipo de demanda
social mais ampla.
Na pesquisa, procurei seguir os passos discriminados tanto por Ozlack e
O’Donnel quanto por Jobert e Muller para a análise de políticas públicas: a
definição da questão e do modo como ela se tornou politicamente relevante,
passando a ser objeto de uma política pública; a discriminação dos atores
envolvidos, estatais e não-estatais, de sua inserção social e das lideranças que
assumem o setor; os recursos a que esses atores recorrem para legitimar essa
política, ou seja, a relação de um projeto setorial com um projeto global para a
nação; os instrumentos utilizados na sua implementação.
No conjunto das políticas implementadas pelo Estado, as políticas culturais
se distinguem pelo tema. Mas, assim como as demandas nessa área são bem
mais difusas e costumam se concentrar em grupos restritos, também os
objetivos dessas políticas nunca são claramente apresentados, tanto nos
discursos oficiais quanto em definições formuladas em outras instâncias.’
Nesse sentido, é mais proveitoso verificar como diferentes linhas de
pensamento político elaboram uma prática política nesse campo.
Numa perspectiva liberal, cabe à sociedade produzir cultura. Ao Estado,
cabe apenas garantir as condições para que esse direito possa ser exercido
por todos os cidadãos. Para Norberto Bobbio (1977), essas condições são,

64
basicamente, o reconhecimento e o respeito a valores como a liberdade
(enquanto ausência de impedimentos físicos e morais), a verdade (enquanto
espírito crítico, em oposição ao dogmatismo, à intolerância e às falsificações) e
a confiança no diálogo.
Bobbio faz um distinção entre política cultural e política da cultura. A
primeira é a planificação da cultura feita pelos políticos, em que a cultura figura
como instrumento para alcançar fins políticos. A segunda é a política dos
homens de cultura, voltada para garantir as condições de desenvolvimento da
cultura e o exercício dos direitos culturais.
Se, na perspectiva liberal, cabe ao Estado simplesmente assegurar o
espaço para a produção e o consumo de bens culturais, numa perspectiva
socialista o Estado liberal constituiria um instrumento de classe. Nesse sentido,
o que Bobbio denominou política de cultura seria inviável numa sociedade de
classes.
Considero que a postura liberal é irrefutável do ponto de vista de seus
princípios, mas, no caso brasileiro, seus pressupostos colidem com uma
realidade em que a cidadania ainda não é um bem coletivo. Nesse caso, a
formulação de uma política cultural democrática (atributo que tanto os liberais
quanto os socialistas defendem em suas propostas) implica uma atuação
necessariamente mais ativa e abrangente do Estado. Trata-se não só de
defender determinados valores, como de criar condições para implementá-los
numa sociedade onde os direitos mínimos da cidadania, na prática, são
exercidos por poucos. Ou seja, considerar todos os cidadãos como homens de
cultura, assim como propunha Gramsci, em condições de exercer os direitos
culturais, e atuar no sentido de converter esse princípio - que no caso do Brasil
é ainda um ideal - em realidade.
Na verdade, a implementação de uma proposta como essa - desafio que
vem sendo enfrentado sobretudo no âmbito das secretarias municipais de
culturas requer um esforço prévio, uma atuação didática no sentido de
sedimentar uma nova cultura política.
Se essa orientação tem se mostrado complexa no âmbito municipal, que
dirá uma proposta de democratização como a formulada pela política federal de
cultura no início dos anos 80, ainda em plena vigência do regime militar.
Naquele momento, além da fragilidade dos mecanismos institucionais de
representação política, que só então começavam a ser reorganizados, e das
formas de participação social, especificamente na área da cultura (a não ser
entre alguns produtores culturais, como os cineastas), inexistiam mecanismos
de mediação entre Estado e sociedade, e era praticamente impossível

65
identificar atores sociais constituídos em torno de causas culturais. Ficava no ar
a pergunta (e, para alguns, a suspeita) sobre o sentido dessa proposta:
idealismo de alguns agentes institucionais, instrumentalização da cultura por
um governo em crise de legitimidade ou estratégia política de resistência,
possível num setor à margem dos grandes interesses do capital?
Independentemente da resposta que se dê a essas indagações, o fato é
que, como observa Chantal Mouffe (1988, p. 95), a mera enunciação, através
de discursos, de determinados princípios e direitos -como o direito à igualdade
- constitui fator que viabiliza a constituição de novos sujeitos sociais (por
exemplo, os escravos como “homens”, as mulheres como “cidadãs” etc.) e a
transformação de relações de subordinação em antagonismos. Nesse sentido,
nos anos que se seguiram à formulação da proposta da Secretaria da Cultura
do MEC, em 1981, ficou evidente que essa proposta veio atender a uma
demanda social de valores democráticos, na medida em que seu discurso foi
incorporado pelas mais diversas instâncias, e foi absorvido pela Constituição
de 1988.
Entretanto, se partiu da área federal uma primeira reivindicação pela
democratização da política cultural, na prática têm sido os órgãos municipais
que vêm implementando com maior visibilidade propostas nesse sentido. E,
passados vários anos da elaboração do documento Diretrizes para opera
cionalização da política cultural do MEC (1981), fica no ar a pergunta: qual a
proposta hoje - em face de uma realidade politicamente outra, embora social e
economicamente ainda fortemente marcada pela desigualdade - da área
federal para a cultura, em geral, e para o patrimônio, em particular?
Esse trabalho não pretende - nem seria de sua atribuição - oferecer
resposta a essa pergunta, mas apenas contribuir com alguns subsídios para a
formulação de propostas que, afinadas com a realidade presente, não deixem
de levar em conta uma experiência acumulada, em mais de cinqüenta anos,
por uma política que se tem diferenciado - tanto de um ponto de vista positivo
como negativo no conjunto das políticas estatais brasileiras.
Notas
Historiador e crítico de arte italiano, catedrático de História da Arte da
Universidade de Roma. Trabalhou de 1933 a 1955 na Administração Estatal do
Patrimônio Artístico. Foi eleito prefeito da cidade de Roma, em 1976, e senador
pelo Partido Comunista Italiano, em 1983.
Sobre a relação entre a história e as ideologias políticas, disse, em
entrevista, o historiador Eric Hobsbawm: “A história é a matéria-prima para

66
ideologias nacionalistas, étnicas ou fundamentalistas, da mesma maneira como
as papoulas são a matéria-prima para os viciados em heroína. O passado é um
elemento essencial, talvez até mesmo o elemento essencial nestas ideologias.
Quando não existe um passado adequado, ele sempre pode ser inventado.” (0
Estado de São Paulo, 16 jan. 1994. Especial Domingo, p. D6)
Embora algumas das observações que se seguem tenham interesse geral -
na medida em que se aplicam a outros contextos nacionais - elas dizem
respeito apenas ao modo como, no Brasil, é construída juridicamente a noção
de patrimônio histórico e artístico nacional.
Cf. Barbuy, 1989, sobre as menções, nas Constituições brasileiras,
relativas à cultura.
Lembro que essa distinção - entre coisa e valor - é referida aqui apenas na
medida em que é útil como recurso para a compreensão da noção de
patrimônio. Não se têm em mente dois termos independentes e sim duas faces
de uma mesma moeda, como o par significante/significado, em lingüística.
Para fins de inscrição dos bens tombados, devem-se considerar os quatro
Livros do Tombo: Livro Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, Livro
Histórico, Livro de Belas Artes e Livro de Artes Aplicadas. Esse último livro se
acha em desuso, e dele constam apenas quatro inscrições.
Foi no sentido de reelaborar criticamente esses tipos de leitura que vários
projetos do CNRC abordaram manifestações de cultura popular. A partir dessa
mesma visão foram consideradas as manifestações das diferentes etnias.
Sobre essa questão, sintetiza Eunice Durham: “de um lado, é necessário
eliminar as barreiras educacionais e materiais que impedem a maioria da
população de ter acesso aos bens culturais, que são monopolizados pelas
classes dominantes; de outro lado, é importante preservar e difundir a
produção cultural que é própria das classes populares, garantindo seu acesso
a instrumentos que facilitem essa produção e permitam sua conservação e
transmissão” (apud Arantes, 1984, p. 34).
Tanto a definição de política cultural formulada pela Unesco quanto a de
Néstor García Canclini são igualmente vagas e genéricas:
1) Para a Unesco, política cultural constitui “um conjunto de práticas sociais
conscientes e deliberadas, de intervenções e não-intervenções, tendo por
objeto satisfazer certas necessidades culturais pelo melhor emprego possível
de todos os recursos materiais e humanos de que dispõe uma sociedade num
momento dado” (1969, p. 8).
2) Para Canclini, política cultural é “um conjunto de intervenções realizadas
pelo Estado, as instituições e os grupos comunitários organizados a fim de

67
orientar o desenvolvimento simbólico, satisfazer as necessidades culturais da
população e obter consenso para um tipo de ordem ou de transformação
social” (1987, p. 26).
Ver Faria, Hamilton José Barreto de; Souza, Valmir de (org.). Experiências
de gestão cultural democrática. Pólis, São Paulo, n. 12, 1993. Em entrevista a
Gabriel Cohn, Marilena Chauí, então secretária municipal de cultura de São
Paulo, esclarece o sentido desse tipo de proposta: “Decidimos também
considerar a cultura como direito do cidadão, o direito de ter acesso aos bens
culturais, o direito de produzir cultura, e o direito de participar das decisões na
política cultural. E com isso o nosso projeto é um projeto de cidadania cultural.”
(1990, p. 32)
(Maria Cecília de Londres Fonseca. O Patrimônio em Processo. Rio de Janeiro, UERJ, 2005,
Pag. 35 – 50)

68
Questões Referentes ao texto 5:
1. Cada país possui uma forma específica de proteger o que considera
Patrimônio Histórico e Artístico. A partir das informações obtidas no texto,
responda:
a) No caso do Brasil, de quem é a responsabilidade de proteger e preservar o
Patrimônio Histórico e Artístico nacional?
b) Quais os instrumentos utilizados para proteger um bem considerado
patrimônio nacional?
2. Diversos elementos de uma determinada cultura podem ser considerados
como patrimônio nacional. Para poder organizar a preservação desses

69
elementos, foram criadas certas categorias para agrupá-los. Dê exemplos
de bens que se encaixam nas categorias abaixo:
a) Patrimônio material imóvel.
b) Patrimônio material móvel.
c) Patrimônio imaterial.
3. “Ao considerar um bem como bem cultural, ao lado de seu valor utilitário e
econômico (valor de uso enquanto habitação, local de culto, ornamento etc.; e
valor de troca, determinado pelo mercado), enfatiza-se seu valor simbólico,

70
enquanto referência a significações da ordem da cultura. Na seleção e no uso
dos materiais, no seu agenciamento, nas técnicas de construção e de
elaboração, nos motivos, são apreendidas referências ao modo e às condições
de produção desses bens, a um tempo, a um espaço, a uma organização
social, a sistemas simbólicos. No caso dos bens patrimoniais selecionados por
uma instituição estatal, considera-se que esse valor simbólico refere-se
fundamentalmente a uma identidade coletiva, cuja definição tem em vista
unidades políticas a nação, o estado, o município).”
(O patrimônio em processo. Maria Cecília Londres Fonseca. Rio de Janeiro, Editora UERJ, 2005, p. 42.)
Com base no texto, responda:
a) É possível atribuir a um bem várias formas de valor. Identifique as formas
apresentadas no texto.
b) Dentre todas essas formas, explique o que é o valor simbólico de um bem
considerado patrimônio.

71
c) “No caso dos bens patrimoniais selecionados por uma instituição estatal,
considera-se que esse valor simbólico refere-se fundamentalmente a uma
identidade coletiva, cuja definição tem em vista unidades políticas (a nação, o
estado, o município).”
A partir da ideia presente nessa frase, explique a relação entre o valor
simbólico de um bem e sua escolha como patrimônio por uma instituição
estatal.
4. “Entretanto, considero que uma política de preservação do patrimônio
abrange necessariamente um âmbito maior que a de um conjunto de atividades
visando à proteção de bens. É imprescindível ir além e questionar o processo
de produção desse universo que constitui um patrimônio, os critérios que
regem a seleção de bens e justificam sua proteção(...)”
(O patrimônio em processo. Maria Cecília Londres Fonseca. Rio de Janeiro, Editora UERJ, 2005, p. 36.)
“A idéia de um ‘Estado em ação’ implica, no entanto, a heterogeneidade, a luta
de poder e o conflito de interesses, mesmo dentro da burocracia estatal.” (O patrimônio em processo. Maria Cecília Londres Fonseca. Rio de Janeiro, Editora UERJ, 2005, p. 46.)

72
A partir da leitura do texto e de sua reflexão sobre o patrimônio histórico e
artístico, responda:
a) Quais são as principais questões apresentadas pela autora do texto em
relação ao patrimônio histórico e artístico? Enumere tais argumentos de
maneira resumida.
b) Qual o papel do Estado no processo de escolha dos bens tombados
como patrimônio histórico e artístico nacional? Todos os grupos sociais são
contemplados por essas escolhas? Justifique sua resposta com exemplos,
tomando como base o Brasil.

73
TAREFA DE CASA:
A partir da leitura do texto 4, das reflexões suscitadas pelas questões referentes a ele e das análises de imagem o grupo deve produzidos os seguintes textos:
Texto 1: 2 parágrafos analisando as transformações da paisagem da cidade de
São Paulo (este texto deve se basear nas questões respondidas em aula sobre
análise de imagem)
Texto 2: 2 parágrafos explicando:
• O conceito de patrimônio histórico;
• A importância de se preservar bens materiais e imateriais considerados
patrimônio histórico;
• O papel do estado na preservação do patrimônio histórico;
Cada grupo deve postar estes textos em seu blog impreterivelmente no dia
29/04.

74
Quarta-feira (30/04)
1ª Atividade
Texto 6: O QUE É CIDADE
Definindo a cidade
Quando, ao decidir escrever este livro, me perguntei o que é cidade, a
primeira imagem que me veio à cabeça foi São Paulo, a metrópole que se
perde de vista. Pensei na intensidade de São Paulo, feita do movimento
incessante de gente e máquinas, do calor dos encontros, da violência dos
conflitos. Milhares de habitantes. Milhões. Mas logo me ocorreu uma dúvida:
não seriam esse ritmo e essa intensa concentração, para mim tão sinônimos de
urbano, próprios apenas das metrópoles, as cidades que anunciam o século
XXI?
Pensei então em outras cidades, de outros tempos e lugares — Babilônia,
Roma, Jerusalém — cidades amuralhadas, de limites precisos, cujas portas
permitiam ou bloqueavam o contacto com o mundo exterior. Pensei então na
ironia de Wall Street, a rua do muro que limitava a cidade de Nova Iorque, no
século XVII, transformando-se no centro do mercado financeiro internacional,
símbolo de um mundo onde as cidades não têm fim. No início da história
americana, quem se dirigia a Nova Iorque deparava-se com seus portões. Hoje
esta possibilidade não existe mais: não se está nunca diante da cidade, mas
quase sempre dentro dela.
O espaço urbano deixou assim de se restringir a um conjunto denso e
definido de edificações para significar, de maneira mais ampla, a
predominância da cidade sobre o campo. Periferias, subúrbios, distritos
industriais, estradas e vias expressas recobrem e absorvem zonas agrícolas
num movimento incessante de urbanização. No limite, este movimento tende a
devorar todo o espaço, transformando em urbana a sociedade como um todo.
Diante de fenômenos tão diferentes como as antigas cidades muradas e as
gigantescas metrópoles contemporâneas, seria possível definir cidade?

75
Na busca de algum sinal que pudesse apontar uma característica essencial
da cidade de qualquer tempo ou lugar, a imagem que me veio à cabeça foi a de
um ímã, um campo magnético que atrai, reúne e concentra os homens.
A cidade como um ímã
Isto mesmo, a cidade é antes de mais nada um ímã, antes mesmo de se
tornar local permanente de trabalho e moradia. Assim foram os primeiros
embriões de cidade de que temos notícia, os zigurates, templos que
apareceram nas planícies da Mesopotâmia em torno do terceiro milênio antes
da era cristã.
A construção do local cerimonial corresponde a uma transformação na
maneira de os homens ocuparem o espaço. Plantar o alimento, ao invés de
coletá-lo ou caçá-lo, implica definir o espaço vital de forma mais permanente. A
garantia de domínio sobre este espaço está na apropriação material e ritual do
território. E assim, os templos se somam a canteiros e obras de irrigação para
constituir as primeiras marcas do desejo humano de modelar a natureza.
A técnica do tijolo cozido, material de que eram feitos os zigurates,
possibilitava esta nova maneira de pensar o hábitat. Da justaposição dos
materiais tal como eram encontrados na natureza, a arquitetura passava à livre
composição de formas.
O tijolo, por ser uma unidade geométrica simples e padronizada, possível
de ser produzida em escala, permite enorme facilidade na realização física das
formas imaginadas, possibilitando que o ambiente seja fabricado conforme os
desígnios humanos.
O templo era o ímã que reunia o grupo. Sua edificação consolidava a forma
de aliança celebrada no cerimonial periódico ali realizado. Deste modo, a
cidade dos deuses e dos mortos precede a cidade dos vivos, anunciando a
sedentarizacão.
A Bíblia se refere a esta passagem na história quando nos relata a
experiência da Torre de Babel: os descendentes de Noé, sobreviventes do
dilúvio, decidem se fixar numa planície na terra de Sinear e ali, utilizando tijolos
cozidos, edificar uma cidade e uma torre “cujo topo chegue até aos céus”.
Quando iniciam o empreendimento, sobrevém o castigo: as línguas se
embaralham, as nações se dividem.

76
A vingança é a resposta divina ao desafio representado pela torre. Aquela
maneira de construir possibilitava aos homens a realização de sua pretensão a
criadores de uma outra natureza, artificial, sobre a natureza primordial e
unitária que era obra divina.
O empreendimento das novas construções implicava a existência de um
trabalho organizado, o que por sua vez estabelecia a necessidade de alguma
forma de normalização e regulação internas. Assim, os construtores de
templos, ao mesmo tempo que fabricavam um hábitat sobre a natureza
primeira, se organizavam enquanto organização política, lançando-se
conjuntamente em um projeto de dominação da natureza.
No castigo divino, embaralhar as línguas era impossibilitar a comunicação
entre os homens, fundamental para a existência de um trabalho organizado, e
com isso inviabilizar a realização da obra coletiva.
Foi então que Babel, surgida para reunir os homens, impedindo que se
espalhassem por toda a Terra, acabou por separá-los.
O mito de Babel expressa a luta do homem por seu espaço vital, no
momento de sedentarização. O final da alegoria — a divisão irremediável dos
homens em nações —aponta para a constituição da cidade propriamente dita.
Esta será a cidadela, em guerra permanente contra os inimigos, na defesa de
seu território.
A cidade como escrita
Como vimos anteriormente, a grande construção feita de milhares de tijolos
marca a constituição de uma nova relação homem/natureza, mediada pela
primeira vez por uma estrutura racional e abstrata. É evidente o paralelismo
que existe entre a possibilidade de empilhar tijolos, definindo formas
geométricas, e agrupar letras, formando palavras para representar sons e
idéias. Deste modo, construir cidades significa também uma forma de escrita.
Na história, os dois fenômenos — escrita e cidade —ocorrem quase que
simultaneamente, impulsionados pela necessidade de memorização, medida e
gestão do trabalho coletivo.
A cidade, enquanto local permanente de moradia e trabalho, se implanta
quando a produção gera um excedente, uma quantidade de produtos para
além das necessidades de consumo imediato.

77
O excedente é, ao mesmo tempo, a possibilidade de existência da cidade
— na medida em que seus moradores são consumidores e não produtores
agrícolas — e seu resultado — na medida em que é a partir da cidade que a
produção agrícola é impulsionada. Ali são concebidas e administradas as
grandes obras de drenagem e irrigação que incrementam a produtividade da
terra; ali se produzem as novas tecnologias do trabalho e da guerra. Enfim, é
na cidade, e através da escrita, que se registra a acumulação de riquezas, de
conhecimentos.
Na cidade-escrita, habitar ganha uma dimensão completamente nova, uma
vez que se fixa em uma memória que, ao contrário da lembrança, não se
dissipa com a morte. Não são somente os textos que a cidade produz e contém
(documentos, ordens, inventários) que fixam esta
memória, a própria arquitetura urbana cumpre também este papel.
O desenho das ruas e das casas, das praças e dos templos, além de
conter a experiência daqueles que os construíram, denota o seu mundo. É por
isto que as formas e tipologias arquitetônicas, desde quando se definiram
enquanto hábitat permanente, podem ser lidas e decifradas, como se lê e
decifra um texto.
Isto fica claro quando percorremos alguns sítios históricos: quem vai, por
exemplo, a Machu Picchu, ruína do império inca no Peru, lê um texto que fala
do povo quíchua e de seu mundo. Ao mesmo tempo, o abandono e destruição
da cidade revela a dominação daquele espaço pelos europeus, deixando de
ser um espaço vivo para se transformar somente em traço da memória.
Em Salvador ou Ouro Preto, cidades ainda vivas, os símbolos e
significados do passado se interceptam com os do presente, construindo uma
rede de significados móveis. Sua decifração é, conseqüentemente, mais
complexa. Assim, é bastante comum nas cidades brasileiras encontrarmos
construções luxuosas, palacetes, que se transformaram em cortiços, casas-de-
cômodos ou pensões. Costuma-se dizer que estes espaços se “deterioraram”,
ou seja, perderam seu significado de opulência e poder (palácio) para se
tornarem símbolo de marginalidade ou pobreza. O casarão, desenhado,
construído e habitado pelos ricos, fazia parte e contribuía para definir como
“nobre” a zona onde se situava. Da mesma maneira o cortiço provoca a
“decadência” do bairro, diminuindo seu valor de mercado e portanto

78
afugentando tudo aquilo que se identifica como “elegante”. A arquitetura da
cidade é ao mesmo tempo continente e registro da vida social: quando os
cortiçados transformam o palacete em maloca estão, ao mesmo tempo,
ocupando e conferindo um novo significado para um território; estão
escrevendo um novo texto. É como se a cidade fosse um imenso alfabeto, com
o qual se montam e desmontam palavras e frases.
É esta dimensão que permite que o próprio espaço da cidade se
encarregue de contar sua história. A consciência desta dimensão na arquitetura
levou a que hoje se fale muito em preservação da memória coletiva, através da
conservação de bens arquitetônicos, isto é, da não demolição de construções
antigas. Trata-se de impedir que estes textos sejam apagados, mesmo que,
muitas vezes, acabem por servir apenas à contemplação, morrendo assim para
a cidade que pulsa viva, ao redor.
Separar e reinar: a questão da segregação urbana
Nas grandes cidades hoje, é fácil identificar territórios diferenciados: ali é o
bairro das mansões e palacetes, acolá o centro de negócios, adiante o bairro
boêmio onde rola a vida noturna, mais à frente o distrito industrial, ou ainda o
bairro proletário. Assim quando alguém, referindo-se ao Rio de Janeiro, fala em
Zona Sul ou Baixada Fluminense, sabemos que se trata de dois Rios de
Janeiro bastante diferentes; assim como pensando em Brasília lembramos do
piano-piloto, das mansões do lago ou das cidadessatélites. Podemos dizer que
hoje nossas cidades têm sua zona sul e sua baixada, sua “zona”, sua Wall
Street e seu ABC. É como se a cidade fosse um imenso quebra-cabeças, feito
de peças diferenciadas, onde cada qual conhece seu lugar e se sente
estrangeiro nos demais. É a este movimento de separação das classes sociais
e funções no espaço urbano que os estudiosos da cidade chamam de
segregação espacial.
Entre as torres envidraçadas e gestos tensos dos homens de terno e pasta
de executivo, meninas pulando corda e jogando amarelinha estariam
totalmente deslocadas; assim como não há travesti que faça michê na porta do
Citibank às 3 horas da tarde. Não se vê vitrinas de mármore, aço escovado e
neon na periferia, nem lama ou falta d’água no Leblon (Rio), Savassi (Belo
Horizonte) ou Boa Viagem (Recife). É como se a cidade fosse demarcada por

79
cercas, fronteiras imaginárias, que definem o lugar de cada coisa e de cada um
dos moradores.
As meninas pulando corda e jogando amarelinha, fechadas no pátio da
escola, se separam da rua por uma muralha de verdade, alta, inexpugnável; já
a fronteira entre um bairro popular e um bairro chique pode ser uma rua, uma
ponte, ou simplesmente não ser nada muito aparente, mas somente uma
imagem, um ponto, uma esquina. Em algumas cidades, como em Joanesburgo,
na África do Sul, placas sinalizam a segregação, indicando os territórios
permitidos ou proibidos para os negros. As áreas restritas são protegidas por
forças policiais que podem prender quem por ali circular sem autorização.
Neste caso, a segregação é descarada e violenta.
A segregação é manifesta também no caso dos condomínios fechados —
muros de verdade, além de controles eletrônicos, zelam pela segurança dos
moradores, o que significa o controle minucioso das trocas daquele lugar com o
exterior. Além de um recorte de classe, raça ou faixa etária, a segregação
também se expressa através da separação dos locais de trabalho em relação
aos locais de moradia. A cena clássica cotidiana das grandes massas se
deslocando nos transportes coletivos superlotados ou no trânsito engarrafado
são a expressão mais acabada desta separação — diariamente temos que
percorrer grandes distâncias para ir trabalhar ou estudar. Com isto, bairros
inteiros das cidades ficam completamente desertos de dia, os bairros-
dormitórios, assim como algumas regiões comerciais e bancárias parecem
cenários ou cidades-fantasmas para quem as percorre à noite. Finalmente,
além dos territórios específicos e separados para cada grupo social, além da
separação das funções morar e trabalhar, a segregação é patente na
visibilidade da desigualdade de tratamento por parte das administrações locais.
Existem, por exemplo, setores da cidade onde o lixo é recolhido duas ou mais
vezes por dia; outros, uma vez por semana; outros, ainda, onde o lixo, ao invés
de recolhido, é despejado. As imensas periferias sem água, luz ou esgoto são
evidências claras desta política discriminatória por parte do poder público, um
dos fortes elementos produtores da segregação.
Em qualquer dos exemplos que mencionamos, fica evidente que estes
muros visíveis e invisíveis que dividem a cidade são essenciais na organização
do espaço urbano contemporâneo. Mais uma vez um mergulho na cidade do

80
passado pode apontar para alguns elementos que contribuíram para que este
poder de separar reinasse soberano em nossas cidades. Novamente vamos
recorrer à organização da cidade medieval — e sua dissolução — para refletir
sobre este ponto.
Como já vimos anteriormente, na cidade medíeval não há segregação
entre os locais de moradia e trabalho. A oficina do artesão é sua moradia e ao
mesmo tempo é a residência dos aprendizes também. Além de ser local de
produção e habitação, é na oficina que se vende o produto do trabalho, cie tal
forma que todo o espaço do burgo é simultaneamente lugar de residência,
produção, mercado e vida social. Uma descrição de Troyes, cidade medieval
francesa no século XIII, mostra que a casa de um próspero artesão ocupava os
quatro andares de uma edificação — sendo a oficina no andar térreo, a
moradia familiar no primeiro e segundo pisos, a dos empregados no sótão e
estábulos e armazéns no quintal localizado nos fundos. Artesãos mais pobres
viviam em espaços bem mais modestos, mas também trabalhavam no mesmo
local onde residiam. Enquanto os homens se envolviam no artesanato,
mulheres e crianças também participavam da produção doméstica — fiando,
tecendo, bordando, fabricando o pão, a manteiga e as conservas, cuidando dos
animais no quintal. Assim a casa do artesão era simultaneamente uma unidade
de consumo e produção na qual engajavam os adultos, jovens e crianças que
compunham a família. Neste contexto, portanto, não há separação entre o
mundo do trabalho e o mundo da família.
Situação semelhante, do ponto de vista arquitetônico — guardadas as
devidas proporções —, poderia representar o quadro das cidades coloniais
brasileiras. As casas dando diretamente para o alinhamento, o não
“zoneamento” da cidade de acordo com funções e classes sociais, a casa
como unidade de produção e consumo são características identificáveis em
São Paulo, Rio, Recife, entre outras tantas cidades brasileiras até meados do
século XIX.
Evidentemente o paralelo entre a vila medieval européia e a cidade colonial
brasileira só pode estender-se até certo ponto. Em primeiro lugar, a base da
economia, inclusive a urbana, no Brasil colonial era o trabalho escravo e a
relação social básica, aquela que liga escravos e senhores, é bastante
diferente da relação senhor feudal/servo. O escravo é uma mercadoria de

81
propriedade do senhor, como uma máquina ou uma carroça, que faz parte
portanto do inventário de seus bens, podendo ser trocada ou vendida. Já a
ligação do servo é, antes de mais nada, com a terra, feudo a que tem direito,
por tradição ou conquista, um senhor.
A existência do trabalho escravo marcava a paisagem urbana no Brasil
colonial de forma peculiar. Todo o trabalho, da produção doméstica ao
transporte de cargas, dos ofícios .aos serviços gerais; era a ele entregue. Isto
significá que uma das instituições fundamentais na vida de um, burgo medieval
— o grêmio corporàtivo — é impensável numa cidade colonial brasileira. Aqui,
a senzala, e não a corporação, representava o mundo do trabalho.
Do ponto de vista espacial há no entanto algumas semelhanças entre os
burgos medievais europeus e as cidades coloniais do Brasil. Estas
semelhanças residem sobretudo no caráter comunal do espaço urbano; isto é,
espaços polivalentes do ponto de vista funcional e misturados do ponto de vista
social. Como no burgo medieval, na cidade colonial não existem
regiões/trabalho e regiões/moradia, praças da riqueza, praças da miséria. Isto
evidentemente não quer dizer que não existiam nestas cidades diferenças de
classe ou posição social. Pelo contrário: as distâncias que separavam nobres e
plebeus, ricos (popolo grasso — povo gordo, como se dizia então na Itália) de
pobres (popolo,magro) eram enormes. Estas distâncias, assim como as
distâncias entre senhores e escravos nas cidades brasileiras, não eram físicas.
Ricos, nobres, servos, escravos e senhores poderiam estar próximos
fisicamente porque as distâncias que os separavam eram expressas de outra
forma: estavam no modo de vestir, na gestualidade, na atitude arrogante ou
submissa e, no caso brasileiro, também na própria cor da pele. Estes eram
sinais de respeito e hierarquia rigorosamente obedecidos porque tinham um
fundamento moral: o negro se submetia ao senhor porque a ele pertencia seu
corpo; o senhor impunha seu poder ao negro, acreditando ser ele apenas um
instrumento, não um ser humano.
Assim a mistura de brancos e negros nas ruas e nas casas da cidade era
possível porque a distância que os separava era infinita. O respeito e hierarquia
introduziam a diferença social na vida comunal.
Hoje essa forma de habitar e organizar a cidade seria considerada
promíscua. É claro que quando falamos das cidades medievais ou núcleos

82
coloniais estamos falando de cidades com pequena população, no máximo 30-
40 mil habitantes, onde se anda a pé ou de carroça. No entanto, não é apenas
o aumento da população que explica a transformação deste modo de
organização do espaço urbano. Examinando a história destas cidades é
possível perceber que a segregação espacial começa a ficar mais evidente à
medida que avança a mercantilização da sociedade e se organiza o Estado
Moderno. Na Europa, este quadro emerge no século XVII, no projeto barroco
das cidades-capitais. Nas cidades escolhidas como sede pelas monarquias
absolutístas, logo o poder deste novo Estado se fazia notar através de sua
presença na cidade. Grandes projetos de edifícios públicos — muitas vezes
conjuntos inteiros, como Versalhes abrigavam um aparelho de Estado. A
edificação destes conjuntos representava a permanência deste poder — cortes,
arquivos, ministérios de finanças, burocracia — no coração da cidade.
Para aqueles cujo poder e fortuna estavam mais diretamente relacionados
a estas fontes de autoridade, isto é, para os principais funcionários do Estado e
para os grandes comerciantes e banqueiros, os locais de residência passavam
a se separar do local de trabalho. Com isto, novos bairros exclusivamente
residenciais e homogêneos do ponto de vista social começam a surgir. Este é
um primeiro movimento de segregação com ele vem o bairro dos negócios (o
CBD americano) e uma reconceituação da moradia, que em sua acepção
burguesa vem sob o signo da privaticidade e isolamento.
No Brasil, este movimento é aparente no Rio de Janeiro — sede do poder
imperial. O Paço de São Cristóvão e todo o bairro de elite que cresceu a seu
redor, a Rua do Ouvidor com seu grande comércio e a zona portuária/popular
compõem o cenário da cidade na primeira metade do século XIX.
Este movimento de segregação vai ser tremendamente impulsionado pela
disseminação do trabalho assalariado. Se na relação mestre/aprendiz ou
senhor/escravo a convivência é um elemento essencial, na relação
patrão/empregado esta é definida pelo salário. Com ele, o trabalhador paga
seu sustento — seu teto, sua comida. Esta é a condição para que seu espaço
se separe fisicamente do território do patrão. Isto se dá porque se rompe um
vínculo e porque cada qual comprará no mercado imobiliário a localização que
for possível com a quantidade de moeda que possuir.

83
Em algumas cidades brasileiras a crise da escravidão e a expansão do
trabalho livre — isto é, o final do século XIX — vão marcar este impulso
segregador. Em São Paulo, por exemplo, esta é a história dos Campos Elísios,
Higienópolis e depois a Avenida Paulista, obras da burguesia paulistana
enriquecida com o capital gerado pelo trabalho nos cafezais. Esta é também a
história do Brás, da Barra Funda, da Lapa, bairros de mulatos e imigrantes,
trabalhadores assalariados da cidade.
É interessante observar que se a segregação
se impõe a nível da constituição de territórios separados para cada grupo
social, é também sob seu império que se reorganiza o espaço de moradia. O
lar — domínio de vida privada do núcleo familiar e de sua vida social exclusiva
— se organiza sob a égide da intimidade. Isto implica uma micropolítica familiar
totalmente nova e ao mesmo tempo significa uma redefinição da relação
espaço/privado público na cidade. Examinando o loteamento de Higienópolis
em São Paulo ou Copacabana no Rio de Janeiro, é possível notar que a casa
se afasta da rua e dos vizinhos, ganhando e murando seu lote ao redor.
Dentro, há uma espécie de zoneamento dos cômodos segundo funções e
ocupantes precisos — sala disto, sala daquilo, quarto disto, quarto daquilo.
Dentre os cômodos da casa uma nova região é demarcada: a sala de visitas,
lugar que se abre para receber um público previamente selecionado. A vida
social burguesa se retira da rua para se organizar à parte, em um meio
homogêneo de famílias iguais a ela.
A gênese desta arquitetura do isolamento fez parte da redefinição de noção
de espaço privado e público que ocorre neste momento. Para a burguesia, o
espaço público deixa de ser a rua — lugar das festas religiosas e cortejos que
engloba a maior variedade possível de cidades e condições sociais — e passa
a ser a sala de visitas, ou o salão. Do ponto de vista do modelo burguês de
morar que se esboça com estas mudanças, “casa” e “rua” são dois termos em
oposição: a rua é a terra-de-ninguém perigosa que mistura classes, sexos,
idades, funções, posições na hierarquia; a casa é território íntimo e exclusivo.
Dentro da casa se estruturam locais ainda mais privativos — a zona íntima,
cujas paredes definem os contactos por sexo e idade. Assim, é fechado no
quarto da casa isolada do bairro homogêneo e exclusivamente residencial, que
o indivíduo está totalmente protegido da tensa diversidade da cidade.

84
Do ponto de vista da micropolítica da família, algumas mudanças
importantes ocorrem no território familiar. A mulher — afastada da produção e
do contacto com os assuntos do mundo exterior — acaba virando “a rainha do
lar-, uma especialista em domesticidade.
Por outro lado, as crianças que até então viviam desde pequenas no
mundo dos adultos aprendendo na prática o que necessitariam para sobreviver,
passam a ser separadas por grupos de idade e mandadas à escola.
O que acabamos de descrever é o padrão burguês de habitação; sabemos
que, na verdade, tornou-se norma para o conjunto da sociedade, mas sabemos
também que no território popular a superposição de funções e o uso coletivo do
espaço é estratégia de sobrevivência. Portanto o que vai caracterizar esta
cidade dividida é, por um lado, a privatização da vida burguesa e, por outro, o
contraste existente entre este território do poder e do dinheiro e o território
popular. A questão da segregação ganha sob este ponto de vista um conteúdo
político, de conflito: a luta pelo espaço urbano. Para os membros da classe
dominante, a proximidade do território popular representa um risco permanente
de contaminação, de desordem. Por isso deve ser, no mínimo, evitado. Por
outro lado, o próprio processo de segregação acaba por criar a possibilidade de
organização de um território popular, base da luta por trabalhadores pela
apropriação do espaço da cidade.
Vimos como a história da segregação espacial se liga à história do
confinamento da família na intimidade do lar, que, por sua vez, tem a ver com a
história da morte do espaço da rua como lugar de trocas cotidianas, espaço de
socialização. Vimos também como as ruas se redefinem em vias de passagem
de pedestres e veículos, como a casa se volta para dentro de si e lá dentro se
fecha e esquadrinha a família. Esta reorganização espacial, introduzida pela
necessidade da segregação na cidade, tem uma base econômica e uma base
política para sustentá-la. Do ponto de vista econômico ela está diretamente
relacionada à mercantilização ou monetarização dos bens necessários para a
produção da vida cotidiana. A moradia passa a não ser mais uma unidade de
produção porque os bens que nela eram produzidos se compram no mercado.
Por outro lado o bairro residencial exclusivo é possível e a superdensidade dos
bairros dos trabalhadores é cada vez mais real- exatamente porque a terra

85
urbana é uma mercadoria — quem tem dinheiro se apodera de amplos setores
da cidade, quem não tem precisa dividir um espaço pequeno com muitos.
Do ponto de vista político, a segregação é produto e produtora do conflito
social. Separase porque a mistura é conflituosa e quanto mais separada é a
cidade, mais visível é a diferença, mais acirrado poderá ser o confronto.
De tudo o que falamos a respeito da segregação, um elemento atravessou
toda a reflexão sem ter sido, no entanto, desenvolvido: a intervenção do Estado
na cidade. Quando falamos do crescimento e transformação da cidade-capital,
nos referimos à intervenção e investimento do poder público no espaço.
Quando falamos em regiões nobres e regiões pobres, nos referimos a espaços
equipados com o que há de mais moderno em matéria de serviços urbanos e
espaços aonde o Estado investe pouquíssimo na implantação destes mesmos
equipamentos. Quando falamos das altas paredes da escola que encerram, as
meninas no pátio, nos referimos a instituições —públicas, destinadas a
disciplinar, curar, educar ou punir.
Há, em todos estes casos, a ação do Estado na cidade, produzindo ou
gerindo segregação.
É desta nova forma de exercício do poder urbano, o Estado moderno, e
sua forma de atuação na cidade que trataremos a seguir.
Estado, cidade, cidadania
Imaginemos uma cidade .onde não haja código de edificações ou lei de
zoneamento que regule a construção. Onde não haja polícia regulando o
trânsito e caçando bandidos. Onde não existam redes públicas de transporte
ou funcionários despachando ofícios e memorandos de sala em sala em
secretarias disto e daquilo. Impensável? A presença do aparelho de Estado na
gestão da cidade foi por nós incorporada a tal ponto que nos parece fazer parte
do cenário urbano, como o próprio asfalto e cimento.
Vimos no primeiro capítulo, quando falamos em civitas, que é da natureza
mesma da aglomeração urbana existir sempre uma dimensão pública da vida
cotidiana. Falamos também da emergência de um poder urbano, autoridade
político-administrativa encarregada da gestão desta dimensão pública, e
comentamos diferentes formas assumidas por este poder ao longo da história.

86
Quando nos referimos à cidadela, à polis ou à civitas, falamos em verdade
na definição de quem ao longo do tempo deteve este poder e como o exerceu.
Se hoje a presença do Estado na cidade é tão grande, isto tem também uma
história vinculada às transformações sociais, econômicas e políticas que
ocorreram com a emergência do capitalismo. Na história da cidade, é no
decorrer do século XVII que se esboça uma reviravolta na definição do poder
urbano.
Esta virada representa uma transformação na composição das forças
políticas que sustentam este poder, fruto da incorporação do grupo social
diretamente envolvido na acumulação do capital nas esferas dominantes. Isto
vai significar concretamente que a ação do poder urbano que emerge neste
processo antes de mais nada tende a favorecer a acumulação de capital nas
mãos deste grupo. Por outro lado, como o próprio espaço urbano se torna
campo de investimento do capital, a pressão da classe capitalista sobre a ação
do Estado se dará no sentido de este beneficiar a maximização da
rentabilidade e retorno de investimentos. Desde logo, assim se define a forma
de ocupação da terra urbana: dividida em lotes geométricos, facilmente
mensuráveis para que a eles se possa atribuir o preço. A lógica capitalista
passa a ser então um parâmetro essencial na condução de uma política de
ocupação da cidade, que se expressa também na intervenção do Estado. Para
exercer esta intervenção, todo um aparelho de Estado vai ser organizado.
Vamos examinar aqui este exercício, suas estratégias concretas e
pressupostos ao nível das idéias que fundamentam a ação, assim como suas
contradições.
Uma das características distintivas da estratégia e modo de ação do
Estado na cidade capitalista é a emergência do plano, intervenção previamente
projetada e calculada, cujo desdobramento na história da cidade vai acabar
desembocando na prática do, planejamento urbano, tal como conhecemos
hoje. O que há de mais forte e poderoso atrás da idéia de planejar a cidade, é
sua correspondência a uma visão da cidade como algo que possa funcionar
como um mecanismo de relojoaria, mecanicamente. Esta imagem mecânica
da. cidade é clara nas utopias, cidades imaginárias que artistas e escritores
renascentistas representaram em esboços e descrições. A mais famosa delas,
a Ilha da Utopia de Thomas Morus, é rica em detalhes que garantem a

87
perfeição do mecanismo: ruas retas e largas que permitem a passagem do ar e
do tráfego; zoneamento funcional separando indústria e residência,
demarcação de reservas de verde no interior do tecido urbano; tudo isto
aparece em um desenho simétrico e regular, ordenado e preciso. A utopia de
Thomas Morus é talvez o mais detalhado de uma série de projetos de cidades
ideais que estavam sendo produzidos naquele momento pelos tratadistas de
arquitetura, como Campanella, da Vinci e Vitrúvio.
Sabemos que no mundo medieval as cidades não eram precedidas por
planos, pelo contrário, como já vimos, cresciam espontaneamente, na medida
em que iam ocupando o sítio circundante. Projetos prévios não eram tampouco
feitos para a construção das casas, nem mesmo das grandes catedrais.
Mestres da construção conheciam a arte do ofício e, com suas equipes de
trabalho, comandavam as obras. Esta prática de trabalho tem a ver diretamente
com a forma de produção e transmissão do conhecimento medieval, um saber
que se concebe e transmite pela própria prática do trabalho e na observação
de semelhanças na natureza. Esta forma de produzir e transmitir conhecimento
sofrerá uma reviravolta no século XVII, quando um conhecimento racional,
baseado no princípio da representação e nos princípios de ordem e medida, é
posto em marcha. Para esta forma de pensar, conhecer é classificar,
ordenando os objetos segundo um critério de identidade e diferença. Neste
princípio se baseavam os tratados de arquitetura e urbanismo, aonde se
registrava, medido e calculado, aquilo que a experiência dos mestres
construtores havia produzido.
Eram projetados também novos modelos que, aperfeiçoando a realidade
existente, poderiam eliminar seus “defeitos”. A lógica da racionalidade, do
cálculo e da previsão, que emerge a partir das práticas econômicas do grande
comércio e da manufatura, penetra assim na produção do espaço, com planos
e projetos debaixo do braço.
Essa transformação, além de fundamentar-se em uma nova forma de
pensar, baseia-se também em uma nova forma de trabalhar: a divisão do
trabalho em minitarefas especializadas, a separação do trabalho intelectual e
manual, o domínio do capital e do saber científico sobre a prática.
Concretamente no canteiro de obras, os mestres da construção perdem o
poder sobre seu ofício, assalariando-se. Entra em cena um técnico da

88
representação e do projeto, detentor do saber científico sobre seu campo de
trabalho, e seu plano vira ordem de serviço.
Até aqui vimos como a emergência do plano como estratégia de exercício
do poder urbano tem a ver com uma transformação a nível das relações de
trabalho, com novas formas de pensar, especificamente com a proposta
burguesa de racionalidade (cálculo e precisão) na ação. Estes pressupostos
são anunciados no trabalho dos tratadistas, no desenho das utopias
renascentistas.
Evidentemente, as cidades imaginárias dos pensadores utópicos não
viraram realidade. Sua importância entretanto reside no fato de expressarem
claramente um programa de intervenção do Estado na cidade, cujos temas
principais se repetem até no planejamento computadorizado de hoje. O
primeiro é a leitura mecânica de cidade — a cidade como circulação de fluxos
—, de pedestres, de veículos, de tropas, de cargas ou de ventos. O segundo é
a idéia de ordenação matemática — a regularidade e repetição como base da
racionalização na produção do espaço. Ainda um terceiro pressuposto é a idéia
de que uma cidade planejada é uma cidade sem males, utopia que até hoje
seduz os defensores no planejamento urbano. E, finalmente, nas utopias está
esboçada a possibilidade de o Estado poder controlar a cidade, através do
esquadrinhamento e domínio de seus espaços.
Uma das primeiras aplicações concretas dos planos de cidade ideal foram
as cidades coloniais hispano-americanas. Implantadas pelo poder centralizado
e despótico da Monarquia Espanhola como parte importante de um
empreendimento mercantil capitalista, foram as cidades deste território
conquistado traçadas previamente na Espanha e edificadas conforme ditavam
seus planos. Assim foi o desenho de Lima, fundada por Pizarro em 1 555, um
tabuleiro de damas (as cuadras) em torno de uma grande praça central (a
Plaza Mayor), traçada conforme a planta e o desenho que se fez no papel.
Assim foi também a cidade do México construída sobre as ruínas da antiga
Tenochtitlan, capital do império asteca, arrasada pelos espanhóis em 1529.
Estes são os primeiros exemplos da cidade barroca, modelo urbano baseado
no projeto racional prévio que expressa o presente e prevê o futuro.
Na própria Europa, a disseminação do plano e do modelo barroco vai
ganhar materialização na obra dos monarcas absolutos. A expressão mais

89
clara desta intervenção são as novas cidades (ou extensões de cidade)
construídas especialmente para abrigar a realeza e sua corte, como Versalhes
na França ou a Vila Real, em Nápoles. Mas através de intervenções puntuais
em setores antigos das cidades é possível também reconhecer esta ação.
Como vimos no capítulo em que comentamos a segregação, em Roma ou
Londres, no século XVII, quarteirões medievais inteiros foram demolidos para
dar lugar a uma rede de avenidas e praças traçadas radialmente segundo
linhas matemáticas.
O elemento essencial dos planos barrocos é a circulação: ruas retas,
alinhamento das casas, desobstrução dos nós que não permitem a passagem.
Vinculado a este, outro elemento importante é a visibilidade do poder — daí a
construção do grande eixo monumental, bordado por edifícios públicos ou a
eles convergindo. Para isto, uma operação limpeza arrasa o antigo
ajuntamento irregular, substituindo-o pelo traçado das grandes avenidas
planificadas. As novas avenidas abertas na cidade se transformam no espaço
por onde circula a classe dominante, geralmente contendo suas áreas de
habitação ou centros de lazer. Nestes espaços o Estado investe em infra-
estrutura com o que há de melhor, na época, em matéria de limpeza,
iluminação, pavimentação.
Enquanto as monarquias absolutas reformavam suas capitais, implantavam
também em seus arredores instituições disciplinares (como prisões, asilos,
hospitais) destinadas a abrigar e conter a tensão gerada pelo grande fluxo de
pobres que se encaminhava para as cidades. Além do movimento migratório
campo-cidade de camponeses destituídos, as capitais eram pólos de atração
maior do que qualquer outro local. Nelas as possibilidades de trabalho eram
maiores (inclusive nos grandes trabalhos de construção) e, no mínimo, viver do
lixo, ou caridade de uma grande cidade, era melhor do que vagar pelas
estradas. Assim, a cidade vai aumentando rapidamente de população,
crescendo a miséria e as tensões sociais. A construção de instituições
fechadas e isoladas procura confinar, sob vigilância permanente, uma
população marginal que desafia e ameaça a fluidez da máquina-cidade.
Por outro lado, a construção desses equipamentos públicos tem a ver com
o pacto que se estabelecia entre Estado e família, quando se constitui o “lar”
burguês: o poder na família é a garantia local para o cumprimento das leis do

90
Estado. O Estado, por sua vez, fornece à família os meios para conter seus
membros não integrados. Assim, ao mesmo tempo que se estrutura o lar — a
casa isolada da família burguesa — os loucos, vagabundos e doentes da
família são retirados do convívio com a cidade e “cuidados” pelo poder público.
A esta altura o leitor certamente deve estar lembrando de coisas
conhecidas — dos asilos e penitenciárias, do eixo monumental de Brasília e
sua Praça dos Três Poderes, da repetição matemática dos conjuntos
habitacionais do BNH, ou das grandes operações de demolição de áreas
decadentes e sua substituição por vias expressas ou shopping centers.
Efetivamente, são ainda muito semelhantes os princípios da intervenção do
Estado na cidade. E se eles ainda fazem algum sentido hoje é porque seus
pressupostos econômicos e políticos ainda valem. Vamos passar então a
apontá-los.
Antes de mais nada, a prevalência da cidade como espaço de circulação
de mercadorias é totalmente verdadeira para nossas cidades. Hoje, tudo é
mercadoria e circula. As pessoas, vendendo sua força de trabalho, os veículos
despejados aos milhões pelas fábricas de carros, as cargas que distribuem
uma lista interminável de bens a serem consumidos pelos moradores. Daí que
demolir.casas, sobrados e até implodir edifícios para dar lugar a um grande
projeto de transportes já tenha se tornado absolutamente corriqueiro em nossa
cidade. Quem já não vivenciou a experiência de ver um espaço conhecido
sumir embaixo de uma avenida ou viaduto?
Por outro lado, o próprio espaço urbano é uma mercadoria cujo preço é
estabelecido em função de atributos físicos (tais como declividade de um
terreno ou qualidade de uma construção) e locacionais (acessibilidade a
centros de serviços ou negócios e/ou proximidade a áreas valorizadas da
cidade). Como a valorização ou desvalorização de uma região depende dos
investimentos públicos e privados naquele espaço, o investimento maciço,
representado por grandes trabalhos de remodelação, alteram substancialmente
o mercado imobiliário. Assim, as grandes obras públicas de redesenho da
cidade funcionam como territórios reconquistados ou frentes pioneiras para o
capital imobiliário. No caso da reforma de bairros antigos, trata-se da retomada
de um espaço que, do ponto de vista do capital imobiliário, tem um potencial

91
para gerar uma renda maior do que a auferida no mercado. Trata-se portanto
de uma atualização da renda fundiária.
A definição do investimento público em infra-estrutura
(água/luz/asfalto/telefone/esgoto/guias e sarjetas) e equipamentos
(escolas/hospitais/creches/parques/play-grounds) também é decisiva na lógica
do mercado imobiliário, na medida em que estes investimentos produzem
localizações valorizadas.
A diferença entre o preço do terreno dos Jardins de São Paulo, da Zona
Sul do Rio de Janeiro, ou da Barra em Salvador face aos bairros periféricos da
cidade é antes de mais nada o superequipamento de um e a falta de infra-
estrutura do outro. O que acabamos de descrever fundamenta a existência da
chamada “especulação imobiliária”: alguns terrenos vazios e algumas
localizações são retidas pelos proprietários, na expectativa de valorizações
futuras, que se dão através da captura do investimento em infra-estrutura,
equipamentos ou grandes obras na região ou nas vizinhanças. Isto provoca a
extensão cada vez maior da cidade, gerando os chamados “vazios urbanos”,
terrenos de engorda, objeto de especulação.
Ainda do ponto de vista econômico, as grandes obras, assim como a
construção da infra-estrutura pública, representam uma oportunidade
importantíssima para o capital aplicado da área da construção, na medida em
que abrem frentes de investimento para as empresas do setor. É por isso que
os interesses das empreiteiras e do capital imobiliário são peças importantes
no jogo de poder urbano na cidade do capital. Alguns exemplos — do passado
e do presente — de grandes operações/investimentos públicos em nossas
cidades ilustram este raciocínio. O início do século, no Rio de Janeiro, ficou
conhecido como a “era do bota-abaixo”. Sob o governo de Rodrigues Alves e a
estratégia urbanística de Pereira Passos, o antigo centro e zona portuária do
Rio foram totalmente remodelados. A abertura da Avenida Central, uma das
realizações do plano, substituiu uma região popular pelo comércio e negócios
endinheirados, contribuindo inclusive para agravar uma crise aguda de
moradia, que explodiu uma das maiores revoltas populares urbanas da história
do país: a Revolta da Vacina.
Um exemplo recente deste tipo de intervenção pública na cidade é a
construção do metrô, pois alterou bastante o perfil e composição dos bairros

92
onde ocorreu. Geralmente estas operações não beneficiam os antigos
ocupantes das regiões atingidas; pelo contrário, estes são expulsos,
literalmente, ou, através dos mecanismos sutis do mercado especulativo de
terras urbanas. Assim, do ponto de vista econômico, os pressupostos dos
planos barrocos são extremamente atuais.
Do ponto de vista político, o desenho proposto pelo plano barroco das
grandes avenidas e blocos regulares baseia-se na idéia de um poder urbano
que possa ser visto e ao mesmo tempo ver e controlar a cidade. Ele se
contrapõe ao casario medieval, um espaço obscuro e tortuoso, que era preciso
iluminar, a começar, literalmente, pela abertura das ruas. Os estudos
detalhados de perspectivas forneciam os elementos arquitetônicos para
construção deste espaço iluminado — as avenidas convergem para um ponto
de onde tudo se controla, não há obstruções, rugosidades que desviam o olhar.
A fonte dessa arquitetura é sem dúvida a experiência acumulada pela
engenharia militar na construção de fortalezas, muralhas e quartéis. Mas a
imagem de um poder urbano que tudo vê já aparece no desenho da Jerusalém
Celeste, utopia religiosa medieval que representa uma cidade iluminada sob
um poder clarividente. No projeto das instituições de confinamento, o mesmo
princípio se materializa na construção de uma torre central de onde se pode
controlar simultaneamente todos os elementos (celas/quartos), enfileirados
radialmente a seu redor. É a idéia presente no Panoptikon, modelo de espaço
institucional proposto por Jeremy Bentham no final do século XVIII, aplicável a
hospitais, prisões, escolas, etc.
O programa e o projeto dessas instituições em quase nada se modificaram
atualmente: equipamento coletivo como fator de disciplina e vigilância está
completamente presente em nossas cidades. As incursões periódicas da
polícia nas favelas resultam geralmente, além das mortes, em prisão para uns,
reformatórios, hospitais e hospícios para outros.
A própria rede pública de serviços de educação e saúde tem funcionado
como campo de exercício de um poder urbano que vigia e disciplina. No
hospital do INPS se adaptam os incapacitados para trabalhar, nas escolas se
forma o cidadão normal, trabalhador e obediente às leis. Tudo isto significa que
a intervenção crescente do Estado na vida dos habitantes tem se norteado por
produzir um certo modelo de normalidade e saúde aos cidadãos.

93
O projeto normalizador dos equipamentos coletivos é apenas uma das
instâncias onde o Estado atua como produtor e conservador de normas, isto é,
modelos homogêneos de cidade e cidadão impostos ao conjunto da sociedade
como regra. Assim, ao mesmo tempo que para os equipamentos de saúde há o
indivíduo saudável, para a legislação urbana há a casa saudável, o bairro
saudável. As casas e bairros de nossas cidades só podem ser construídos se
obedecerem a um certo padrão, completamente adaptado à ocupação
capitalista da terra e à micropolítica familiar burguesa. A reprodução infinita do
projeto-padrão na cidade reforça a norma. Assim, para o planejamento urbano,
as favelas e áreas de invasão, assim como os cortiços e os quintais, são
habitações subnormais. Geralmente, o que o planejamento urbano chama de
subnormal, a polícia chama de marginal e o povo em geral de má vizinhança,
que desvaloriza o bairro.
Evidentemente para quem mora ali essa é a melhor maneira de conseguir
morar em uma cidade cará e segregada. Isto implica ter de assumir a condição
de não-cidadão, estigmatizado por se desviar da norma. A estigmatização
destes “focos” de desvio faz parte do mecanismo poderoso de reprodução do
modelo de cidade e cidadão — é a maioria integrada e “normal” que se
identifica com a norma nesta operação de produção de significados.
Apesar de estigmatizadas até pelos próprios favelados e cortiçados, estas
habitações não param de crescer. Obviamente, enquanto os salários dos
empregados e os rendimentos do trabalho manual forem baixos e o lucro do
capital alto, é impossível querer que todos os moradores da cidade possam
comprar ou alugar uma casa isolada em um loteamento regular ou um
apartamento confortável. No entanto, o capital absorve esta população
empregando-a para fazer os serviços menos remunerados da cidade, absorve
e precisa desta população porque sua participação no mercado de trabalho na
cidade permite não só que os serviços prestados por estes trabalhadores
sejam baratos, mas também que os salários como um todo se mantenham
deprimidos. A questão então reside nas condições urbanas de vida desta
população. Exploradas ao vender sua força de trabalho, as pessoas se viram
como podem para viver na cidade, auto-construindo ou dividindo com muitos
suas casas, ocupando ou invadindo. Vão se organizando assim territórios
populares, desde logo marcados pela clandestinidade de sua condição. Do

94
ponto de vista do capital, a favela ou cortiço, contradição do sistema que a
reproduz e rejeita, é território inimigo, que deve ser eliminado. É inimigo do
capital imobiliário porque desvaloriza a região; da polícia, porque em seus
espaços irregulares e densos é difícil penetrar; dos médicos, porque ali, espaço
sem saneamento, proliferam os parasitas que se reproduzem nos esgotos a
céu aberto.
Para os moradores favelados o clamor pela intervenção do Estado se
formula com a exigência do reconhecimento a este grupo da condição de
cidadão e portanto merecedor da infra-estrutura, equipamentos públicos e
habitação digna. O Estado aparece como a possibilidade de obtenção da
mercadoria casa ou cidade a um preço menor do que o do mercado, e a
perspectiva de legalização. A intervenção do Estado nestes territórios tem se
dado geralmente através de programas e projetos que “racionalizam” estes
espaços,, adequando-os às normas do modelo.
Desta forma, é uma ação que vai no sentido da homogeneização, da
conversão de um certo espaço singular, da reprodução do modelo “normal” da
casa e da cidade. É também uma ação que responde simultaneamente às
reivindicações do capital e dos moradores das favelas. O fato de que esta
intervenção seja normalizadora demonstra como um território desviante é
recuperado como se recupera um doente no hospital ou um criminoso numa
prisão-modelo.
Nesta acepção o poder urbano funciona na cidade capitalista como uma
instância que controla os cidadãos, produz as condições de acumulação para o
capital e intervém nas contradições e conflitos da cidade. Para isto organiza
uma poderosa máquina, feita de um exército de técnicos e funcionários, que
em nossas cidades parece crescer indefinidamente. Apesar deste crescimento,
a máquina não parece ter sido capaz de eliminar o conflito, homogeneizar
totalmente o território da cidade ou acabar com seus males. E isto porque, em
primeiro lugar, a máquina encarregada de controlar a cidade é objeto de
disputa dos vários grupos ou forças sociais que estão ali presentes. Assim, a
não ser em períodos de ditadura, as reivindicações e pressões também vêm do
território popular e nas disputas políticas em torno da máquina estatal isto pode
ter um peso significativo. Em segundo lugar, porque nos espaços mais
homogêneos e até nos piores espaços concentracionais há sempre o desvio

95
das finalidades e previsões de certos equipamentos e a constituição de
territórios singulares, que se desviam da norma. A intervenção do Estado na
cidade é, portanto, contraditória: sua ação pode favorecer mais ou menos
certos segmentos da sociedade urbana — mas nunca definitivamente. O que
há de permanente na cidade do capital é a luta pela apropriação do espaço
urbano e a ação do Estado nada mais é do que expressão das forças
engajadas, voluntária ou involuntariamente, nesta luta...
(Raquel Rolnik. O que é Cidade. São Paulo: Editora Brasiliense, 1988, pp. 11 – 18 e 40 – 71)
Questões Referentes ao texto 6:
1. “E assim, os templos se somam a canteiros de obras de irrigação para
constituir as primeiras marcas do desejo humano de modelar a natureza”
(O que é cidades. Raquel Rolnik. São Paulo, Brasiliense, 1995, PP 13.)
As cidades surgiram como decorrência do processo de sedentarização das
populações humanas, possibilitado pelo desenvolvimento da agricultura.
Explique de que forma a cidade representa uma alteração das relações entre o
homem e a natureza.

96
2. Segundo Raquel Rolnik, a autora do livro, a constituição das cidades
representa uma mudança na forma dos homens se relacionarem em
sociedade. Explique tais mudanças.
3. É possível, a partir do estudo de uma cidade, compreender as
características de uma sociedade e o processo histórico por meio do qual se
formou essa sociedade? Justifique sua resposta.
4. Descreva, sucintamente, como as cidades foram se transformando no
decorrer da Idade Moderna e sua relação com o contexto histórico de
consolidação das relações mercantis.

97
5. “ A transformação da vila medieval em cidade-capital de um Estado
moderno vai operar uma reorganização radical na forma de organização das
cidades. O primeiro elemento que entra em jogo é a questão da
mercantilização do espaço, ou seja, a terra urbana, que era comunalmente
ocupada, passa a ser uma mercadoria – que se compra e vende como um lote
de bois, um sapato, uma carroça ou um punhado de ouro.”
(O que é cidades. Raquel Rolnik. São Paulo, Brasiliense, 1995, PP 39.)
Qual a relação entre o processo de mercantilização do espaço, descrito no texto, e a construção de uma nova organização da cidade pautada nas diferenças sociais?

98
6. A partir da leitura do livro O que é cidade e de seus conhecimentos sobre
História, aponte as principais conseqüências da Revolução Industrial para as
cidades européias do século XIX.
7. “A vida social burguesa se retira da rua para se organizar à parte, em um
meio homogêneo de famílias iguais a ela. (...) A gênese desta arquitetura do
isolamento fez parte da redefinição da noção de espaço privado e público que
ocorre neste momento.”
(O que é cidades. Raquel Rolnik. São Paulo, Brasiliense, 1995, PP. 49)
Com base no texto, responda:
a) Qual o contexto social em que se dá esse processo de separação entre o espaço público e privado descrito?

99
8. De que maneira essa separação entre espaço público e privado
transformou as relações sociais entre os habitantes da cidade?
9. “A presença do aparelho de Estado na gestão da cidade foi por nós
incorporada a tal ponto que nos parece fazer parte do cenário urbano, como o
próprio asfalto e cimento.”
(O que é cidades. Raquel Rolnik. São Paulo, Brasiliense, 1995, PP. 53)
Com base no texto, responda:
a) Como o Estado intervém na gestão da cidade? Cite dois exemplos.

100
b) Segundo a autora do livro O que é cidade a ação do Estado, através de
intervenções no espaço urbano, não é neutra. Explique quais são os principais
argumentos utilizados por ela para justificar tal afirmação.
10. No decorrer da Idade Moderna e, principalmente, Contemporânea os
Estados buscaram intervir diretamente no espaço urbano através de profundas
reformas, leis e normas de construção. Enumere as principais características
presentes nessas intervenções urbanas.

101
11. “Do ponto de vista político, a segregação é produto e produtora do conflito
social. Separa-se porque a mistura é conflituosa e quanto mais separada é a
cidade, mais visível é a diferença, mais acirrado poderá ser o confronto”
(O que é cidades. Raquel Rolnik. São Paulo, Brasiliense, 1995, PP. 52)
Explique o que significa o conceito segregação sócio-espacial. Dê exemplos.

102
2º Atividade:
Vocês assistirão dois curtas-metragens que tratam sobre aspectos distintos da cidade de São Paulo. O primeiro deles chamasse Entre Rios e traz uma abordagem histórica do desenvolvimento da cidade, tomando como mote a questão dos rios da cidade. O segundo filme chamasse Periferia Luta e busca retratar as lutas dos moradores das áreas periféricas da cidade para terem acesso a moradia e condições mínimas de vida na metrópole paulista.
A partir das impressões provocadas pelos filmes e das discussões feitas com o professor em sala, produza um texto reflexivo que contemple um dos pontos a seguir:
• A relação entre homem e natureza no processo de construção da cidade;
• Segregação sócio-espacial e o direito a cidade;
TAREFA DE CASA:
A partir da leitura do texto 5 e das reflexões suscitadas pelos vídeos assistidos em classe, o grupo deve produzir um texto com 3 parágrafos sobre o espaço urbano levando em conta os seguintes elementos:
• O papel da cidade na História Antiga, Média e Moderna;
• O impacto da Revolução Industrial e a constituição da segregação sócio espacial nas cidades industriais;
• O histórico da cidade de São Paulo e a questão da segregação sócio espacial nesta cidade;
Cada grupo deve postar estes textos em seu blog impreterivelmente no dia
30/04.

103
Parte 4 – Pós-Campo

104
Um Estudo do Meio não se encerra apenas na ida a campo, na viagem em
si ou nas pesquisas e discussões feitas na escola. Tão importante quanto as experiências vivenciadas nele é a reflexão sobre os dados e informações recolhidos durante a viagem ou pesquisa. Por isso a necessidade de atividades pós-campo.
A primeira dessas atividades será uma reunião de todo o grupo de alunos e professores envolvidos no Estudo do Meio, para compartilhar as impressões e experiências sobre a ida ao Vale do Paraíba. Ela será realizada no dia 08/05, após o término das aulas.
A segunda atividade consiste na elaboração de um pequeno vídeo e de uma sinopse. As instruções para essa atividade se encontram a seguir.
4.1 - Produção do vídeo
Ao voltarmos de qualquer viagem, trazemos sempre na bagagem recordações, memórias e experiências novas. Com o Estudo do meio não será diferente. Para dar forma a tudo isso, propomos a produção de um pequeno vídeo e de uma sinopse como produto final.
Este será um trabalho realizado em grupos, tendo como base o material recolhido e as discussões feitas durante e após o trabalho de campo. Cada grupo terá um tema específico, a ser escolhido no encontro pós-campo de 08/05.. Os filmes devem ter de 3 a 5 minutos . Além disso, o grupo deve produzir uma breve sinopse acerca do filme. As produções devem ser postadas no blog do grupo, impreterivelmente, até o dia 02/06.
Para auxiliá-los nessa tarefa, no decorrer das semanas de 19/05 á 23/05 e de 26/05 á 30/05, serão realizadas oficinas de edição de filmes, ministradas pela professora Fabiana, no Laboratório de Informática da escola.
Temas para os vídeos:
• História ambiental: as transformações da paisagem
• Trabalho e tecnologia
• Linguagens e Cultura

105
4.2. – Critérios de Avaliação
“... Que a importância de uma coisa não se mede com fita métrica, nem com balanças, nem barômetros etc. Que a importância de uma coisa há que ser medida pelo encantamento que a coisa produza em nós”
(Manoel de Barros)
Como toda atividade escolar o Estudo do Meio será avaliado. Sendo um
estudo interdisciplinar, integrando as disciplinas de História, Geografia Atualidades e Língua Portuguesa (Linguagem e Literatura), sua nota final fará parte da Nota de Classe das três disciplinas. Segue abaixo a descrição dos critérios de avaliação desta atividade. Ela está dividido em três etapas com pesos diferentes:
• Etapa 1: Pré-campo e atividades na escola (30% da nota)
• Etapa 2: Tarefas de casa (30% da nota)
• Etapa 3: Pós-Campo: vídeo (40% da nota)
As três etapas somadas contabilizam 10,0 pontos. A nota do Estudo do Meio corresponderá a 10% da média final no 2º bimestre, como parte da composição da Nota de Classe nas disciplinas de História, Geografia, Filosofia, Atualidades, Língua Portuguesa e Literatura.