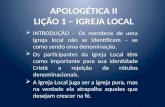Enciclopedia de Apologética- Norman Geisler
-
Upload
andre-muzzi -
Category
Documents
-
view
376 -
download
23
Transcript of Enciclopedia de Apologética- Norman Geisler
-
DIGITALIZADO POR: PRESBTERO
(TELOGO APOLOGISTA) PROJETO SEMEADORES DA PALAVRA
VISITE O FRUMhttp://semeadoresdapalavra.forumeiros.com/forum
-
N O R M A N G E I S L E R ^
E N C I C L O P D I A DE A P O L O G T I C A
r e s p o s t a s a o s c r t i c o s d a f c r i s t
t r a d u o L a i l a h d e N o r o n h a
te/Vida
-
Pelo mesmo autor
Eleitos, mas livres (Vida) tica crist (Vida Nova)
Obras em co-autoria
Fundamentos inabalveis (Vida) Introduo bblica: como a Bblia chegou at ns (Vida)
Introduo filosofia: uma perspectiva crist (Vida Nova) Predestinao e livre-arbtrio (Mundo Cristo)
M anual popular de dvidas, enigmas e contradies da Bblia (Mundo Cristo)
Reencarnao (Mundo Cristo) Am ar sempre certo (Candeia)
1999, de Norman L. GeislerT tulo do original Baker encyclopedia o f Christianapologeticsedio publicada pela
B a k e r B o o k H o u s e C o m p a n y ,
(Grand Rapids, Michigan, e u a )
Todos os direitos em lngua portuguesa reservados por
E d i t o r a V id a
Rua Jlio de Castilhos, 280 Belenzinho
c e p 0 3 0 5 9 -0 0 0 So Paulo, sp
Telefax 0 xx 11 6 0 9 6 681 4
www.editoravida.com.br
P r o i b i d a a r e p r o d u o p o r q u a i s q u e r m e i o s ,
SALVO EM BREVES CITAES, COM INDICAO DA FONTE,
Todas as citaes bblicas foram extradas da
Nova Verso Internacional ( n v i) , 2001, publicada pela Editora Vida,
salvo indicao em contrrio.
Dados Internacionais de Catalogao na Publicao (c ip )(Cmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)
Geisler, N o rm an L. -Enciclopdia de apologtica: respostas aos crticos da f crist/
N orm an Geisler; traduo Lailah de N o ro n h a So Paulo:E dito ra V ida, 2002.
T tu lo original: Baker encyclopedia o f C hris tian apologetics
IS B N 85-7367-560-8
1. A pologtica - Enciclopdias I. T tu lo0 2 -3 7 6 5 __________________________________________________________________c d d 239 .03
Indice para catlogo sistemtico
1. Apologtica: Cristianismo: Enciclopdias 2 39 .03
-
AgradecimentosQuero agradecer s pessoas que contriburam significativamente na preparao deste manuscrito. Entre elas se acham Steve Bright, Jeff Drauden, Scott Henderson, Mark Dorsett, Holly Hood, Kenny Hood, David Johnson, Trevor Mander, Doug Potter, Mac Craig, Larry Blythe, Jeff Spencer e Frank Turek.
Sou muito grato a Joan Cattell pelas horas incontveis dedicadas reviso do manuscrito completo. Tambm merecem agradecimentos especiais meu filho, David Geisler, por coletar a vasta bibliografia, e minha secretria fiel, Laurel Maugel, que 0 digitou e revisou cuidadosamente.
Acima de tudo, quero agradecer a minha dedicada esposa, Barbara, seu amor, apoio e sacrifcio, que tornaram possvel a realizao deste projeto.
-
Abreviaesra Almeida Revista e Atualizada, segunda edioat Antigo Testamentoatr Anglican Theological Reviewba The Biblical Archaelogistbar Biblical Archaelogical ReviewBib. sac. Bibliotheca Sacrab jr l Bulletin oh the John Rylands Librarybr Bible Reviewc. cerca decap. captulocf. confira, confrontecn bb Traduo bblica oficial da Conferncia
Nacional dos Bispos do Brasil cri Christian Research Journalct Christianity Todaye.g. exempli gratia, por exemploEB Encyclopaedia bblicae r e Encyclopaedia of religion and ethicsfr. francsgotr Greek Orthodox Theological Reviewgr. gregoi.e. id est, isto IE] Israel Exploration Journalingl. inglsisbe International standard bible encyclopaediajam a Journal of the American Medical Associationjasa Journal of the American Scientific Affiliationjets Journal of the Evangelical Theological Societylat. latimlx x Septuagintam. data da morten. data do nascimentoNT Novo Testamenton tcerk New twentieth century encyclopaedia of
religious knowledge n v i Nova Verso Internacionals. seguintese Studia Evanglicav. veja; versculow t j Westminster Theological Journal
-
Aaacaso . 0 conceito de acaso evoluiu em significado. Acaso p a ra A r i s t t e l e s e outros filsofos clssicos era ap enas a interseo fortu ita de duas ou m ais linhas de causalidade. Nos tem pos m od ernos, no entanto, o term o assu m iu dois significados diferentes. A lguns vem o acaso co m o a au s n c ia de q u a lq u e r cau sa . C om o M ortim er Adler afirm ou, alguns in te rp re tam o acaso com o o que acontece sem nenhum a causa o absoluto espontneo ou fortuito (Sproul, xv).
O utros vem o acaso com o a g ran d e causa, apesar de ser cega, e no-in teligente. Os na tu ra lista s e m a teria lis tas gera lm ente falam dessa m an eira . Por exem plo, desde David H ume, o argu m en to teleolgico tem sido confron tado pela a lternativa de que o universo resu ltou do acaso, no da criao inteligente. A pesar de o p r p rio H um e no t-lo feito, alguns en ten deram que isso significava que o universo foi causado pelo acaso, no p o r Deus.
Acaso e tesm o. 0 acaso , concebido ou pela falta de u m a causa ou com o a p rp ria , causa, inco m pa tvel com o tesm o. E n q uan to o acaso reinar, A rth u r Koestler observo u ,Deus um an acron ism o (ibid., p. 3). A ex istncia do acaso tira Deus do seu trono c smico. Deus e o acaso so m u tu am en te excludentes. Se o acaso existe, Deus no est no controle to tal do u n iverso. N o pod e nem ex istir um C riador inteligente.
A n a tu reza do acaso. A definio da palavra a c a so depend e parc ia lm en te da cosm oviso a em prega. Dois usos gera lm en te so co nfundidos q u and o falam os sobre a origem das coisas: acaso com o p r o b a b i l i d a d e m atem tica e acaso com o causa real. O prim eiro a p en as a b s tra to . Q u an d o u m d a d o jogado , as chances so de um em seis que d a r o nm ero seis. A p robabilidade de 1 em 36 que d seis nos dois dados e 1 em 216 que d trs seis se jogarm os trs dados. Essas so p robab ilidades m atem ticas. M as o acaso no fez que os trs dados dessem seis. O que in terferiu foi a fora e o ngulo do lanam ento , a posio inicial na m o, com o os dados b a te ram contra objetos na sua
trajetria e outros resultados da inrcia. O acaso no teve influncia sobre o processo. Como Sproul disse: O acaso no tem o poder de fazer nada. Ele csmica, total e com pletam ente im potente (ibid., p. 6).
Para que n ing um pense que vic iam os os dados ao citar u m testa, oua as palavras de Hum e:
O acaso, quando examinado estritamente, apenas uma palavra negativa, e no significa qualquer poder real que tenha existncia em qualquer parte. [...] Apesar de no haver acaso no mundo, nossa ignorncia da causa real de qualquer evento tem a mesma influncia na compreenso, e gera uma mesma espcie de crena ou opinio (Hume, Seo 6).
A tr ib u ir p o d e r causa l ao acaso. H erb ert Jaki, em God an d the cosmologists [Deus e os cosm logos] , ap re sen ta u m cap tu lo pen e tran te in titu lado D ados v iciados. Ele se refere a P ierre D elbert, que disse: 0 acaso aparece hoje com o lei, a m ais geral de tod as as leis (D elbert, p. 238).
Isso m gica, no cincia. As leis cientficas lidam com o regular, no o irregu la r (com o o acaso ). E as leis d a fsica no causam nada; apenas descrevem a m an eira com o as coisas acontecem regu la rm en te no m un do com o resu ltado de causas fsicas. Da m esm a form a, as leis da m atem tica no causam nada. Elas apenas insistem em que, se eu co locar 5 m oedas no m eu bolso d ireito e colocar m ais 7, terei 12 m oedas ali. As leis da m atem tica nun ca co locaram u m a m o eda no bolso de n ingum .
0 erro bsico de fazer do acaso u m p od er causai foi bem colocado por Sproul: 1 .0 acaso no um a en tidade. 2. N o-en tidades no tm pod er porqu e no existem . 3. Dizer que algo acontece ou causado pelo acaso a trib u ir p o d er in s tru m en ta l ao nada I p. 13 . Mas absurdo afirm ar que nada produziu algo. O nada sequer existe e, logo, no tem p o d er pa ra causar algo ( v . c a u s a l i d a d e , p r i n c i p i o d a ) .
C ausa(s) in te ligen te(s) e resultados do a c a so . N em to d o s os ev en to s do a c a so a c o n te c e m p o r
-
acognosticismo 10
f e n m e n o s naturais. Causas inteligentes podem ius- tapor-se ao acaso . Dois cientistas, trab a lh an d o in d e pen den tem en te a p a rtir de abordagens diferentes, fazem a m esm a descoberta . Um ser racional en te rra um tesouro. O utro o encon tra po r acaso ao cavar o a licerce de u m a casa.
O que parece ser um a m is tu ra a leatria no est necessariam en te isento de propsito racional. H um propsito racional p o r trs da criao de um a m is tu ra aleatria de seqncias n um ricas n u m sorteio de loteria. H um propsito racional p a ra a m is tu ra a leat ria de dixido de carbono que expelim os no ar no ssa volta; seno voltaram os a respir-lo e m orreram o s de falta de ar. Nesse sentido , Deus, o Criador, e o acaso no so conceitos incom patveis. Contudo, falar sobre a causa do acaso absurdo.
Concluso. Estritam ente falando, o acaso no pode causar ou originar o Universo e a vida. Todo evento tem um a causa adequada. As escolhas so causas inteligentes ou causas no-inteligentes,causas naturais ou causas no- naturais. A nica m aneira de saber de qual delas se trata pelo tipo de efeito produzido (v. o r i g e n s , c i n c i a d a s ) . J que o universo m anifesta criao inteligente, razovel supor um a causa inteligente (v. t e l e o l g i c o , a r g u m e n t o ) . O acaso ou a casualidade aparente (com o a loteria ou a m istu ra de molculas de ar) pode ser parte de um desgnio geral, inteligente, na criao.
FontesP. D e lb e r t, La science et la realit.}. Gleick, Caos: a criao de uma nova cincia.D. H ume, Investigao sobre o entendimento
humano.
S. Jak i, God and the cosmologists.R. C. Sproul, Not a chance.
a c o g n o s t ic is m o . N o deve ser co n fu n d id o com o a g n o s t i c i s m o . O agnosticism o afirm a que no podem os conhecer a Deus; o acognosticism o afirm a que no po- dem os fa la r significativamente (cognitivam ente) sobre Deus. Este conceito tam bm cham ado no-cognosci- v ism o ou atesm o sem ntico .
O acognostic ism o de A .J . A yer. Seguindo a d is tino feita p o r H u m e en tre afirm aes defin idoras e em pricas, A. J. Ayer ofereceu o p rincp io da verifica- b ilidade em prica. Esse princp io considerava que, para as afirm aes serem significantes, devem ser an a lticas, a relao de id ias (David H um e) ou sin tticas (o q u e H u m e c h a m o u q u e st e s de fa to ), is to , defin id o ras ou em pricas (Ayer, cap. 1). A firm aes defin idoras no tm contedo e nad a d izem sobre o m undo ; afirm aes em pricas tm contedo, m as no
dizem n ad a sobre qu a lquer suposta realidade alm do m un d o em prico. So apenas provveis qu an to sua na tu reza e n un ca filosoficam ente seguras (v. C e r t e z a / S e g u r a n a ) . As afirm aes definidoras so teis em assun tos em pricos e prticos, m as nada p od em in fo rm ar sobre a realidade em qualquer sentido m etafsico.
A ausncia de sentido na discusso sobre Deus. O resultado do positiv ism o lgico de Ayer to devasta dor p a ra o tesm o quan to o agnostic ism o tradic ional. No possvel conhecer a Deus, nem express-lo. Na verdade, o term o Deus no tem significado. P ortan to , at o agnosticism o trad ic ional insustentvel, j que o agnstico presum e ser im portan te pe rg u n ta r se Deus existe. M as, p a ra Ayer, a pa lav ra Deus, ou q u a lqu er equivalente transcenden te, no tem significado. Assim, im possvel ser agnstico. O term o Deus no nem analtico nem sinttico. No oferecido pelos testas com o u m a definio vazia e sem contedo, que a nada co rresponde na realidade, nem um term o cheio de contedo em prico , j que Deus sup ostam en te um ser supra-em prico. Portanto, literariam ente sem sen tido falar sobre Deus.
Ayer acabou p o r rev isar seu princp io de verifica- b ilidade (v. ibid., cap. lOss.). Essa nova fo rm a ad m itiu a possib ilidade de algum as experincias em pricas serem seguras, ta is com o as p rodu zidas p o r um a nica experincia sensorial, e que haja um terceiro tipo de afirm ao com algum a verificabilidade an altica ou defin idora. Ele no chegou a ad m itir que a d iscusso s o b re D eus fo sse s ig n if ic a t iv a . As e x p e r i n c ia s verificveis no se riam verdadeiras, falsas, nem reais, m as apenas significativam ente defin idoras. Ayer reco nheceu que a elim inao eficiente da m etafsica deve ser apo iada pela an lise d e ta lh ad a dos arg um en to s m etafsicos (Ayer,cap. 16 ).M esm o um princp io rev isado de verificabilidade em prica to rn a ria im possvel fazer afirm aes significativam ente verdadeiras sobre a realidade tran sem p rica com o Deus. N o h co nhecim ento cognitivo de Deus; devem os p e rm anecer a- cognsticos .
Inexpressvel ou mstico. Seguindo a linha p ro po sta p o r Ludw ig W i t t g e n s t e i n (1 88 9 -1 9 51 ) na o b ra Tractatus logico-philosophcus, Ayer afirm ava que, e m bora Deus possa ser experim en tado , tal experincia n o p o d e se r ex p re ssa em te rm o s de s ign ificad o . W ittgenstein acreditava que a m an eira em que as coi- sas so no m u n d o u m a q u e s t o ab so lu ta m e n te irrelevante p a ra o que superior. Deus no se revela no m un do . Pois realm ente existem coisas que no pod em ser explicadas com palavras [...] Elas com preendem o que mstico, e o que no podem os expressar com palavras devemos consignar ao silncio.
-
11 acognosticismo
Se Deus pudesse expressar-se p o r m eio de nossas palavras, seria u m livro que exp lod iria todos os liv ros, m as isso im possvel. Portan to , alm de no existir nenhum a revelao proposicional, tam bm no existe n en h u m ser cogniscivelm ente transcenden ta l. P o r ta n to , q u e r se c o n s id e re o p r in c p io d a verifkabilidade do positivism o lgico m ais rgido, quer as lim itaes lingsticas m ais am plas de W ittgenstein, a d iscusso sobre Deus m etafisicam en te desprovida de sentido.
W ittgenstein acreditava que os jogos de linguagem so possveis, at m esm o jogos de linguagem religiosa. A d iscusso sobre Deus pode acontecer e acontece, m as no m etafsica; ela no diz nada sobre a ex istn cia e a na tu reza de Deus.
d e sas tro so p a ra o te s ta que Deus no po ssa ser co nhecido (com o em Im m an u e l K a x t ) e no possa se r ob je to de ex p re sso (co m o em Ayer). Tanto o ag nostic ism o trad ic io n a l q u an to o acog no stic ism o co n tem p orn eo nos de ixam no m esm o d ilem a filo sfico: no h b a se p a ra afirm a es v e rd ad e iras so b re Deus.
A n o-fa ls ificab ilid ad e das crenas religiosas. 0 o u tro lado do p rin c p io da v e rificab ilid ad e o da falsificabilidade. Com base na pa rb o la do jard ineiro invisvel de John W isdom , A ntony Flew lanou o se guin te desafio aos crentes: 0 que p rec isaria ter aco n tecido p a ra co n stitu ir p a ra voc u m a prova contra o am or de Deus ou contra a ex istncia de Deus? (Flew, p. 99). A razo d isso que no se pode p e rm itir que algo seja u m pon to a favor da f em Deus a no ser que haja d isposio de p e rm itir que sirva com o prova co n tra ela. Tudo o que tem s ign ificad o ta m b m falsificvel. No h d iferena en tre um jardineiro in visvel, indetectvel, e n e n h u m jardineiro . Da m esm a form a, um Deus que no faz d iferena verificvel ou falsificvel no Deus. A no ser que o crente possa m o stra r com o o m un do seria diferente se no houvesse Deus, as condies do m un do no po d em ser u sa das com o evidncia. Pouco im p o rta se o tesm o se b a seia nu m a parbo la ou num m ito, o crente no tem conhecim ento significativo ou verificvel de Deus. Isso pouco, ou nada, acrescenta ao agnosticism o trad ic io nal de Kant.
A valiao . Com o seu p rim o , o ag nostic ism o , o acognosticism o passvel de duras crticas.
Resposta ao acognosticism o de Ayer. Como j foi dito, o princp io da verificabilidade em prica d e m o n strado p o r Ayer contrad it rio . No nem puram en te definio nem estritam en te fato. Ento, pela p rpria definio, cairia na terceira categoria de afirm aes desprovidas de sentido. Ayer reconheceu esse problem a e lanou m o de um a terceira categoria p a ra a qual
no reivindicava valor de verdade. A verificabilidade, defendia ele, analtica e defin idora, m as no a rb itr ria ou verdadeira. m etacognitiva, ou seja, est alm da verificao de exatido ou falsidade. apenas til com o guia p a ra o significado. Essa u m a ten tativa d estinada ao fracasso p o r duas razes. Em prim eiro lugar, ela no chega a e lim inar a possib ilidade de fazer afirm aes m etafsicas. Na verdade, adm ite que no se pode legislar significado a rb itra riam en te , m as que preciso considerar o significado das supostas afirm aes m etafsicas. M as isso significa que possvel fazer afirm aes significativas sobre a realidade, a n e gao do agnosticism o e acognosticism o com pletos. Em segundo lugar, res trin g ir o que significativo lim ita r o que p o d eria ser verdadeiro, j que apenas o significativo pode ser verdadeiro. Ento, a ten tativa de lim ita r o significado ao descritivo ou verificvel afirm ar que a verdade deve, ela m esm a, es ta r sujeita a a lgum teste. Se ela no pode ser testada , en to no pode ser falsificada e , pelos p rp rio s pad r es, um a crena sem sentido.
Resposta ao m isticism o de Wittgenstein. Ludw ig W ittg e n s te in p ro m o v e u o a c o g n o s tic is m o au to - ridicularizador. Ele ten tou definir os lim ites da linguagem de tal form a que fosse im possvel falar cognitiva- m ente sobre Deus. Deus literalm ente inexprim vel. E sobre o que no se pode falar, sequer se deveria ten tar falar. Mas W ittgenstein teve to pouco sucesso na restrio dos lim ites lingsticos quanto Kant n a delim itao do m bito dos fenm enos ou da aparncia. A p r pria tentativa de negar todas as afirm aes sobre Deus constitu i um a afirm ao.
No se pode de lim itar a linguagem e o p e n sa m en to sem tran scen d er esses m esm os lim ites. co n trad itrio expressar o argum ento de que o inexprim vel no p od e ser expressado. Da m esm a form a, at m esm o p en sa r que o im pensvel no pode ser pensado contrad it rio . A linguagem (p ensam en to ) e a realidade no p od em ser m u tu am e n te excludentes, pois to da ten tativa de separ-las com pletam ente im plica a lgum a in terao en tre elas. Se u m a escada foi u sad a pa ra chegar ao alto de um a casa, no se pode negar a cap acidade da escada de levar o indiv duo at l (v. v e r d a d e , n a t u r e z a d a ) .
Resposta no-falsificabilidade de Flew. D uas coisas devem ser ditas sobre o princp io da falsificabilidade de Flew. Em prim eiro lugar, no sen tido restrito da no-falsificabilidade em prica, ela m uito restritiva. Nem tudo precisa ser em piricam en te falsificvel. Na verdade, m esm o esse princp io no em piricam ente falsificvel. M as no s en tid o m a is am p lo do q ue testvel e argum entvel, ce rtam en te o princp io til.
-
acomodao, teoria da 12
A no ser que haja critrios pa ra d e te rm inar verdade e falsidade, nenhum a afirm ao sobre a verdade pode ser defendida. Tudo, incluindo-se posies diam etralm ente opostas, pode ser verdadeiro.
Em segundo lugar, nem tudo o que verificvel p rec isa ser falsificvel da m esm a m aneira . Com o John Hick dem o nstro u , h u m a relao assim trica en tre verificabilidade e falsificabilidade. possvel algum verificar a im o rta lid ad e pessoal ao ob serv a r conscien tem ente seu prprio funeral. M as no possvel p ro var que a im o rta lidad e pessoal seja falsa. Q uem no sobrevive m o rte no est l p a ra refu tar n ada. E ou tra pessoa no p od eria re fu ta r a im o rta lid ad e de um a terceira sem ser onisciente. M as, se necessrio supor que exista u m a m ente onisciente ou u m Deus onisciente, en to seria em inentem ente co n trad it rio usar o argum ento d a falsificao para refutar a existncia de Deus. Assim, podem os concluir que toda afirm ao sobre a verdade deve ser testvel ou argum entvel, m as nem todas as afirm aes sobre a verdade precisam ser falsificveis. 0 estado de inexistncia to tal de qualquer coisa seria im possvel de falsificar, j que no haveria n ingum nem m aneira de refut-lo. Por outro lado, a ex is t n c ia de a lg o te s t v e l p o r e x p e r i n c ia ou inferncia.
FontesA . J. A y f .r , Language, truth and logic.H. F f jg f . l , L ogical p o s it iv is m a fte r th ir ty -f v e
y e a r s , P T , W i n t e r 1 9 6 4 .A . F le w , T h e o l o g y a n d f a l s i f i c a t io n , e m New
essays in philosophical theology.
N . L. G f.is i .e r , Christian apologetics, cap . 1.___ , Philosophy ofreligion.J. H ic k , The existence ofGod.I. R a m sa y , Religious language.J. W is d o m , G o d s , A . F l e w , o r g . , Logic and
language I.L. W i t t g e n s t e i n , Tractatus logico-philosophicus.
a c o m o d a o , t e o r i a d a . Na ap o lo g tica , este te rm o p o d e se re fe r ir a d u as posi es: u m a de las a c e it vel aos evang licos, e a seg u n d a re je ita d a p o r eles. A ex p re sso p o d e se re fe rir aco m o d ao que Deus fez d a su a revelao s n o ssas c ircu n st n c ia s f in itas a fim de c o m u n ic a r-se conosco , com o n a B blia ou n a E n ca rn ao de C ris to (v. B b l i a , E v i d n c i a s a f a v o r d a ; C a l v i n o , J o o ; C r i s t o , d i v i n d a d e d e ) . A m bas so fo rm as de ac o m o d ao a u to lim ita d o ra d a p a r te de D eus a fim de co m u n ic a r-se com c r ia tu ra s fin ita s .
Crticos negativos da Bblia (v. C r t i c a d a B b l i a ) acred itam que Jesus se acom odou a posies e rr n e as dos judeus de sua poca qu an to sua convico de
que as E scritu ras eram insp iradas e infalveis (v. Bb l i a , P o s i o d e J e s u s e m r e l a o ) . Telogos ortodoxos rejeitam essa form a de acom odao.
D ois tipos de acom odao. A acom odao leg tim a pode ser m ais bem denom inada adaptao. Deus, p o r causa de sua infin itude, se adapta ao nosso en ten d im en to finito p a ra se revelar. M as o Deus que a verdade nu n ca se acom oda ao erro hum ano . As d iferen as vitais so observados facilm ente quando esses conceitos so com parados:
A d ap taoAdaptao ao entendimento finito FinitudeVerdades parciais Verdade revelada na linguagem humana Condescender com a verdadeAntropomorfismos so necessrios A natureza de Deus revelada O que parece ser
A com odaoAcomodao ao erro finitoPecaminosidade Erros verdadeiros Verdade mascarada na linguagem humana Comprometer a verdade
Mitos so verdades
A atividade de Deus reveladaO que realmente
A Bblia en sin a a tran scen d n c ia de Deus. Seus cam inh os e pen sam en to s so m uito m ais altos que os nossos (Is 55.9; R m 11.33). Os seres h u m an o s so m inscu los d ian te d a in fin itude de Deus. Deus precisa to rn a r-se m e n o r p a ra falar conosco, m as esse ato d iv ino de adap tao nossa fin itude jam ais envolve acom od ao ao nosso pecado , pois D eus no p od e pecar (H b 6.18). Deus usa an tropom orfism os (expresses verdadeiras de quem Deus descritas em term os h u m an o s) p a ra falar conosco, m as no usa m itos. s vezes nos d apenas p a rte da verdade, m as essa v e rdade parcial jam ais co nstitu i erro (IC o 13.12). Ele se revela progressivam ente, m as nu n ca e rron eam en te (v. R e v e l a o P r o g r e s s i v a ) . Ele nem sem pre nos d iz tudo, m as tu d o o que nos diz verdadeiro.
Jesus e a acom odao. Sabe-se b em que no n t Jesus expressou u m a concepo m uito elevada das E sc ritu ras (v. B b l i a , a p o s i o d e J e s u s e m r e l a o ) . Ele aceitava a au to rid ade d iv ina (M t 4.4,7,10), a validade e te rn a (M t 5.17,18), a insp irao d iv in a (M t 22.43), a im utab ilidade (Jo 10.35), a sup rem acia (M t 15.3,6), a in e rrn c ia (M t 22.29; Jo 17.17), a confiabilidade h is t rica (M t 12.40; 24.37,38) e a preciso cientfica (M t 19.4,5) das E scritu ras. Para ev itar a concluso de que Jesus estava realm ente a firm an do que tu do isso verdade, a lguns crticos in sis tem que ele estava ap enas se aco m od an do crena juda ica d a poca, sem ten ta r
-
13 acomodao, teoria da
derrubar as convices deles. Tais idias errneas teriam sido o ponto de partida do que ele queria lhes ensinar sobre questes mais im portantes de moralidade e teologia.
A acom odao contrria vida de Jesus. Tudo que se sabe sobre a v ida e os en sinam en tos de Jesus revela que ele jam ais se acom odou aos falsos en sinam ento s d a poca. Pelo con trrio , Jesus repreendeu os que aceitavam o pen sam en to judaico que contrad izia a Bblia, declarando: ... E p o r que vocs tran sg rid em o m a n dam en to de Deus p o r causa da trad io de vocs? [...] A ssim , po r causa da sua trad io , vocs an u lam a p a lavra de Deus (M t 15.3,6b).
Jesus co rrig iu opin ies falsas sobre a Bblia. Por exem plo, no fam oso Serm o do M onte, Jesus afirm ou enfaticam ente:
Vocs ouviram o que foi dito aos seus antepassados: No matars, e quem matar estar suj eito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmo estar sujeito a julgamento (Mt 5.21, 22 j.
Esta frm ula ou a frm ula sem elhante d eFoi d ito :... Eu, porm , vos digo... repetida nos versculos segu in tes (cf.M t 5.23-43).
Ele rep reendeu o fam oso lder judeu Nicodem os: Voc m estre em Israel e no en tende essas coisas? (Jo 3.10). Isso no se acom od ar s falsas crenas de seus in terlocutores. Ele at repreendeu N icodem os por no en ten der coisas em pricas, d izendo: Eu lhes falei de coisas terrenas e vocs no creram ; com o crero se lhes falar de coisas celestiais? (Jo 3.12). Ao falar e s pecificam ente sobre a in te rp re tao e rrad a deles so bre as Escrituras, Jesus disse d iretam ente aos saduceus: Vocs esto enganados porque no conhecem as E sc ritu ras nem o p o d er de D eus (M t 22.29).
As denncias de Jesus contra os fariseus de m aneira algum a poderiam ser classificadas com o acomodao.
Ai de vocs, guias cegos! [...] Ai de vocs, mestres da lei e fariseus, hipcritas! [...] Guias cegos! Vocs coam um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocs, mestres da lei e dos fariseus, hipcritas! [...] Serpentes! Raa de vboras! Como vocs escaparo da condenao ao inferno? (Mt 23.16-33).
Jesus fez tan ta questo de no se acom odar aos falsos en sinam ento s e p r ticas no Templo que
... ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do tem plo, bem como as ovelhas e os bois; espalhou as moedas dos cambistas e virou suas mesas. Aos que vendiam pombas disse:Tirem estas coisas daqui! Parem de fazer da casa de meu pai um mercado! (Jo 2.15,16).
At os in im igos de Jesus reconheciam que ele no fazia concesses. Os fariseus d isseram : M estre, sab em os que s ntegro e que en sinas o cam inho de Deus conform e a verdade. Tu no te deixas in fluen ciar p o r n ing um , porque no te p rendes aparnc ia dos h o m en s (M t 22.16). Nada no evangelho ind ica que Jesus ten h a se acom odado ao erro aceito p o r seus contem porneos acerca de q ua lq uer assunto.
A acomodao contrria ao carter de Jesus. Do ponto de vista pu ram en te hum ano, Jesus era conhecido por ser um hom em de grande carter m oral. Seus am igos m ais prxim os o consideravam impecvel (1 Jo 3.3; 4.17; 1 Pe 1.19). As m ultides se m aravilhavam com seus ensinam entos porque ele as ensinava com o quem tem autoridade, e no com o os m estres d a lei (M t 7.29).
Pilatos ex am inou Jesus e declarou: N o encontro m otivo p a ra acusar este hom em (Lc 23.4). O soldado rom an o que crucificou Jesus exclam ou: C ertam ente, este hom em era justo (Lc 23.47). At incrdulos p resta ram hom enagem a Cristo. E rnest Renan, fam oso ateu francs, declarou sobre Jesus: Seu idealism o perfeito a m ais elevada regra de v ida im pecvel e v irtuo sa (R enan, p. 383). R enan tam b m escreveu: Vamos colocar, ento, a pessoa de Jesus no pon to m ais alto da grandeza hum ana (ibid., p. 386) e Jesus continua sen do u m p rin c p io inesgo tvel de regenerao m o ra l p a ra a h um an id ad e (ibid., p. 388).
Do pon to de vista bblico, Jesus era o Filho de Deus e p o r isso no pod ia m entir, pois Deus no m en te (T t 1.2). R ealm ente, im possvel que Deus m in ta (Hb 6.18). Sua palavra a verdade ( Jo 17.17). Seja Deus verdadeiro, e todo ho m em m entiro so (R m 3.4). Seja qual for a au to lim itao d iv ina necessria p a ra a com unicao com os seres hum anos, no h pecado, pois Deus no pod e pecar. algo con tr rio sua natureza.
Uma objeo respondida. verdade que Deus se a d a p ta s lim ita es h u m a n a s p a ra co m u n ic a r-se conosco. Jesus, que era Deus, tam bm era um ser h u m ano. Como ser hum ano, seu conhecim ento era lim itado. Isso revelado em vrias passagens das E scrituras. P rim eiram ente , quando criana, ia crescendo em sabedoria (Lc 2.52). M esm o quando adulto seu conhecim ento tinha certas lim itaes. Segundo M ateus, Jesus no sabia o que havia na figueira antes de chegar perto dela (M t 21.19). Jesus disse que no sabia a hora de sua Segunda Vinda: Q uanto ao d ia e h o ra n ingum sabe, nem os anjos dos cus, nem o Filho, seno som ente o Pai (M t 24.36; grifo do autor).
M as, ap esar das lim itaes do conhecim ento h u m an o de Jesus, lim ites so diferen tes de falso conhecim ento. O fato de ele no saber algum as coisas com o hom em no quer dizer que estava errado sobre o que
-
A d o , h is to r ic id a d e de 14
sabia. 0 fato de Jesus desconher, com o hom em , a h ip tese docum entria (teoria j e d p ) sobre a autoria da Lei u m a coisa. M as bem diferente dizer que Jesus estava errado quando afirm ou que Davi escreveu o salm o 110 (M t 22.43),que Moiss escreveu a Lei (Lc 24.27; Jo 7.19, 23), ou que Daniel escreveu um a profecia (M t 24.15; v. B b l i a , a p o s i o d e J e s u s e m r e l a o ) . As lim itaes de Jesus sobre coisas que no sabia com o hom em no o im pediam de afirm ar verdadeiram ente o que de fato sabia (v. P e n t a t e u c o , a u t o r i a m o s a i c a d o ; p r o f e c i a , c o m o p r o v a d a B b l i a ) .
O que Jesus sabia, en sino u com au to rid ade divina. Ele d isse aos seus d iscpulos:
Foi-me dada toda a autoridade nos cus e na terra. Portanto, vo e faam discpulos de todas as naes, batizando- os em nome do Pai e do Filho e do esprito santo, ensinan- do-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocs, at o fim dos tempos (Mt 28.18-20).
Ele en sin o u com nfase. No evangelho de Joo, Jesus d isse 25 vezes: Digo-lhe a verdade... (Jo 3.3,5,11). Ele a firm ou que suas palavras valiam tan to quan to as de D eus, ao declarar: Os cus e a te rra passaro , m as as m inh as palavras jam ais passaro (M t 24.35). Alm disso, Jesus en sinou ap enas o que o Pai lhe o rd en ara ensinar. Ele disse: ... nad a fao de m im m esm o; m as falo exatam ente com o o que Pai m e ensinou (Jo 8.28 b). E acrescentou: Por m im m esm o, n ad a posso fazer; eu julgo apenas conform e ouo, e o m eu ju lgam ento ju s to, pois no procuro ag rad ar a m im m esm o, m as q uele que m e enviou (Jo 5.30). Assim , acusar Jesus de e rra r acu sa r Deus Pai de errar, j que ele s falava o que o Pai lhe d issera.
R esum o. N o h ev idncia de que Jesus ten ha se acom odado ao erro h u m an o em qu a lquer coisa que e n s in o u . N em h q u a lq u e r in d ic a o de q u e sua au tolim itao na E ncarnao ten ha resultado em erro. Ele jam ais ensinou algo nas reas em que a Encarnao o lim ita ra com o hom em . E o que ensinou, afirm ou com a au to rid ade do Pai, de tendo tod a au to ridade no cu e n a terra.
FontesA cco m m o d a tio n .isB E .
N. L. G e is l e r , Christian apologetics, cap . 18.E. Renan, The life o f Jesus.J. W. W e n h a m , Christ and the Bible.
A do , h is to r ic id a d e de . E studiosos da crtica bblica g e ra lm en te co n sid e ram os p rim e iro s cap tu lo s de Gnesis m ito (v. a r q u e o l o g i a d o a t ; d i l u v i o d e N o, m i t o
e ). Eles ind icam o estilo potico do texto, o paralelism o dos prim eiros captulos de Gnesis com outros m itos antigos, a suposta contradio en tre o texto com a evoluo (v. e v o l u o b i o l g i c a ; e v o l u o h u m a n a ) e a data recente de Ado na Bblia (c. 4000 a.C.), que contrria datao cientfica dos prim eiros hum anos com o m uito m ais antigos. Consideram tudo isso evidncia de que a h istria de Ado e Eva m tica. No entanto, a Bblia apresenta Ado e Eva com o pessoas reais, que tiveram filhos reais, dos quais descendeu o restante da raa h u m an a (cf. Gn 5.1 ss.).
A d o e Eva h istricos. H b on s m otivos p a ra crer que Ado e Eva foram personagens h ist ricas. Em p r im eiro lugar, Gnesis 1 e 2 ap resen tam -no s com o p essoas reais e at n a rram os eventos im po rtan tes da v ida deles. Em segundo lugar, gera ram filhos literais que fizeram o m esm o (Gn 4,5). Em terceiro lugar, o m esm o tipo de frase (Este o registro , so estas as geraes ), usada p a ra reg istrar a h is t ria m ais tarde em Gnesis (e.g., 6.9; 10.1; 11.10,27; 25.12,19), usada p a ra o registro da criao (2.4) e p a ra Ado e Eva e seu s d e sce n d e n te s (G n 5.1; v. P e n t a t e u c o , a u t o r i a m o s a i c a d o ) . Em q u arto lugar, ou tras cronologias p o s teriores do a t colocam Ado encabeando as listas (Gn 5.1; lC r 1.1). Em qu in to lugar, o n t designaA do o p r im eiro dos ancestra is literais de Jesus (Lc 3.38). Em sexto lugar, Jesus referiu-se a Ado e Eva com o os p r im eiros hom em e m u lh er literais, fazendo da unio deles a b ase p a ra o casam ento (M t 19.4). Em stim o lugar, R om anos declara que a m o rte literal foi traz id a ao m undo po r u m hom em real Ado (5.12,14). Em oitavo lugar, a c o m p ara o de A do (o p r im e iro Ado ) com Cristo (o ltim o Ado ) em 1 C orntios 15.45 m an ifesta que Ado era co nsiderado pessoa literal e h ist rica. Em nono lugar, a declarao de P aulo: p rim eiro foi fo rm ado Ado, e depois Eva ( U m 2.13,14) revela tra ta r-se de pessoas reais. Em dcim o lugar, logicam ente devia haver o prim eiro p a r real de seres hu m anos, hom em e m ulher, seno a raa no p o deria continuar. A Bblia cham a esse casal literal Ado e Eva, e no h m otivo p a ra duv id ar de sua verdadeira existncia.
Objees historicidade. O estilo potico de Gnesis 1. Apesar da pressuposio com um do contrrio e da bela linguagem de Gnesis 1 e 2, o registro da criao no poesia. A pesar de haver u m possvel para lelism o de idias en tre os trs p rim eiros e os trs ltim os dias, essa no a fo rm a tp ica da poesia hebraica, que en volve o uso de duplas em paralelism o. A co m p arao com Salm os ou Provrbios m o s tra r c la ram en te a d iferena. G nesis 2 no possu i n e n h u m p ara le lism o potico . Pelo co n tr rio , o reg is tro da criao igual
-
15 agnosticismo
a qua lquer o u tra narra tiv a h is t rica no a i . O registro in tro d u z id o com o o u tro s reg is tro s h is t r ic o s em Gnesis, com a frase Esta a h is t r ia ... (Gn 2.4; 5.1). Jesus e autores do n t referem -se aos eventos da c r ia o com o h ist ricos (cf. M t 19.4; Rm 5.14; ICo 15.45; U m 2 .13 ,14). As ta b u in h a s e n c o n tra d a s em Ebla acrescen taram um testem u nho antigo e extrabblico sobre a criao d iv ina ex nihilo (v. c r i a o , t e o r i a s d a ) .
Contradio com a evoluo. O registro da criao de Gnesis co n trad iz a m acroevoluo. Gnesis n a rra a criao de Ado do p da terra , no de sua evoluo a p a rtir de outros an im ais (Gn 2.7). Fala da criao d ire ta e im ed ia ta p o r ordem de Deus, no por longos processos na tu ra is (cf.G n 1.1,3,6,9,21,27). Eva foi c riada a p a rtir de Ado; ela no evoluiu separadam en te . Ado era u m ser inteligente que sabia falar um a ln gua, era capaz de e s tu da r e no m ear os an im ais, e rea liza r a tiv id ad es p a ra su s ten ta r-se . Ele no era um sem ip rim ata igno ran te (v. e v o l u o t e s t a ) .
No en tan to , a in d a que se ad m ita o fato do reg istro de G nesis co n trad ize r a m acroevo luo , concluir que G nesis est e rrad o e a evoluo est ce rta in co rre r no erro co nhecido p o r pe tio de p rincp io . Na verdade, h ev idnc ias cientficas suficientes pa ra critica r a m acroevo luo e suas afirm aes. V. a r t i gos sob o tp ico e v o l u o .
Objeo data recente, A data bblica, tradicional pa ra a criao de Ado (c. 4000 a.C.) m uito recente pa ra se encaixar na evidncia de fsseis antigos de ap arncia hum ana, que variam de dezenas de m ilhares a centenas de m ilhares de anos. A data m ais antiga para o surgim ento da hum anidade baseia-se em m todos cientficos de datao e na anlise de fragm entos sseos.
No en tan to , h suposies falsas ou contestveis nessa objeo. Em prim eiro lugar, supe-se que b asta ad ic ionar todos os registros genealgicos de Gnesis 5 e 11 e, assim , chegar data ap rox im ada de 4000 a.C. p a ra a criao de Ado. Isso, todavia, baseado na falsa suposio de que no ex istam lacunas nessas listas, que de fato existem (v. g e n e a l o g i a s a b e r t a s ou f e c h a d a s ) .
E ssa ob jeo ta m b m su p e que o m to d o de datao de fsseis h u m an os antigos preciso. Mas e s ses m todos esto sujeitos a m uitas variveis, inc lu in do-se a m ud an a de condies atm osfricas, a co n tam inao de am o stras e m ud anas da taxa de decom posio (v. c i n c i a e a B b l i a e d a t a o c i e x t f i c a ) .
Presum e-se que os fsseis antigos de aparncia h u m ana descobertos realm ente seriam seres hum anos criados im agem de Deus. M as essa um a p ressu po sio questionvel. M uitas dessas descobertas esto de tal m odo fragm en tadas de m odo que a reco nstruo m uito especulativa. O cham ado "hom em de N ebraska
foi elaborado, na verdade, a p a rtir de u m dente de u m a raa extinta de porcos! A identificao fora b aseada num nico dente. O hom em de Piltdown era um a fraude. Identificar u m a criatu ra pelos ossos, a inda m ais por fragm entos sseos, altam ente especulativo.
Pode ter havido criaturas de aparncia quase h u m ana que eram m orfologicam ente sem elhantes aos seres hum anos, m as no foram criadas im agem de Deus. A es tru tu ra ssea no pode provar que havia um a alm a im ortal feita im agem de Deus dentro do corpo. A evidncia da fabricao de ferram en tas sim ples no prova nada. Sabe-se que an im ais (m acacos, focas e pssaros) so capazes de usar ferram entas simples.
Essa objeo tam b m pressupe que os d ias de Gnesis so dias solares de 24 horas. Isso no ce rte za, j que dia em Gnesis usado p a ra todos os seis dias (cf. Gn 2.4). E o stim o dia, em que Deus d e scansou, a inda continua, m ilhares de anos depois (cf. Hb 4.4-6; v. G n e s i s , d i a s d e ) .
im possvel afirm ar que Gnesis no histrico. Na verdade, dadas as pressuposies no provadas, a histria de m interpretao dos fsseis antigos e a pres- s u p o s i o e r r n e a de q u e n o h a ja la c u n a s n a s genealogias bblicas de Gnesis 5 e 11, os argum entos contra a historicidade de Ado e Eva so falhos e falsos.
FontesG. L. A rc h e r , Jr. Enciclopdia de temas bblicosA . C l stance, Genesis and early man.N. L. G e is le r & T, H o w e , Manual popular de dvidas, enigmas e
contradiesda Bblia.
R. C. N f.w m a n , Genesis and the origin o f the earth.
B. R a m m , The Christian view o f Science andScripture.
ag n o s tic ism o , Este term o provm de duas palavras gregas ( a , n o ; gnsis c o n h e c im e n to ). O te rm o agnosticismo foi criado p o r T. H. Huxley. Significa lit e r a lm e n te n o - c o n h e c im e n to , o o p o s to d e g n o stic ism o (H uxley, v. 5; v. g n o s t i c i s m o ) . Logo, o ag nstico alg um que alega no conhecer. Q u ando ap licado ao co n hec im en to de D eus, h dois tipos b sicos de ag nsticos: os que a firm am que a ex istn cia e a na tu reza de Deus r^e- so co nhec idas, e os que ac red itam que n o se p o d e co nhecer a D eus (v. a n a l o g i a , p r i n c p i o d a ; D e u s , e v i d n c i a s d e ) . J que o p r im eiro tipo no e lim ina to do o co nh ec im en to re lig ioso, da rem os a teno aq u i ao segundo .
M ais de cem anos an tes de Huxley (1825-1895), as ob ras de D avid H ume (1711-1776) e Im m an u e l K a n t (1 7 2 4 -1 8 0 4 ) la n a ra m a b a se f ilo s fica do
-
agnosticismo 16
a g n o s tic ism o . G ran de p a r te da filo so fia m o d e rn a s im p lesm en te pressupe a validade geral dos tipos de argum en tos que eles estabeleceram .
O ceticism o de H um e. 0 p rprio Kant era racio- na lista ( v . r a c i o n a l i s m o ) at que foi despertado do sono dogm tico ao ler H um e. Tecnicam ente falando as p o sies de H um e so cticas, m as servem aos p rop sitos agnsticos. 0 raciocnio de H um e baseia -se na afirm ao de que h ap en as dois tip o s de afirm a es significantes.
Se tomarm os nas nossas mos qualquer livro, de teologia ou metafsica, por exemplo, ele conter qualquer raciocnio abstrato relativo a quantidade ou nmero? No. Contm algum raciocnio experimental relativo aos fatos e existncia? No. Ento lance-o no fogo, pois no pode conter nada alm de sofismas e iluso (Investigao sobre o entendimento humano).
Q ualquer afirm ao que no seja p u ram en te a re lao de idias (defin ido ras ou m atem ticas) p o r um lado, nem u m a questo de fatos (em pricos ou reais), p o r outro , insignificante. claro que nen h u m a das afirm ativas sobre Deus se encaixa nessas categorias, logo o conhecim ento de Deus to rn a -se im possvel (v. A C O G N O STICISM O ).
Atomismo emprico. Alm disso, todas as sensaes so v ivenciadas to ta lm en te soltas e sep arad as . Conexes causais so feitas pela m en te s depois de o b servada a conjuno constan te dos elem entos consta n te s d a ex p e r i n c ia . O q u e a p e sso a re a lm en te vivncia apenas um a srie de sensaes desconexas e separadas. Na verdade, no h conhecim ento d ireto nem do p r p rio eu , porqu e tudo o que sabem os so bre n s m esm os o conjun to desconexo de im presses sensoriais. Faz sen tido falar de conexes feitas apenas na m en te a priori ou indep en den tem en te da experincia. Ento, a p a rtir da experincia no pode haver conexes conhecidas e, certam en te , no h conexes necessrias. Todas as questes experim en tais im plicam n a possvel realidade que lhe contrria .
Causalidade baseada no costume. Segundo H um e, todo raciocn io relativo a questes de fato parece ser fu nd am en tad o n a relao de causa e efeito [...] S p o r m eio dessa relao pod em os ir a lm da ev idncia da nossa m em ria e dos nossos sen tidos (H um e iv, p. 2;V. CAUSALIDA DE, PRIN C PIO DAJ PR IM E IR O S P R IN C P IO S ). E 0 C O -n hecim ento d a relao de causa e efeito no a priori, m as surge in teiram ente a p a rtir da experincia. Sem pre h a possibilidade da falcia post hoc ou seja, que certas coisas acontecem geralm ente depois de ou tros eventos (a t reg u la rm en te ), m as no so realm ente
causadas p o r eles. Por exem plo, o sol nasce regu la rm ente depois que o galo canta, m as ce rtam en te no porque o galo canta. No possvel conhecer as co nexes causais e, sem o conhecim ento da C ausa deste m undo, p o r exem plo, tudo o que resta ao indiv duo o agnosticism o a respeito desse suposto Deus.
Conhecimento por analogia. M esm o supondo que todo evento causado, no podem os ter certeza sobre o que o causa. Assim, no fam oso Dilogos sobre a religio natural, H um e defende que a causa do universo pode ser: 1) diferente da inteligncia hum ana, j que as invenes hum anas so diferentes da natureza; 2) finita, j que o efeito finito e s necessrio inferir a causa adequada para o efeito; 3) im perfeita, j que existem im perfeies na natureza; 4) m ltip la, pois a criao do m undo se parece m ais com o produto de tentativas e erros de m uitas divindades em cooperao; 5) m ascu lina e fem inina, j que essa a m aneira de os hum anos serem gerados; e 6) antropom rfica, com m os, nariz, olhos e outras partes do corpo com o as de suas c ria tu ras. Logo, a analogia nos deixa no ceticism o sobre a n a tureza de qualquer suposta Causa do m undo.
A gnostic ism o de K ant. As obras de H um e in flu en ciaram m uito o pen sam en to de Kant. A ntes de l- las, K ant defendia u m a form a de racionalism o seg u n do a trad io de G ottfried L e i b n i z (1646-1716). Leibniz, bem com o C hristian F re ihe rrvo n W o l f f (1679-1754), que o seguiu, acreditava que a realidade pod ia ser conhecida racionalm ente e que o tesm o era dem onstrvel. Foram as obras de K ant que acabaram ab ru p tam en te com esse tipo de pen sam en to no m un do filosfico.
A impossibilidade de conhecer a realidade. Kant concedia trad io racional de Leibniz u m a d im enso ra cional, a priori, do conhecim ento, ou seja, a form a de todo conhecim ento independente da experincia. Por o u tro lado , K ant co n co rdav a com H u m e e com os em piristas que o contedo de todo tipo de conhecim ento vinha por m eio dos sentidos. A m atria-p rim a do conhecim ento fornecida pelos sentidos, m as a estru tu ra do conhecim ento adqu irida posterio rm en te na m en te. E ssa s n te s e c r ia tiv a re so lv ia o p ro b le m a do racionalism o e do em pirism o. No entanto, o resultado infeliz dessa sntese o agnosticism o, pois, se no p o ssvel saber nada antes que seja estru tu rado pela sensao (tem po e espao) e pelas categorias do conhecim ento (tais com o un idade e causalidade), ento no h com o ir alm do prprio ser e saber o que realm ente era antes de o term os assim form ado. Isto , a pessoa s pode sab e r o que o objeto para ela, m as nunca o que ele de fato . Som ente o aspecto fenom enolgico, m as no o num nico, pode ser conhecido. Devemos perm anecer
-
17 agnosticismo
agnsticos sobre a realidade. S sabem os que algo existe, m as nunca saberem os o que (Kant. p. 173ss.).
As antinom ias da razo hum ana. Alm de existir um ab ism o in transponvel en tre conhecer e ser, en tre as categorias do nosso conhecim ento e a natureza da realidade, contrad ies inevitveis tam b m resultam quando com eam os a atravessar esse lim ite (Kant, p. 393ss.). Por exemplo, h a an tinom ia da causalidade. Se todas as coisas so causadas, ento no pode haver um a causa inicial, e sries causais devem com ear no in fin ito. M as im possvel que a srie seja infinita e tam bm tenha comeo. Esse o paradoxo que resulta da aplicao da categoria da causalidade realidade.
E sses a rg u m e n to s n o e sg o ta m o a rs e n a l do agnstico, m as so a base do argum ento Deus no pode ser conhecido . No entanto, m esm o alguns que no esto dispostos a ad m itir a validade desses argum entos op tam pelo agnosticismo m ais sutil. Tal o caso da lin ha de pensam ento cham ada positivism o lgico.
P ositiv ism o lgico. Tam bm cham ado em pirism o lgico um a filosofia de lgica e linguagem que p ro cu ra descrever to d a rea lidade em te rm o s sen so ria is ou ex perim en ta is . Suas idias o rig ina is fo ram d e sen volv idas pelo filsofo A uguste C o m t f . (1798-1857). Suas im plica es teo lg icas foram descrita s p o r A. J. A y e r (1 9 1 0 -1 9 8 9 ) m e d ia n te s e u p r in c p io d a verificab ilidade em p rica . Ayer alegava que seres h u m an o s no p o d em an a lisa r ou d e fin ir o Deus in fin ito, logo tu d o o que se fala sobre Deus tolice. A idia de co nhecer ou ve rsar sobre um ser n u m n ico a b su rda . N o se deve nem u sa r o te rm o Deus. A ssim , a t o ag n o s tic ism o tra d ic io n a l in su s te n t v e l. O ag n stico p e rg u n ta se Deus existe. P ara o positiv ista , a p r p ria p e rg u n ta insign ifican te . A ssim , im p o ssvel ser agnstico .
Por incrvel que parea, o a c o g n o s t i c i s m o de Ayer no negava au tom aticam en te a possib ilidade da experincia religiosa, com o o agnosticism o. possvel ex p erim en tar Deus, m as esse contato com o infinito jam ais pod eria ser expresso de form a significativa, en to in til, exceto p a ra o receptor dessa m aravilha. O positiv is ta lgico Ludwig W i t t g e n s t e i n (1889-1951) talvez ten h a sido m ais coeren te ao p ro p o r um tipo d e s ta de re s tr i o ao p e n sa m e n to p o s it iv is ta (v. d e s m o ) . Se im profcuo falar sobre Deus ou m esm o usar o term o, en to qua lquer ser infinito teria o m e sm o prob lem a com relao ao que fsico. W ittgenstein negava que Deus p ud esse es ta r p reo cu p ad o com o m un do ou revelar-se a ele. Entre os m bitos num nico e fenom enolgico s pode haver silncio. Em resumo, para os no-cognitivistas religiosos Ayer e W ittgenstein, o acog no stic ism o m etafsico o resu ltado final da anlise da linguagem (v. a n a l o g i a , p r i n c p i o d a ) .
N o-fa lsific vel. A ntonv F l e w desenvolveu u m a filosofia ag n stica a p a r t i r de o u tra n u an a d as lim itaes da linguagem e d a consc inc ia do div ino. Pode ou no ex istir u m D eus; no possvel p rovar q u a lq u e r das duas teses em p iricam en te . E nto, no possvel a c red ita r leg itim am en te em n e n h u m a d e las. Para ser verificvel, u m arg u m en to deve ser c a paz de ser d em o n strad o falso. Deus deve ser d e m o n strad o , de um jeito ou de o u tro , p a ra fazer d iferena. A no ser que o te s ta po ssa en fren ta r esse desafio , a im presso que fica que ele tem o que R. M. Elare d e n o m in o u b lik , ou falha de rac io c n io (Flew, p. 100). Isto ,e le tem u m a crena no-falsificvel (p o rtan to in ju s tificad a) em D eus, ap esa r de to do s os fa tos ou condies c ircu nstanc ia is .
L g ica do a g n o s tic ism o . H d u a s fo rm as de agnosticismo. A form a fraca sim plesm en te afirm a que Deus desconhecido. Isso, claro, abre a p ossib ilidade de conhecer a Deus e to rn a possvel que alguns conheam a Deus. Assim , esse agnostic ism o no am eaa o tesm o cristo. A form a m ais forte de agnosticism o o c ris tian ism o so incom patveis en tre si, pois ela afirm a que Deus incognoscvel.
O u tra d is tino deve ser feita: existe o ag n o s tic is m o ilim itado e o lim itado . O p rim eiro afirm a que ta n to Deus q u an to to d a rea lid ade so incognoscveis. O seg u n d o a f irm a a p en as q u e D eus p a rc ia lm e n te incognoscvel d ad as as lim itaes da f in itu de e do p e c a d o h u m a n o s . E s ta s e g u n d a f o rm a de ag no stic ism o p od e ser ad m itid a p o r c ris to s com o possvel e desejvel.
Isso deixa trs alte rnativas bsicas relativas ao conhecim ento de Deus.
1. N o p o d em o s sab e r n a d a sobre Deus; ele incognoscvel.
2. Podem os saber tudo sobre Deus; ele pod e ser conhecido p lenam ente.
3. Podem os saber algum a coisa, m as no tudo; Deus parc ialm en te cognoscvel.
A p r im e ira posio agnosticism o; a seg u n d a , dogm atism o, e a ltim a, realismo. A posio dogm tica im provvel. necessrio ser in fin ito pa ra conhecer plenam ente o Ser infinito. Poucos testas (provavelmente n en h u m deles) defenderam seriam en te esse tipo de dogm atism o.
No en tanto , os testas (v. t e s m o ) s vezes a rg u m en tam com o se o agnosticism o parcial tam b m fosse e rrado. A form a que esse a rgu m en to assum e e que o ag nostic ism o errado sim plesm ente p orqu e no se
-
agnosticismo 18
p od e saber se algo relativo realidade incognoscvel sem ter algum conhecim ento sobre ele. M as essa lgica est errada . N o h contrad io em dizer: Eu sei o suficiente sobre a realidade p a ra afirm ar que existem algum as coisas sobre ela que eu no posso sab er . Por exem plo, p od em os saber o suficiente sobre tcnicas de observao e relato p a ra d izer que im possvel sab erm os a populao exata do m un do n u m de term in ad o in s tan te (incognoscib ilidade na p r tica). Da m esm a form a, podem os saber o suficiente sobre a natureza da fm itude para dizer que im possvel a seres finitos conhecer com pletam ente um ser infinito. Ento, o cristo s tem controvrsia com o agnstico pleno, que descarta na prtica e na teoria todo conhecim ento de Deus.
Agnosticismo contraproducente. 0 ag nostic ism o com pleto reduz-se afirm ao auto destrutiva: (v. a f i r m a e s c o n t r a d i t r i a s ) conhecem os o suficiente sobre a realidade pa ra afirm ar que nada pode ser conhecido sobre ela (v. l g i c a ) . Essa afirm ao contrad it ria . Quem sabe algo sobre a realidade no pode afirm ar ao m esm o tem po que to da realidade incognoscvel. E quem no sabe absolu tam ente nad a sobre a realidade no tem base p a ra fazer u m a afirm ao sobre a realidade. No suficiente dizer que o conhecim ento da realidade s pode ser pu ra e com pletam ente negativo, isto , o conhecim ento s pode dizer o que a realidade no . Toda afirm ao negativa pressupe um a afirm ao p o sitiva; no se pode afirm ar significativamente que algum a coisa no e estar com pletam ente desprovido de conhecim ento dessa coisa. Conclui-se que o agnosticism o total derrota a si m esm o. Ele presum e o conhecim ento da realidade para negar todo o conhecim ento dela.
Alguns j ten taram evitar essa crtica tran sfo rm an do seu ceticism o em pergunta: O que eu sei sobre a realidade? . M as isso s ad ia o d ilem a. A gnsticos e c ristos devem respond er essa pergu n ta , m as a resp osta sep ara o agnstico do realista: Eu posso saber a lg um a coisa sobre D eus b em d iferen te de No posso saber nad a sobre Deus . Q uando a segunda re s p osta dada, um a afirm ao co n trad it ria foi ev iden tem en te apresen tada .
Nem ad ian ta recorrer m udez e no d izer nada. Os pen sam en to s po d em ser to au to -rid icu larizan tes q u a n to as a firm a es . Q uem assu m e a p o s tu ra de m udez sequer pode pensar que no sabe ab so lu tam ente n ad a sobre a realidade sem que isso im plique con hecim ento sobre a realidade.
A lgum pode estar d isposto a ad m itir que o conhecim ento sobre a realidade finita possvel, m as no sobre a realidade in fin ita , o tipo de realidade em qu esto no tesm o cristo. Nesse caso, a posio no m ais agnosticism o com pleto, pois afirm a que algo pode ser
conhecido sobre a realidade. Isso d espao p a ra d is cu tir se a realidade fin ita ou infinita , pessoal ou im p e sso a l. E ssa d is c u s s o vai a l m d a q u e s t o do agnosticism o p a ra debater o de sm o finito e o tesm o.
O agnosticismo contraproducente de Kant. O a rg u m ento p roposto po r Kant de que as categorias de p e n sam en to (ta is com o u n id ad e e causa lidad e) no se aplicam realidade tam b m falho. A no ser que as categorias da realidade co rrespondessem s categorias da m ente, nen h u m a afirm ao p od eria ser feita so bre a realidade, nem m esm o a afirm ao feita p o r Kant. A no ser que o m un do real fosse inteligvel, nen h u m a afirm ao sobre ele se aplicaria. necessria um a pr- form ao d a m ente realidade p a ra falar algo sobre ela positivo ou negativo. De ou tra fo rm a, estarem os p en san do sobre u m a realidade inim aginvel.
Pode-se ap resentar o argum ento de que o agnstico no precisa fazer nenh um a afirm ao sobre a realidade, m as apenas definir os lim ites do que podem os saber. M esm o tal argum ento , no entanto, contraditrio . Dizer que algum no pode saber m ais que os limites do fenm eno ou da ap arncia com o ten tar fazer um a linha na areia com as duas pernas. Estabelecer lim ites to firm es equivale a u ltrapass-los. No possvel afirm ar que a aparncia te rm ina aqui e a realidade com ea ali a no ser que se possa ver at certa distncia do ou tro lado. Como algum pode saber a diferena entre ap arncia e realidade se no viu o suficiente da aparncia e da realidade para fazer a com parao?
O utra d im enso co n trd it ria sugerida na ad m isso de Kant: o n m ero existe, m as no sabe o que . Ser possvel saber que algo existe sem sab er nada sobre ele? O conhecim ento no im plica algum conhecim ento das caractersticas? M esm o u m a c ria tu ra est r a n h a n u n c a v is ta a n te r io rm e n te s p o d e r ia ser iden tificada se tivesse algum as carac ters ticas reconhecveis com o tam an ho , cor ou m ovim ento . At algo invisvel deve deixar algum efeito ou vestgio p a ra ser observado. N o preciso conhecer a origem ou fu n o de u m a coisa ou u m fenm eno. M as certam en te ele foi observado, ou o observador no p od eria saber que ele existe. N o possvel declarar que algo existe sem sim ultaneam ente afirm ar o que ele . Alm disso, K ant reconheceu no n m ero a fonte incognoscvel da ap arncia que recebem os. Tudo isso inform ativo sobre o real; existe u m a fonte real, essencial de im presses. Isso m enos que o agnosticism o com pleto.
Outras fo rm a s de ceticism o. O ceticismo de Hume. A tentativa ctica geral de anular todo julgam ento so bre a realidade tam bm contraditrio , j que im plica ju lgam ento sobre a realidade. De que ou tra m aneira algum saberia que su spend er todo ju lgam en to sobre
-
19 agnosticismo
a realidade o m elhor cam inho , a no ser que rea lm ente soubesse que a realidade incognoscvel? O cetic ism o im plica agnosticism o; conform e d e m o n s tra do acim a, o agnosticism o im plica conhecim ento so bre a realidade. O ceticism o ilim itado que elogia a su spenso de todo o ju lgam ento sobre a realidade im plica um ju lgam en to dem asiado ab rangen te sobre a realidade. Por que d e ses tim u lar to d as as ten tativas de chegar verdade, a no ser que se saiba de an tem o que so fteis? E com o se pode ter essa inform ao de an tem o sem j saber algo sobre a realidade?
A alegao feita po r H um e de que todas as a firm aes significativas so u m a relao de idias ou q u estes de fato queb ra suas p rp rias regras. A afirm ao no se encaixa em n enh um a das duas categorias. Logo, po r definio, sem sentido . N o p od eria ser ab so lu tam en te u m a relao de idias, porque nesse caso no descreveria a realidade, com o d a entender. No p u ram en te u m a afirm ao fatual p o rque alega co brir m ais que assuntos em pricos. Em resum o, a d istino de H um e a base p a ra o princp io da verificabilidade em prica de Ayer, e o princp io da verificabilidade em si no em piricam en te verificvel (v. A v e r , A. J.)
O atom ism o em prico radical de Hum e no qual to dos os eventos so com pletam ente desconexos e separados , e o p rprio eu apenas um am ontoado de im presses sensoriais inexeqvel. Se todas as coisas fossem desconectadas, no haveria nem com o fazer essa afirm ao especfica, j que certa unidade e conexo so sugeridas na afirm ao de que tudo desconectado. A firm ar que eu no sou nada alm de im presses sobre m im m esm o contraditrio , pois existe sem pre a suposta un idade do eu que faz a afirm ao. Mas no se pode assum ir u m eu unificado a fim de neg-lo.
Para respostas ao acognosticism o, a form a m s tica que W ittgenstein lhe deu e o p rincp io de falsifica- b ilidade de Flew, v . a c o g n o s t i c i s m o .
A lgu m as alegaes agnsticas especficas. Hum e negava o uso trad ic ion al da causa lidad e e analog ia com o m eio de conhecer o Deus do tesm o. A causalidade b asead a no costum e e a analogia levaria a um deus finito e h u m an o ou a um Deus to ta lm en te d iferente do suposto anlogo.
A justificativa da causalidade. H um e nun ca negou o princp io da causalidade. Ele ad m itiu que seria ab surdo afirm ar que as coisas surgem sem um a causa (H um e, i. p. 187). O que ele de fato ten tou negar foi a ex istncia de qua lq uer m an eira filosfica de estabelecer o princp io da causalidade. Se o princp io causal no m era relao an altica de idias, m as a crena b a sead a na con juno h ab itu a l de eventos triv iais, en to no h necessid ade dele. No se pode us-lo
com o justificativa filosfica. J v im os, no en tan to , que d iv id ir todas as afirm aes de contedo nessas duas classes contrad it rio . Ento, possvel que o p rin c pio causal ten ha contedo e seja necessrio .
A prpria negao da necessidade causal im plica a necessidade dela. A no ser que haja um a razo (ou causa) necessria para a negao, ela no necessariam ente vlida. E se h um a razo ou causa para a negao, nessa eventualidade, seria usada um a conexo causal necessria para negar a existncia conexes causais necessrias.
A lguns j ten ta ram ev itar essa objeo lim itando a necessidade realidade d a lgica e das proposies e negando que a necessidade se aplique realidade em si. Isso no funciona; p a ra que essa afirm ao exclua a necessidade do m bito da realidade, precisa ser um a afirm ao necessria sobre a realidade. Na verdade isso faz o que alega que no p od e ser feito.
Um fu n dam en to p ara a analogia. Da m esm a form a, H um e no pode negar tod a sem elhana en tre o m un d o e Deus, porque isso im plicaria que a criao deve ser to ta lm en te diferente do Criador. Isso significaria que os efeitos devem ser com pletam ente d iferentes da causa. Essa afirm ao tam bm au todestru tiva; a no ser que haja algum co nhecim ento d a causa, no pode haver fun dam en to p a ra negar to d a sem elh ana en tre a causa e o efeito. M esm o a com parao nega tiva im plica conhecim ento positivo dos term o s co m p arados. Ento, ou no h base p a ra a afirm ao de que Deus deve ser to ta lm en te diferente, ou p o d e haver conhecim ento de Deus em term o s da nossa experincia, e nesse caso Deus no co m pletam ente d iferen te do que conhecem os pela experincia.
preciso ter cu idado aqui pa ra no exagerar na concluso desses argum entos. Um a vez dem o nstrado que o agnosticism o total co n traproducente , n o se gue ipso fa c to que Deus exista ou que se ten ha conhecim ento de Deus. Esses argum entos d em o n stram ap enas que, se Deus existe, no se pode a firm ar que ele no p o d e ser conhecido. D isso conclui-se apenas que Deus p od e ser conhecido, no que sabem os algo sobre ele. A refutao do agnostic ism o no , ento, a prova do realism o ou tesm o. O ag nosticism o ap enas se des- tr i e possibilita a form ulao do tesm o cristo. A d e fesa positiva do conhecim ento cristo de Deus a in da precisa ser fo rm ulad a (v. D e u s , e v i d n c i a s d e ) .
As antinom ias de Kant. Em cada u m a das su p o stas an tin om ias de Kant h u m erro. No resulta em contradies inevitveis falar sobre a realidade em te rm os de condies necessrias do pen sam en to h u m a no. Por exem plo, um erro o p in ar que tud o prec isa de um a causa, pois nesse caso haveria u m a in fin idade de causas, e at Deus prec isa ria de u m a causa. A penas
-
Agostinho 20
coisas lim itadas, m utveis e contingentes precisam de causas. Q uando se chega ao Ser N ecessrio, ilim itado e im utvel, no h m ais necessidade de um a causa. O finito deve ser causado, m as o ser infinito no-causa- do. As ou tras an tino m ias de Kant tam bm so invlidas (v. K a n t , I m m a n t e l ) .
Concluso. E x istem do is tip o s de ag n ostic ism o : o lim ita d o e o ilim itado . O p r im e iro co m patv el com as a firm a es c r is t s de co n h ec im en to fin ito do D eus in f in ito . M as o ag n ostic ism o ilim itad o autodestrutivo: im plica conhecim ento sobre a realidade para negar a possibilidade de sua existncia. Tanto o ceticismo quanto os no-cognitivism os (acognosticism o) podem ser reduzidos ao agnosticism o. A no ser que seja im possvel conhecer o real, desnecessrio ab rir m o d a p o ss ib ilid a d e de q u a lq u e r co n h ec im en to cognitivo ou d issuad ir os hom ens de fazer qua lquer ju lgam en to sobre ele.
O ag no stic ism o ilim itad o u m a fo rm a su til de d o g m atism o . Ao d e sc a r ta r co m p le tam en te a p o ss ib ilid ad e de q u a lq u e r co n hec im en to do que real, ele fica no ex trem o opo sto d a posio que a f irm a o conh ec im en to to ta l d a realidade. A m bos os ex trem os so d og m ticos. A m bos so posies obrigatrias re lativas ao co nhec im en to , c o n tra s ta n te s com a p o s io de p o d e rm o s saber ou sabermos algo sobre a re alidade. S im plesm ente no h p rocesso alm da onis- cincia que p e rm ita fazer afirm aes to abrangen tes e ca tegricas. O ag no stic ism o d o g m atism o n e g a tivo, e todo negativo p ressu p e u m positivo . Logo, o ag n o s tic ism o to ta l n o ap en as a u to d es tru tiv o ; au tod iv in izado r. A penas a m en te on isc ien te p o d eria ser to ta lm en te ag n stica , e h om en s fin itos ev identem en te n o so on iscincien tes. A ssim , a p o r ta p e r m an ece a b e rta p a ra a lg u m co nh ec im en to d a rea lidade. A rea lid ad e no incognoscvel.
FontesJ. C o i.i.ix s, God in m odem philosophy, c a p s . 4 e 6 .A. F lb v , T h eo lo g y a n d fa ls ific a tio n , A. Fi.fw, et
al., o rg s., New essays in philosophical theology.
R. ?UKt,Agnosticism.R. G a r r k .ol - La g r a n c k , God: his existence and his nature.S. H a c k et t , The resurrection oftheism. P a r te 1.D. H uM t,A le tte r fro m a g e n tle m a n to h is fr ie n d
in E d in b u rg h , e m E. C. M o ssn er, e t a l., o rgs.,The letters o) David Hume.
___ , Investigao sobre o entendimentohumano.
___ , Dilogos sobre a religio natural.T. H. H u x l e y , Collected essays, v. 5.
I. K a n t , Crtica da razo pura.L. S te p h e n , An agnostics apology.J. W a r d , Naturalism and agnosticism.
A g o stin h o . Bispo de H ipona (354-430), fez sua pe re grinao espiritual do paganism o grego, passando pelo d u a l is m o m a n iq u e s ta , p e lo n e o p la to n is m o (v. P l o t i n o ) , e fina lm en te ao te sm o cristo . Sua m ente priv ileg iada e en o rm e produo literria fizeram dele um dos telogos m ais influen tes do cristian ism o.
F e razo. Com o todos os g rand es filsofos c ris tos, A gostinho lu tou p a ra en ten der a relao en tre f e razo. M uitos apologistas ten d em a destacar a n fa se de A gostinho sobre a f e m enosprezar sua va lo rizao da razo na p roclam ao e defesa do evangelho (v. f i d e s m o ; a p o l o g t i c a p r e s s u p o s i c i o n a l ) . E nfatizam passagens em que o b ispo de H ipona colocou a f a n tes d a razo, com o: Creio p a ra que possa en ten der . Na verdade, A gostinho disse: P rim eiro crer, depois en tend er (Do Credo, 4). Pois, se desejam os saber e depois crer, no conseguirem os nem saber nem crer (Do evangelho de Joo, 27.9).
Se tom adas sep arad am en te , essas passagens p o d e m p a s s a r u m a im p re s s o e r r n e a a c e rc a do en sinam ento de A gostinho sobre o papel da razo na f crist. Agostinho tam bm acreditava que h um sen tido em que a razo vem an tes da f. N ingum rea lm ente acred ita em algum a coisa an tes de achar que ela m erece crd ito . L ogo, necessrio que tudo em que se acred ita seja aceito depois de o p ensam en to ab rir o cam inho (O livre-arbtrio, 5).
Ele p ro c la m o u a s u p e r io r id a d e d a razo q u a n do escreveu:
impossvel que Deus odeie em ns o atributo pelo qual nos fez superiores aos demais seres vivos. Devemos, portanto, recusar-nos a crer de um modo que no receba ou no busque razo para nossa crena, uma vez que sequer poderamos crer se no tivssemos almas racionais (Cartas, 120.1).
Agostinho chegou a u sar a razo pa ra elaborar um a prova da ex istncia de Deus . Em O livre-arbtrio, ele arg um en tou que existe algo acim a da razo h u m an a (Livro ii, cap. 6). Alm de po d er provar que Deus ex iste, a razo til no en tendim ento do contedo da m e n sagem crist. Pois, com o pode algum crer naquele que proclam a a f se (p ara no m encionar ou tros fatores) no en tender a prpria lngua daquele que a p ro clam a? (Citado em Przyw ara, p. 59).
Agostinho tam bm usou a razo para rem over ob- jees f crist. R eferindo-se a algum que tin ha d vidas an tes de se converter, escreveu: razovel que
-
21 Agostinho
ele ten h a p e rg u n ta s sobre a re s su rre i o dos m o rtos an tes de ser a d m itid o aos sac ram en to s c r is to s . A inda m ais,
talvez tam bm lhe deva ser perm itido insistir em discusses prelim inares quanto questo proposta a respeito de Cristo por que ele teria vindo to tard iam ente na histria m undial, bem como a algum as perguntas srias, s quais todas as outras so subordinadas (Cartas 120.1,102.38).
Em resum o, Agostinho acreditava que a razo h u m ana era usada antes, du ran te e depois de algum d epositar sua f no evangelho.
D eus. Para A gostinho, Deus au to-existente , o e u sou o q u e s o u . Ele substnc ia no -c riad a , im utvel, e te rn a , indivisvel, e ab so lu tam en te perfeita (v. D e u s , n a t u r e z a d e ) . D eus n o u m a fo ra im p esso a l (v. p a n t e s m o ) , m as sim um Pai pessoal. Na verdade, ele tripessoal: Pai,Filho e Espirito Santo (v.t r i n d a d e ) . N essa substnc ia e te rn a no h nem confuso de pessoas nem diviso de essncia.
D eus o n ip o ten te , o n ip re se n te e on isc ien te . e te rn o , ex isten te an tes do tem p o e a lm do tem po. ab so lu ta m e n te tra n s c e n d e n te em relao ao u n i verso e, ao m esm o tem p o , im a n e n te em to d a p a rte dele com o sua causa su s ten tad o ra . A pesar de o m u n do te r um com eo (v. k a l a m , a r g u m e n t o c o s m o l g i c o ) , n u n ca houve um tem p o em que Deus no ex istisse . Ele u m Ser N ecessrio que n o d e p en d e de n ad a , m a s de q u em tu d o m a is d e p en d e p a ra sua e x is t n cia: Sendo , po is , D eus su m a essn c ia , is to , sen do em su m o g ra u e, p o r ta n to , im u tve l, p d e d a r o ser s co isas que c rio u do n a d a ... (A c id ad e de Deus, livro xii, cap. 2).
Origem e natureza do universo. Segundo Agostinho, o m undo foi criado ex nihilo (v. c r i a o , p o s i e s s o b r e a ) , do nada. A criao vem de Deus m as no parte de Deus. ... [tu] criaste do nada o cu e a terra, duas realidades, um a grande e outra pequena. S tu existias, e nada mais (Confisses, 12.7). Assim, o m undo no eterno. Teve comeo, no no tem po, m as com o tem po. Pois o tem po com eou com o m undo. No havia tem po antes do tempo. Q uando lhe perguntaram o que Deus fazia antes de criar o m undo do nada, Agostinho retrucou que, j que Deus era o autor de todo o tem po, no havia tem po antes que ele criasse o m undo. No foi criao no tem po m as a criao do tem po que Deus executou nos seus atos iniciais (ibid., 11.13). Ento Deus no faz ia (agia, criava) nada antes de criar o m undo. Ele apenas era Deus.
0 m u n d o tem poral e m utvel, e a p a rtir dele p o d em os ver que deve haver um ser e te rn o e im utvel.
O cu e a te rra existem e, atravs de suas m ud anas e variaes, p roclam am que foram criad os .
No en tanto ,
...o que foi criado e [...] existe,em si nada tem que antes no existisse. Do contrrio, sofreria mudanas e variaes. E todaS as coisas proclamam que no se fizeram por si mesmas (ibid., 11.4).
M ilagres. J que Deus fez o m un do , pode in te rv ir nele (v. M i l a g r e ) . Na verdade o que ch am am os n a tu reza apenas a m aneira em que Deus age regularm ente na sua criao.
... Quando isso acontecer de modo regular, por assim dizer, como o rio sem fim das coisas que passam, fluem, permanecem e depois passam das profundezas para a superfcie, da superfcie para as profundezas, dizemos que natural. Quando, porm, tais acontecimentos se apresentam aos observadores em desusada mudana para servir de aviso aos homens, ento, os denominados milagres (A Trindade, livro ui,cap.6).
Mas at as a tiv idades regu lares da n a tu reza so obras de Deus. Pois:
Quem faz elevar-se a umidade dos cachos de uva atravs da raiz da videira e produz o vinho, seno Deus que d o crescimento, quando o homem planta e rega? (1 Cor 3,7). Mas quando, a uma indicao do Senhor, a gua se converte em vinho de modo instantneo, at os insensatos concordam que houve interveno direta do poder divino (Jo 2,9). Quem cobre os arbustos de folhagem e flores, seno Deus? Contudo, quando floresceu a vara do sarcedote Aaro, foi a divindade que se fez ouvir deste modo inusitado ao homem que duvidava (Nm 17,8). (ibid., livro m, cap. 5)
Seres hum anos. A hu m an idad e, com o o resto do m undo , no eterna. Os h u m ano s foram criados por Deus e so sem elhan tes a ele. So com postos de um corpo m orta l e de u m a alm a im orta l (v. i m o r t a l i d a d e ) . Depois da m orte , a a lm a ag uarda a reunio com o corpo num estado de alegria consciente (cu) ou de to rm ento contnuo (in ferno). Essas a lm as sero reu n idas com seus corpos na ressurreio. E, depois da ressurreio, o corpo, agora to ta lm en te sujeito ao esp rito, viver em perfeita paz po r to d a a e te rn id ad e (Da doutrina crist, 1.24).
Para A gostinho, a alm a, ou a d im enso espiritual h u m an a de m aio r valor que o corpo. Na verdade, na d im enso esp iritua l que a h u m an id ad e feita im agem e sem elhana de Deus. P ortan to , os pecados da alm a so piores que os pecados do corpo.
-
22Agostinhovoluntariamente todas as coisas por amor ao objeto amado; justia 0 amor servindo apenas ao objeto amado,e portanto governando corretamente; prudncia 0 amor distinguindo astutamente entre 0 que 0 impede e 0 que 0 ajuda.
Assim,
temperana 0 amor mantendo-se inteiro e incorrupto para Deus; justia 0 amor servindo apenas a Deus, e assim governando bem tudo mais, ainda que sujeito ao homem; prudncia 0 amor fazendo a distino correta entre 0 que 0 impulsiona em direo a Deus e 0 que 0 impede de faz-lo (Da moral da Igreja Catlica, p. 15).
O objeto desse amor Deus, 0 Bem Supremo. Ele amor absoluto, e a obrigao absoluta do ser humano expressar amor em todas as reas de atividade, pri- meiro para com Deus e depois para com 0 prximo.
H ist ria e destino . No clssico cidade de Deus Agostinho elaborou a primeira grande filosofia crist da histria. Ele disse que h duas cidades (reinos), a cidade de Deus e a cidade do homem. Essas duas cidades tm duas origens diferentes (Deus e Satans), duas naturezas diferentes (amor a Deus e amor prprio, orgulho) e dois destinos di- ferentes (cu e inferno).
A histria caminha para 0 fim. Quando 0 tempo ter- minar, haver a vitria definitiva de Deus sobre Sata- ns, do bem sobre 0 mal. O mal ser separado do bem, e os justos sero ressuscitados com corpos perfeitos para viver no estado perfeito. O paraso perdido no comeo da histria ser reconquistado por Deus no final.
A histria de Deus. Deus est realizando seu pia- no soberano, e no final derrotar 0 mal e aperfeioar 0 homem.
Assim, temos um a resposta ao problema de por que Deus teria criado os homens, quando antecipadamente sa- bia que estes iriam pecar. Foi porque tanto neles quanto por meio deles ele poderia revelar quanto merecia a culpa do homem e quanto a graa de Deus perdoou, e tambm por- que a harmonia de toda a realidade que Deus criou e con- trola no pode ser deformada pela perversa discrdia dos que pecam (A cidade de Deus, 14).
Avaliao. Agostinho foi criticado por muitas coi- sas, mas talvez mais por aceitar acriticamente 0 pen- sarnento platnico e neoplatnico (v. P lo t ix o ). Ele at mesmo rejeitou algumas das primeiras posies pia- tnicas no seu livro Retrataes, escrito perto do fim da sua vida. Por exemplo, por algum tempo ele acei- tou a doutrina platnica da preexistncia da alma e da lembrana das idias da existncia prvia.
O m al. O mal real, mas no uma substncia (v. mal, problema do). A origem do mal a rebelio das criaturas livres contra Deus (v. .mal, problema do). Na verdade, 0 pecado de tal forma um mal voluntrio que no pecado a no ser que seja voluntrio (Da verdadeira religio, 14). claro que Deus criou boas todas as coisas e deu s suas criaturas morais 0 bom poder do livre-arbtrio. Mas 0 pecado surgiu quando ... [a vontade] peca, ao se afastar do bem imutvel e comum, para se voltar para 0 seu prprio bem parti- cular, seja exterior, seja interior (O livre-arbtrio, li- vro 11, cap 19).
Ao escolher 0 bem menor, criaturas morais trouxe- ram a corrupo s substncias boas. Assim, por natu- reza, 0 mal a falta ou a privao do bem. O mal no existe sozinho. Como um parasita, 0 mal existe apenas como a corrupo das coisas boas.
Pois quem pode duvidar de que a totalidade do que se chama mal nada mais que corrupo? Males diferentes po- dem, sem dvida, receber nomes diferentes; mas 0 mal de to- das as coisas em que qualquer mal seja percebido a corrupo (Contra a epstola dos maniqueus,38).
O mal a ausncia do bem. como podrido para uma rvore ou ferrugem para 0 ferro. Corrompe coi- sas boas sem ter natureza prpria. Dessa maneira Agostinho respondeu ao dualismo da religio maniquesta que afirmava que 0 mal era uma realida- de igualmente eterna, mas oposta ao bem.
Etica. Agostinho cria que Deus amor por natu- reza. J que a obrigao humana devida ao Criador ser semelhante a Deus, as pessoas tm 0 dever moral absoluto (v. moralidade, natureza absoluta da) de amar a Deus e ao prximo, feito imagem de Deus.
Pois esta a lei do amor que foi imposta pela autoridade divina: Amars ao prximo como a ti mesmo, mas Amars ao Senhor teu Deus de todo 0 teu corao e de toda a tua alma e de todo 0 teu entendimento (Da doutrina crist, 1.22).
Logo, devemos concentrar todos os pensamentos, a vida e a inteligncia naquele de quem derivamos tudo que temos. Todas as virtudes so definidas em termos desse amor.
Agostinho disse:
Quanto virtude que nos conduz vida feliz, afirmo que a virtude nada mais que 0 perfeito amor a Deus. A qudru- pia diviso da virtude considero ser extrada de quatro for- mas de amor: [...] Temperana 0 amor se entregando in- teiram ente ao que ama; perseverana 0 amor sofrendo
-
23 Albright, W illiam F.
Infelizm ente, houve o u tras idias p latnicas que A g o s tin h o ja m a is re p u d io u . E n tre e las e s ta v a o dua lism o platnico do corpo e da alm a em que os seres h u m an os so alm as e apenas tm corpos. Jun ta m e n te com isso , A g ostin ho d e fend ia u m a posio m uito asctica dos desejos fsicos e do sexo, m esm o den tro do contexto do casam ento .
Alm disso, a epistem ologia de Agostinho sobre as idias inatas foi contestada por em piristas m odernos (v. H u m e , D a v i d ) , ass im com o su a p o sio sob re o ilum in is-m o. E m esm o alguns testas qu estio n am se o argum ento dele p a ra provar a ex istncia de Deus a p a rtir da verdade realm en te funciona, perg u n tan d o p o r que a M ente abso lu ta necessria com o fonte da verdade absoluta.
At algum as pessoas que aceitam o tesm o clssico de A gostinho destacam sua incoerncia em no d e m o n stra r a un ic idad e (singu laridade) das idias d iv inas. Isso resu ltou d a aceitao das idias com o form as p la tn icas irredutivelm en te sim ples, m uitas das quais no so possveis n um a substnc ia sim ples (v. u m e m u i t o s , p r o b l e m a d e ) . Esse p rob lem a foi resolvido m ais tarde p o r Toms de A quino com a d istino e n tre realidade e po tencia lidade na ordem da existncia (v. m o n i s m o ) , que foi expressa n a d o u trin a da analogia.
FontesA g o st in h o , Contra a epstola dos inaiiiqueus.
_____, Da doutrina crist.
_____, A cidade de Deus.
_____, Confisses.
_____, Cartas.
_____ ,D a verdadeira religio.
_____, 0 livre-arbtrio.
_____, Da predestinao.
_____, Do credo.
_____ , Do evangelho de Joo.
_____ ,D a m oral da Igreja Catlica.
_____,.4 Trindade
N . L . G e is l l r , What Augustine says.
E . Przy'.vara,.4/i Augustine synthesis.
A lbrigh t, W illiam F. Foi ch am ad o o deo dos a r q ue log o s b b licos am erican o s . F ilho de m is s io n rio s m e to d is ta s e n a sc id o no C hile (18 9 1 -1 9 7 1 ), o b te v e s e u d o u to r a d o n a U n iv e r s id a d e Jo h n H o p k in s em 1916. E n tre suas p rin c ip a is o b ras e s to From S toneA ge to C hn stiam ty [Da Id ad e da P edra ao cristian ism o], A rchaeology an d the religion o f Israel [/I arqu eo log ia e a re lig io d e Israel], The
a rch aeo log y o fP a les tin e an d the B ib le [A a rq u eo lo g ia da P alestina e a B b lia ] , Yahweh an d th eg o d s o f C anaan [Iav e os deuses d e C an a], The excavation at Tell BeitM irsim [A escavao em TellB eitM irsim ] e A rchaeology o fP a le s t in e [A rqu eolog ia d a P a lestina], E screveu v rio s a rtig o s e u so u su a in flu n c ia com o e d ito r do Bulletin o f the A m erican S choo l o f O riental R esearch [B oletim da E scola A m erican a de P esqu isas O rientais] de 1931 a 1968. Foi u m dos lderes da E scola A m erican a de P esq u isas O rien ta is ( e a p o ) p o r q u a se 40 an o s.
Im portncia apologtica. A influncia de Albright na apologtica b b lica foi en orm e e refletiu sua m u d an a do libera lism o teolgico p a ra o co n se rv ad o rism o pro testan te . Seu trab a lho d e stru iu m uitas p ro p o sies de crticos liberais antigos (v. C r t i c a d a B b l i a ) , que agora podem ser cham adas pr-arqueolgicas. Por m eio de suas pesqu isas e descobertas , A lbright chegou a vrias confirm aes vitais:
Autoria m osaica do Pentateuco.O contedo do Pentateuco , em geral, muito mais anti
go que a data em que foi editado; novas descobertas continuam a confirmar a preciso histrica da literatura antiga em cada um de seus mnimos detalhes. Mesmo quando necessrio admitir adies posteriores ao ncleo original da tradio mosaica, essas adies refletem o crescimento normal das instituies e prticas antigas ou o esforo feito por escribas posteriores de salvar o mximo possvel das tradies existentes sobre Moiss. Assim, puro exagero da crtica negar o carter substancialmente mosaico da tradio do Pentateuco (Archaeology ofPalestine, p. 225).
A historicidade dos patriarcas.As narrativas dos patriarcas, de Moiss e do xodo, da
conquista de Cana, dos juizes, da monarquia, do exlio e da restaurao, todas foram confirmadas e ilustradas de um modo que eu pensava ser impossvel h 40 anos (Christian century, p. 1329).
Excetuando-se alguns obstinados entre os eruditos mais velhos, no h quase nenhum historiador bblico que no esteia impressionado com o acmulo rpido de dados que apoiam a historicidade substancial da tradio patriarcal(Biblical periodA).
Abrao, Isaque, e Jac no parecem mais personagens isoladas, muito menos reflexos da histria israelita posterior; agora eles parecem mais verdadeiros filhos da sua poca, com nomes semelhantes aos de seus contempor-
-
24Albright, William F.
Datao do nt. Na minha opinio, cada um dos livros do Novo Testamento foi escrito por um judeu batizado entre os anos 40 e 80 do sculo 1 a d. (muito provavelmente entre 50 e 75 d.C.) (ibid., p. 359).
J podemos dizer com certeza que no h mais base slida para datar qualquer livro do Novo Testamento de- pois de meados de 80 d.C., duas geraes completas antes da data entre 130 e 150 proposta pelos atuais crticos mais radicais do Novo Testamento (Recent discoveries in Bible lands, p. 136).
No artigo Descobertas recentes na Palestina e 0 evangelho de so Joo , Albright argumentou que a evidncia em Qumran mostra que os conceitos, ter- minologia e mentalidade do evangelho de Joo prova- velmente pertenceram ao incio do sculo 1 (v. Novo Testamento, datao do).
Concluso. Do ponto de vista apologtico, 0 emi- nente e respeitado arquelogo apia com firmeza as colunas mestras da apologtica histrica. Com algu- ma incerteza sobre a transmisso do registro oral do Pentateuco, Albright acredita que as evidncias atuais e descobertas previstas demonstraro que ambos os testamentos so historicamente precisos. As datas des- ses livros so antigas. A profecia preditiva do at e a historicidade das narrativas a respeito de Cristo e da igreja primitiva no n t so validadas pela arqueologia moderna (v. Atos, historicidade de; B b lia , evidncias da;D O C U M E N T O S D O N0V0 T E S T A M E N T O , CO N FIA B ILID A D E D O S ; N0V0 T E S T A M E N T O , H IS T O R IC ID A D E D 0 ) .
FontesW . F. A lb r ig h t , Archaeology and the religion o f
Israel.
_____ , R e ce n t d is co v e r ie s in P a le s tin e an d
th e G o sp e l o f St. Jo h n , e m W . D. Davies e D.
Daube, o rgs., The background o f the New
Testament and its eschatology.
_____ , T o w ard a m o re co n s e rv a t iv e v iew ,
em c t (18 d e ja n e iro d e 1963)._____ , E n t re v is ta , Christianity Century (19 / 11/1958).___ , Recent discoveries in Bible lands.___ , The biblical period.___ , The archaeology o f Palestine.___ , From Stone Age to Christianity. . H . V o s , A lb r ig h t W il l i a m Foxw e ll, em W .
E lw e l l , org ., Enciclopdia histrico-teolgica
da igreja crist.
neos, deslocando-se pelo mesmo territrio, visitando as mesmas cidades (principalmente Har e Naor), praticando os mesmos costumes que seus contemporneos. Em outras pala- vras, as narrativas patriarcais tm um ncleo histrico com- pleto, embora seja provvel que uma longa transmisso oral dos poemas originais e sagas em prosa posteriores que subjazem no texto atual de Gnesis tenha refratado consideravelmente os eventos originais (Archaeology o f Palestine, p. 236).
Evidncia a fa v o r do a t . No resta dvida de que a arqueologia j confirmou a historicidade substancial da tradio do Antigo Testamento (A rchaeology and the religion o f Israel, p. 176).
A medida que 0 estudo crtico da Bblia for mais e mais influenciado pelo novo e rico material relacionado ao Ori- ente Mdio antigo, veremos 0 aumento gradual do respei- to pela signifcncia histrica de passagens negligencia- das ou rejeitadas atualmente no at e no n t (From Stone Age to Christianity, p. 81).
Os rolos do mar Morto provam
conclusivamente que devemos tratar 0 texto consonantal da Bblia hebraica com 0 maior respeito e que a emenda li- vre de passagens difceis a que muito eruditos crticos mo- dernos se entregaram no pode mais ser tolerada (Recent discoveries in Bible lands [Recentes descobertas nas terras bblicas],p. 128).
Graas s descobertas de Qumran, 0 Novo Testamento prova ser na verdade 0 que acreditavam que fosse: 0 ensinamento de Cristo e de seus seguidores imediatos entre 25 e 80 d.C (From Stone Age to Christianity, p.23).
Os dados bblicos histricos so muitos mais precisos que as idias dos estudantes crticos modernos, que tendem sistematicamente a errar para 0 lado da crtica exacerbada (.Archaeology o f Palestine, 229).
A unidade de Isaas. Sobre a teoria antiga e popular de que havia dois autores de Isaas (v. Deutero-Isaas), Albright fez a seguinte objeo numa entrevista:
Pergunta:Muitas passagens em Isaas 40-66 denunci- am a idolatria como um mal atual em Israel (e.g., 44.9-20; 51.4-7; 65.2,3; 66.17). Como elas podem ser conciliadas com a teoria de autoria ps-exlica, j que a idolatria certamente no foi reintroduzida em Jud aps a restaurao..?
Resposta: Eu no creio que qualquer parte de Isaas 40-66 seja posterior ao sculo vi a.C. (Toward a more conservative view, p. 360).