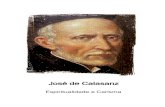DA ESCOLA PÚBLICA PARANAENSE 2009 · A evidência é o que salta aos olhos, é aquilo de que não...
Transcript of DA ESCOLA PÚBLICA PARANAENSE 2009 · A evidência é o que salta aos olhos, é aquilo de que não...
O PROFESSOR PDE E OS DESAFIOSDA ESCOLA PÚBLICA PARANAENSE
2009
Versão Online ISBN 978-85-8015-054-4Cadernos PDE
VOLU
ME I
PERSPECTIVAS DE AVALIAÇÃO FRENTE À EDUCAÇÃO MATEMÁTICA
Autora: Iozodara Telma Branco De George1
Orientador: Luiz Roberto Calliari2
Resumo
Este artigo tem como objetivo discutir a trajetória a ser considerada quando se
pensa na avaliação, principalmente na disciplina de Matemática. Assim verificamos
por meio da nossa prática e da pesquisa em diversos referenciais bibliográficos, que
existem diferentes modos de conceber a matemática e que estes padrões
influenciam o fazer matemática, o fazer pedagógico em matemática e,
consequentemente, a forma de conceber os processos avaliativos.
Palavras-chave: Educação Matemática; Avaliação em Matemática; Avaliação
Escolar.
1 Introdução
Vivemos uma época em que há uma forte tendência de se automatizar tudo,
em função da melhoria na qualidade de vida do ser humano. De uma maneira ou de
outra, mais cedo ou mais tarde, todos os setores da sociedade absorvem esta
automatização e com a escola não poderia ser diferente. Mas não é só a tecnologia
que promove o dinamismo na sociedade, visto que tudo é reflexo das mudanças
sociais, políticas e culturais. Conforme Abramowicz (1994), constantemente somos
chamados a julgar, analisar e apreciar o que nos cerca. Nesse contexto, o homem
1 Professora PDE 2009 da Secretaria de Estado da Educação do Paraná. Mestranda no Programa de
Pós-Graduação em Educação em Ciências e em Matemática. 2 Professor de Matemática da Universidade Tecnológica Federal do Paraná.
também mudou, tornando-se mais crítico, ativo e participativo naquilo que diz
respeito à sua vida.
Esses fatores implicam um compromisso inevitável, trazem para a escola,
qual seja: o de formar cidadãos para fazer parte dessa sociedade pós-moderna,
diferente, flexível e capaz de interagir com outras sociedades. O que caracteriza
uma sociedade pós-moderna, a nosso ver, é a presença do trabalho colaborativo e
coletivo, como estratégia para formação do conhecimento.
Também a escola, segundo Rabelo (1998), precisa transformar-se em um
sistema no qual a essência não esteja pré-determinada, mas propicie desequilíbrios,
interações e transformações. Assim sendo, entendemos que tal concepção
justificaria a importância da avaliação escolar no ambiente educacional, pois ela está
diretamente relacionada aos resultados esperados pela Proposta Político
Pedagógica da escola.
Cumpre destacar que a avaliação realizada no ambiente escolar exerce
influência em toda a futura vida profissional e social do cidadão. Nessa perspectiva,
o conceito de avaliação é "um juízo de qualidade sobre dados relevantes, tendo em
vista uma tomada de decisão" (LUCKESI, 1995, p. 69).
Entretanto, parece não ser bem esse conceito e modelo de avaliação que
encontramos reveladas na prática escolar. Muitos professores fazem da avaliação
um instrumento de punição, de autoritarismo e de imposição. E, em se tratando da
matemática escolar, esses fatores são muito mais evidentes. Entendemos que
avaliar não pode ser sinônimo desses termos, nem como momento exclusivo de
atribuição de notas. Avaliar requer inúmeros objetos e não pode limitar-se ao
rendimento escolar.
Nesse sentido, a proposta do presente artigo é expor os resultados de uma
pesquisa desenvolvida com professores de matemática do Instituto de Educação
Professor Erasmo Pilotto, no município de Curitiba, onde se pretendeu discutir e
investigar as concepções e instrumentos de avaliação presentes nas práticas
pedagógicas dos professores, com o objetivo de suscitar elementos na busca por
novas soluções para esta demanda. Para tanto, objetivamos auxiliar os professores
de matemática a repensar suas práticas avaliativas a partir de discussão/reflexão
das concepções que norteiam a avaliação, destacando as que estão presentes nos
atuais processos.
Para isso, partimos do cotidiano da escola, pressupondo que esse ambiente
pode ser considerado um espaço essencial para a formação da cidadania. Tendo em
vista a compreensão do significado social do espaço escolar na construção do
cidadão, acreditamos que pode-se buscar concepções avaliativas coerentes com o
momento histórico, se entendermos que as atualmente utilizadas estão
ultrapassadas.
2 Breve Histórico da Avaliação
Desde a antiguidade grupos primitivos realizavam ritos de passagem da
infância para a fase adulta, ou seja, quando a criança chegava à determinada idade
precisava vivenciar determinados rituais para confirmar sua maturidade. Também na
Grécia, em Esparta, a educação chamada de agogê era dirigida pelo Estado. O bom
soldado era avaliado pela preparação física e por meio de jogos e competições
atléticas (o salto, a corrida, a natação, o lançamento de disco e dardo) (LIMA, 2008).
Conforme o referido autor, em Atenas, Sócrates, fundador da filosofia
ocidental, utilizava como metodologia questionamentos, respostas e
questionamentos. Seu discurso era chamado de maiêutica, ou a procura da verdade.
O filósofo conduzia a pessoa ao conhecimento e a induzia a entrar em contradição
levando-a, posteriormente, a concluir que seus conhecimentos eram limitados. A
auto-reflexão, expressa no nosce te ipsum - "conhece-te a ti mesmo" - põe o Homem
à procura das verdades universais que são o caminho para a prática do bem e da
virtude.
Na idade média, o bom aluno era aquele que obedecia cegamente a
autoridade do professor. As avaliações eram, em sua maioria, orais e o aluno
repetiam integralmente o que tinha aprendido. O professor valorizava a atenção e a
memória (LIMA, 2008).
Segundo Chesterton (2002), no século IX ao século XVI, entre os
educadores escolásticos, o padre italiano Santo Tomás de Aquino (1225 -1274)
combatia a autoridade e veneração aos professores tradicionais.
As universidades surgiram nessa época e os estudos concentravam-se na
formação de professores.
Aproximadamente entre fins do século XIII e meados do século XVII, há
uma divisão do movimento humanístico em duas vertentes: o humanismo cristão e o
humanismo pagão. No humanismo cristão, a orientação era que se devia atender às
necessidades individuais dos alunos e a preparação para a vida era de acordo com
suas virtudes e aptidões.
No humanismo pagão, acirrava-se o individualismo humano sem vínculos
com valores transcendentais. A idéia original da renascença era que o homem não
chegaria ao conhecimento através de operações puramente dialéticas, mas sim
através de interrogações dos seus fenômenos, descobrindo as causas e os
segredos. A partir desse momento estava instituída a ciência moderna (LIMA, 2008).
O religioso italiano e educador da Universidade de Pádua, Vittorino da Feltre
(1378-1446), conhecido também por Rambaldoni, pioneiro no campo educacional,
estimulava seus alunos a praticar atividades físicas grupais, permitindo o alarido e a
alegria. Defendia a educação integral e a harmonia entre o corpo e o espírito. Feltre
fazia a avaliação por meio de leitura em voz alta com pronuncia correta e tom de voz
moderado (LIMA, 2008).
Por volta de 1439, o alemão João Gutenberg (1390-1468), contribuiu para a
tecnologia da impressão e da tipografia. Essa invenção colaborou para a ampliação
das atividades intelectuais, pois, multiplicaram-se as produções dos livros, criaram-
se as bibliotecas e esses se tornaram acessíveis à população.
Na mesma época, outro matemático, o francês René Descartes (1596-1650),
considerado o pai da matemática moderna, destacou-se pelos seus estudos entre
álgebra e a geometria, criando a geometria analítica e o sistema de coordenadas
cartesianas. Algumas das regras de Descartes continuam sendo utilizadas até os
dias de hoje.
René Descartes objetivou estabelecer um método universal inspirado no rigor matemático. Resumidamente, eis as 4 regras fundamentais do método cartesiano, antes da busca de uma verdade: 1. A primeira regra é a evidência: não admitir “nenhuma coisa como verdadeira se eu não a reconheço evidentemente como tal.” Em outras palavras, evitar toda precipitação e preconceitos e só ter por verdadeiro o que for claro e distinto, que eu não tenha a menor oportunidade de duvidar. A evidência é o que salta aos olhos, é aquilo de que não posso duvidar, apesar de todos os meus esforços. É o que resiste a todos os assaltos de dúvida. 2. A segunda regra é a análise: dividir cada uma das dificuldades em tantas parcelas quantas forem possíveis. Decompor o objeto de estudo em mínimas partes para seu conhecimento íntimo e posterior reconstrução.
3. A terceira regra é a síntese: concluir, ordenando meus pensamentos. Começar pelos objetos mais simples e mais fáceis de conhecer para, aos poucos, ascender, como por meio de degraus, aos mais complexos. Essa regra pressupõe a ordenação das partes segundo o critério da relação constante entre elas, de modo que possam ser comparadas com base na mesma unidade de medida. 4. A quarta regra é a da enumeração: devemos selecionar, exclusivamente, o que for necessário e suficiente para a solução de um problema, evitando as omissões. (PAULA, 2007).
As tendências pedagógicas que evidenciaram os problemas da educação
tiveram início no século XX.
2.1 A avaliação no âmbito nacional
A educação brasileira sofreu influências dos colonizadores. Os jesuítas
trouxeram um sistema educacional que avaliava com provas e exames e tinha
função de conversão dos nativos, considerados sem religião. Essa ordem religiosa
fundou escolas na Bahia, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco.
Com a expulsão dos jesuítas do Brasil, outras ordens religiosas como os
beneditinos, os franciscanos e as irmãs carmelitas, dedicaram-se à instrução
escolar.
Segundo Lima (2008), Marquês de Pombal, em 1792, impôs as “aulas
régias” que eram aulas avulsas, sustentadas pelo imposto pago pela colônia. O
ensino não era mais restrito à Igreja e sim ao Estado. Surgia o primeiro sistema de
ensino brasileiro.
Os cursos de nível superior foram criados no início do século XIX, devido à
presença da corte no Brasil e na segunda metade do século, surgiram os colégios
particulares, na maioria católicos. No final do século XIX, surgem os colégios
protestantes.
Para Lima (2008), a escola pública gratuita, leiga e obrigatória, surgiu em
1922, através do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, liderados por um
grupo de professores contrários ao elitismo na educação brasileira.
A Constituição Brasileira de 1937 prevê a educação e cultura:
Art 128 - A arte, a ciência e o ensino são livres à iniciativa individual e a de associações ou pessoas coletivas públicas e particulares. É dever do Estado contribuir, direta e indiretamente, para o estímulo e desenvolvimento de umas e de outro, favorecendo ou fundando instituições artísticas, científicas e de ensino. Art 129 - A infância e à juventude, a que faltarem os recursos necessários à educação em instituições particulares, é dever da Nação, dos Estados e dos Municípios assegurar, pela fundação de instituições públicas de ensino em todos os seus graus, a possibilidade de receber uma educação adequada às suas faculdades, aptidões e tendências vocacionais. O ensino pré-vocacional profissional destinado às classes menos favorecidas é em matéria de educação o primeiro dever de Estado. Cumpre-lhe dar execução a esse dever, fundando institutos de ensino profissional e subsidiando os de iniciativa dos Estados, dos Municípios e dos indivíduos ou associações particulares e profissionais. É dever das indústrias e dos sindicatos econômicos criar, na esfera da sua especialidade, escolas de aprendizes, destinadas aos filhos de seus operários ou de seus associados. A lei regulará o cumprimento desse dever e os poderes que caberão ao Estado, sobre essas escolas, bem como os auxílios, facilidades e subsídios a lhes serem concedidos pelo Poder Público. Art 130 - O ensino primário é obrigatório e gratuito. A gratuidade, porém, não exclui o dever de solidariedade dos menos para com os mais necessitados; assim, por ocasião da matrícula, será exigida aos que não alegarem, ou notoriamente não puderem alegar escassez de recursos, uma contribuição módica e mensal para a caixa escolar. Art 131 - A educação física, o ensino cívico e o de trabalhos manuais serão obrigatórios em todas as escolas primárias, normais e secundárias, não podendo nenhuma escola de qualquer desses graus ser autorizada ou reconhecida sem que satisfaça aquela exigência. Art 132 - O Estado fundará instituições ou dará o seu auxílio e proteção às fundadas por associações civis, tendo umas; e outras por fim organizar para a juventude períodos de trabalho anual nos campos e oficinas, assim como promover-lhe a disciplina moral e o adestramento físico, de maneira a prepará-la ao cumprimento, dos seus deveres para com a economia e a defesa da Nação. Art 133 - O ensino religioso poderá ser contemplado como matéria do curso ordinário das escolas primárias, normais e secundárias. Não poderá, porém, constituir objeto de obrigação dos mestres ou professores, nem de freqüência compulsória por parte dos alunos. Art 134 - Os monumentos históricos, artísticos e naturais, assim como as paisagens ou os locais particularmente dotados pela natureza, gozam da proteção e dos cuidados especiais da Nação, dos Estados e dos Municípios. Os atentados contra eles cometidos serão equiparados aos cometidos contra o patrimônio nacional. (BRASIL, CONSTITUIÇÃO NACIONAL, 1937)
3
A divisão do curso secundário em ginasial e colegial surgiu no Estado Novo,
período de 1937 a 1945, fundado por Getúlio Vargas. Surgiram também o SENAI
3 Documento disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao37.htm>.
Acesso em 02 mar. 2011.
(Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) e o SENAC (Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial) que criaram o Ensino Profissional.
O Manifesto dos Educadores, de 1959, liderado por um grupo de
professores e intelectuais revelava uma insistente defesa da escola pública. Nesse
grupo destacamos Anísio Teixeira, Florestan Fernandes e Fernando Henrique
Cardoso.
O Movimento de Educação Popular, de 1960, liderado pelo educador Paulo
Reglus Neves Freire (1921-1997), era voltado para a educação do povo. Freire foi
um dos preconizadores da pedagogia crítica.
A primeira Lei de Diretrizes e Bases (LDB) é aprovada em 1961 e o
Conselho Federal de Educação, foi criado em 1962. A lei vem garantir o direito à
educação em todos os níveis e a autonomia para as universidades.
O Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL) foi criado através da Lei
N° 5.379, de 15 de dezembro de 1967, durante o regime militar. O movimento surgiu
com a intenção de alfabetizar adolescentes e adultos.
A LDB 4024/61 recebe uma nova versão em 1971 e mais recentemente
temos a LDB 9394/96 que inclui a educação infantil (creches e pré escolas) como
primeira etapa da educação básica.
Nos anos 1980, o Ministério da Educação lança o projeto TV Escola que visa
à formação de professores das escolas públicas do Ensino Fundamental. É um
avanço tecnológico, pois são disponibilizados para as escolas: televisões, vídeos,
fitas e inicia-se a introdução da informática.
É implantado em 1990, o Sistema Nacional da Educação Básica (SAEB),
coordenado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais e
contando com o apoio das Secretarias Estaduais e Municipais. O levantamento
efetuado pelo SAEB permite avaliar o desempenho dos alunos da Educação Básica.
Para o nível superior, é criado o Sistema Nacional de Avaliação de Cursos.
2.2 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e a Avaliação
A lei que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, Lei nº
9.394, de 20 de dezembro de 1996, contempla no art. 24, inciso V, o processo
avaliativo.
V – a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: a) avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais; b) possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar; c) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado; d) aproveitamento de estudos concluídos com êxito; e) obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos (BRASIL, LDB, 1996).
4
Observamos que a legislação prevê que a avaliação seja contínua e
cumulativa. O rendimento escolar deverá ser verificado em todo o processo, ou seja,
educação permanente. Tal reflexão manifesta mudanças nos procedimentos dos
educadores.
A avaliação deve apontar o grau de aprendizagem dos alunos, devendo ser
realizada para obter sobre o aluno uma informação mais abrangente em detrimento
de uma simples e pontual referência das provas.
3 Avaliação Escolar e Educação Matemática
A matemática escolar ainda se apresenta como uma das disciplinas mais
temidas, considerada difícil, e que mais reprova. Todos esses conceitos atribuídos à
disciplina de matemática são frutos de um modelo tradicional de educação e de uma
visão ultrapassada sobre o seu processo de ensino e de aprendizagem.
À guisa de exemplo, apresentamos o primeiro modelo de avaliação, a
concepção tradicional de ensino, pautada nos pressupostos epistemológicos,
empirista e racionalista. Nesse modelo, o conhecimento é visto como algo pronto e
acabado, o sistema de ensino e de aprendizagem é fechado, com base na
4 Lei disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/lei9394_ldbn1.pdf>. Acesso em 03
mar. 2011.
mensuração, efetuado por meio de testes e provas que são elaboradas pelo
professor com a função de selecionar/classificar os alunos. Para Becker (1993),
nesse modelo, centrado numa perspectiva empirista, os alunos são considerados
como folhas de papel em branco que precisam ser preenchidas.
Para o referido autor, o conhecimento é visto como o registro dos fatos
armazenados na memória ou como simples cópia do modelo real. A aprendizagem
por sua vez, é oriunda do registro acumulado, adquirido pelo indivíduo por meio da
transmissão das ideias organizadas logicamente pelo professor, visto como detentor
do conhecimento. Nesse contexto, a avaliação é entendida como instrumento para
medir o rendimento escolar.
Essa concepção de avaliação ainda impera em muitas escolas, visto que os
educadores julgam que sua ação educativa é a verdade absoluta e o resultado final
de seus procedimentos avaliativos definirá o sucesso/prêmio ou o fracasso/castigo
do aluno. Para Hoffmann (2005), essa evidência é comprovada, pois obteve relatos
de professores definindo avaliação como “... conjunto de sentenças irrevogáveis
sobre réu, em sua grande maioria, culpados” e “São Pedro: o que decide quem entra
(ou não) no céu!” (HOFFMANN, 2005, p.14).
Especificamente na disciplina de matemática, muitos educadores acreditam
que devem ser austeros, à medida em que encontram apoio no senso comum.
Em se tratando do curso de matemática, já há, no senso comum, uma crença de que ao professor é permitido ser “rigoroso” na avaliação. As reprovações não são, em geral, questionadas; parece que os alunos já esperam, com alguma naturalidade, um certo número de reprovações nas disciplinas de conteúdo especificamente matemático. Alias, entre os professores ocorre o mesmo fenômeno: e comum ouvir, já no início do semestre, comentários em que manifestavam as expectativas para suas turmas antes mesmo de conhecê-las melhor, apenas por resultados obtidos anteriormente em turmas nas quais houve um elevado número de reprovações (FISCHER, 2008, p.55).
Para Hoffmann (2005), esses professores avaliam seguindo os moldes que
aprenderam enquanto alunos. Nos modelos tradicionais as atividades matemáticas
eram trabalhadas com resultados imediatos. Os problemas eram
descontextualizados e os exercícios de fixação eram intermináveis listas de “contas”,
cuja função era somente dominar o algoritmo. Muitos desses alunos, hoje, são os
professores que estão em nossas escolas.
Recordamos que durante nossa escolarização, existiam as regras de como
tirar a “prova real” e a “prova dos nove”, princípios que supostamente deveriam fazer
parte apenas do nosso passado.
As provas, real e dos nove, eram dispositivos auxiliares para o aluno conferir seus cálculos. Na adição, por exemplo, tirava-se a “prova real”, somando-se novamente as parcelas, da esquerda para a direita ou de baixo para cima. A nova soma deveria ser igual à primeira. Para tirar a “prova dos nove”, que nem sempre era exata, somavam-se as parcelas uma a uma, tendo-se o cuidado de suprimir nove, cada vez que a soma resultasse nove ou mais, colocando-se o resultado sobre um traçinho horizontal; procedia-se do mesmo modo com o total, colocando-se o resultado debaixo do traço. Se os resultados fossem iguais, supunha-se que a conta estivesse certa (PINTO, 2008, p. 55).
Cabe salientar que entendemos todas as dificuldades dos professores, se
considerarmos, principalmente, as características da escola pública em relação à
estrutura física, curricular, organizacional e à formação continuada. Apesar disso, o
foco da atenção não pode estar somente nos conteúdos que serão trabalhados e/ou
na preocupação excessiva em superá-los no tempo previsto. Para Branco (2005),
faz-se necessário um novo olhar sobre a matemática escolar, uma reorganização na
maneira de se ensinar e avaliar, ou seja, que o professor de Matemática passe a
estimular situações problemas e a considerar os registros escritos e manifestações
orais de seus alunos, os “erros” de raciocínio e cálculo do ponto de vista do
processo de aprendizagem.
Lins (2004) defende que é necessário que aproximações sejam feitas. É
imperativo que o conhecimento matemático contribua para que o indivíduo tenha
compreensão da realidade e, dessa forma, seja percebido como uma ciência do
mundo, da rua, da escola.
O ensino de Matemática tem (...) que desempenhar um papel onde esteja presente o desejo de uma sociedade mais justa e humana. Este papel está vinculado ao resgate da Matemática presente em qualquer codificação da realidade, vivenciada pelos alunos e pelo professor, e a análise dos
diferentes significados e das diferentes formas e de ordenar as idéias na apropriação desse conhecimento (BURIASCO, 1999, p.47).
Assim, a perspectiva interacionista ou sócio-interacionista da avaliação
encontra apoio no conhecimento construído por meio do pensamento, da ação e da
linguagem do sujeito em sua interação com o real e a aprendizagem resulta da
interação entre as estruturas do pensamento e o meio.
Nessa concepção de avaliação, o professor é visto:
[...] como co-responsável pelos resultados obtidos pelo aluno, fornecendo-lhe várias informações sobre o processo educativo, permitindo-lhe emitir análise sobre o desenrolar da seqüência e de acordo com essa análise, imprimir as modificações pertinentes para ajustá-las às características, capacidades e necessidades dos alunos, possibilitando fazer e refazer novos caminhos em sua trajetória cognitiva para uma aprendizagem mais significativa. O conhecimento matemático passa pelo respeito aos processos de pensamento do aluno, pela adequação do conteúdo à vivência do educando, pela possibilidade de o aluno errar e poder encontrar a resposta correta pela sua própria ação, pelo encorajamento a decisões que o aluno tenha que tomar em face de um problema e pela explicitação de suas próprias idéias (ALMEIDA & DARSIE, 2009, p. 09).
Tais autoras nos possibilitam entender que uma concepção de Avaliação e
de Educação Matemática deve ser concebida de forma mais dinâmica e significativa,
bem como a formação de professores deve propiciar a estes a necessidade de rever
as próprias concepções e adotar novas posturas nas formas de avaliar, visando
sempre integrar-se ao trabalho pedagógico que assegure a aprendizagem os alunos,
em busca da superação das práticas tradicionais de ensino. Ou seja,
[...] significa que o professor precisa dispor de práticas pedagógicas que promovam o ensino do aprender a pensar, desenvolvendo as capacidades cognitivas, afetivas, éticas e sociais dos alunos e também instigando a construção e reconstrução de conceitos, valores, habilidades e atitudes (ALMEIDA & DARSIE, 2009, p.09).
Da mesma forma, de acordo com Buriasco e Soares (2008), defendemos
que a avaliação da aprendizagem matemática seja um processo de investigação,
uma atividade compartilhada por alunos e professores, de caráter dinâmico,
sistêmico e contínuo, no qual todos os instrumentos utilizados devem ser vistos
como instrumentos de investigação, de modo que possibilitem verificar o modo como
os alunos resolveram as situações propostas.
A avaliação da matemática deve evidenciar, entre outras coisas,
- o modo como o aluno interpretou sua resolução para dar a resposta; - as escolhas feitas por ele para desincumbir-se de sua tarefa; - os conhecimentos matemáticos que utilizou; - se utilizou ou não a matemática apresentada nas aulas; e - sua capacidade de comunicar-se matematicamente, oralmente ou por escrito (BURIASCO, 2004, p. 37).
A avaliação em matemática, deveria se preocupar com essas atitudes, que
só poderiam ser detectadas mediante a observação atenta do professor. Como se
trata de observar atitudes, o professor não deve assumir uma postura passiva; pelo
contrário, deve sempre dialogar com seus alunos para melhor compreender seus
processos de pensamento e intervir quando necessário.
Os contextos e caminhos trilhados pelos professores, na maioria das vezes,
são áridos e distantes de questões sociais e políticas, porém, acreditamos que os
processos avaliativos não estão dissociados da subjetividade pessoal. Cada
professor desenvolveu formas de avaliação de acordo com seus conhecimentos,
suas atitudes sociais, seus referenciais teórico-metodológicos, “nosso
posicionamento sobre o que avaliar em matemática decorre de nossas convicções
teóricas a respeito da matemática, da matemática escolar e do papel desse
conhecimento na vida dos indivíduos” (NOGUEIRA e PAVANELLO, 2006, p.39).
É necessário, então, que os professores de matemática pensem, pesquisem
e discutam sobre isso.
4 Organização da pesquisa
A partir da fundamentação teórica apresentada até aqui, pretendemos
investigar junto aos professores de matemática do Instituto de Educação Professor
Erasmo Pilloto, do município de Curitiba, quais as concepções e instrumentos de
avaliação que estavam presentes em suas práticas pedagógicas. A escolha da
escola em questão, diz respeito ao local onde a pesquisadora é professora de
matemática do quadro próprio do magistério.
Do ponto de vista dos procedimentos técnicos, utilizamos a pesquisa
participante, na tentativa de analisar a realidade da avaliação escolar e,
posteriormente, promover reflexões para os participantes da investigação acerca de
suas práticas. A pesquisa participante insere-se na pesquisa prática, categorização
proporcionada por Demo (2000), para fins de sistematização. Para esse autor, a
pesquisa prática “é ligada à práxis, ou seja, à prática histórica em termos de usar
conhecimento científico para fins explícitos de intervenção; nesse sentido, não
esconde sua ideologia, sem com isso necessariamente perder de vista o rigor
metodológico” (DEMO, 2000, p. 21). Encontramos na pesquisa participante um
componente político que nos permite debater a importância do processo de
investigação tendo por perspectiva a intervenção na realidade social.
Para uma primeira tentativa de contato com os professores da escola, foram
encaminhados mensagens (e-mail) para 15 (quinze) professores de matemática do
estabelecimento, convidando-os a participar da pesquisa de estudos sobre a
avaliação escolar e a avaliação na disciplina de matemática. Porém, não houve
retorno de nenhum dos e-mails.
Como a abordagem através dos e-mails não apresentou resultado, o passo
seguinte foi ir ao colégio conversar pessoalmente com os professores para
apresentar a proposta de pesquisa. Nesse contato, foram entregues 15 (quinze)
entrevistas para diagnóstico e conhecimento desses professores no que se refere ao
tema de pesquisa. Do total entregue, retornaram para a pesquisadora apenas 4
(quatro) entrevistas.
Gráfico 1: Número de professores que responderam o diagnóstico. Fonte: Diagnóstico da autora, 2010.
Dos questionários que retornaram, destacamos que 25% dos professores
investigados possuem entre 6 a 10 anos de magistério e 75% possui mais de 10
anos. Todos possuem pós-graduação e participam frequentemente dos cursos de
formação continuada, ofertados pela Secretaria Estadual de Educação. Com relação
à leitura, 50% dos professores disseram que leem pelo menos um livro por mês, os
outros 50% disseram que não têm tempo para leitura.
Gráfico 2: Número de anos em que os entrevistados atuam como professores. Fonte: Diagnóstico da autora, 2010.
11
4
0
2
4
6
8
10
12
Não responderam Responderam
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
6 a 10 anos mais de 10 anos
Dentre as respostas dos professores consultados, quando questionados
sobre seu entendimento sobre avaliação no contexto escolar, apresentamos: “avaliar
deve diagnosticar, acompanhar o processo de construção do conhecimento” (V.B.);
“processo de construção do conhecimento contínuo” (F.B.); “meio de diagnosticar se
o aluno aprendeu efetivamente o conteúdo” (S.R.); “a avaliação é utilizada para
verificar se houve aprendizado dos conteúdos ministrados (...) de forma significativa”
(K.B.S.). Nos relatos dos professores, pudemos perceber que o termo “diagnóstico”
está diretamente ligado ao termo avaliação, termo também utilizado por 100% dos
entrevistados para definir em outra questão sua concepção de avaliação. Da
mesma forma, 100% dos entrevistados informaram que utilizam mais que um
instrumento para avaliação.
Após essa ação, foi explicado, novamente, para a equipe pedagógica da
escola o motivo da implementação do projeto e solicitado agendamento de horário
para conhecermos os professores de matemática a fim de apresentarmos a proposta
de trabalho. Após esse encontro, apenas 2 (duas) professoras manifestaram
interesse em participar do projeto.
A primeira docente é do quadro próprio do magistério e atua como
professora de matemática há mais de vinte anos. Neste ano letivo atua nas séries
iniciais do Ensino Fundamental. A professora comentou que solicita aos seus alunos
que tenham caderno quadriculado e individual, e que uma das formas de aproximar
a participação efetiva dos pais ou responsáveis é convidá-los a „vistar‟ os cadernos
semanalmente. Nas segundas-feiras, confere individualmente as atividades e
assinaturas nos cadernos, registrando no livro de chamada aqueles que não fizeram
as atividades solicitadas e que, posteriormente, informa aos pais. Tais ações entre
outras, nos levaram a perceber que aparentemente a professora ainda assume uma
postura mais tradicional do ponto de vista das pedagogias contemporâneas, porém
demonstra dedicação e procura sempre variar sua prática, para que seus alunos
aprendam os conteúdos.
A segunda professora foi aprovada no último concurso estadual para
docentes, porém, ainda não assumiu. Neste ano foi contratada por meio do
Processo Seletivo Seriado (PSS). Atua no Ensino Fundamental e Médio no turno da
tarde. No período da manhã, é professora em estabelecimento de ensino da rede
particular. Informou que para diversificar suas regências procura desenvolver aulas
práticas e realiza atividades avaliativas onde busca “fazer recuperação somente dos
conteúdos, nunca da nota” (K.B.S.). Procura fazer uma „leitura‟ das avaliações para
perceber se atingiu os objetivos, pois acredita que dessa forma está se auto
avaliando. Segundo ela “o professor deve repensar sua prática se mais de 50% da
turma não se saiu bem na avaliação” (K.B.S.). Nesse sentido, pudemos perceber
que essa professora possui uma postura mais coerente do ponto de vista das
pedagogias contemporâneas.
Nas reuniões com as professoras, foi sugerida a leitura de dois autores que
discutem Avaliação5 e procuramos fazer uma breve leitura de alguns capítulos. Nos
encontros, ainda, percebemos que outros temas são bastante frágeis e necessitam
discussão e fundamentação para apoio das professoras. A seguir, destacamos
alguns temas que julgamos pertinentes:
Avaliação de matemática na formação de professores – As professoras
entendem que este tema é frágil e carece de abordagem tanto na formação
inicial quanto na continuada.
Uso de tecnologias nas aulas de matemática – Neste quesito, as professoras
disseram que suas iniciativas para esse uso, somente ocorre caso busquem
“por sua conta”, pois afirmaram nunca ter participado de nenhum movimento
nesse sentido ofertado pela instituição provedora.
História e Cultura afro e indígena - Também desconheciam essa iniciativa.
Durante a discussão desse tema, a pesquisadora (autora deste artigo)
explicou que a partir de 10 de março de 2008, em todos os estabelecimentos de
ensino é obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena.
§ 1o O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos
aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil. § 2
o Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos
indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo
5 Textos dos livros: HOFFMANN, Jussara M.L. Avaliação: mito e desafio - uma perspectiva
construtivista. Educação e Realidade, Porto Alegre, 2005; e BOTH, Ivo José. Avaliação planejada, aprendizagem consentida: é ensinando que se avalia, é avaliando que se ensina. IBPEX, Curitiba, 2008.
escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras (BRASIL, LEI.11645,2008)
6
Neste item, discutiu-se sobre os etnoconhecimentos que os alunos possuem
e como o professor pode utilizá-los em sala de aula. Foram, também, sugeridos
temas que podem ser abordados tais como: sistema de numeração; o artesanato; a
construção de moradias e armadilhas; a contagem do tempo; entre outros desses
povos.
Tendências que permeiam a Educação Matemática.
Livros paradidáticos e como seria sua abordagem em sala de aula.
Nesse momento, a pesquisadora apresentou as professoras alguns
referenciais7.
Inclusão – Este assunto foi sugerido pela professora K.B.S., pois a mesma
possui alunos surdos e encontra dificuldades em encontrar referenciais de estudo
que a auxiliem nos processos avaliativos e metodológicos na disciplina de
matemática.
Essas diferentes temáticas abordadas sempre trouxeram elementos da
avaliação ao contexto, o que culminou na discussão dos vários instrumentos que
podem ser utilizado pelo professor para a avaliação. Nesses processos avaliativos o
que espera-se que os valores quantitativos não se sobreponham aos qualitativos, ou
seja, que o valor numérico “fale mais alto” que o conhecimento. Assim, é necessário
que a avaliação ocorra de diversas formas.
A seguir, apresentaremos alguns instrumentos de avaliação que foram
discutidos com as professoras:
- Prova objetiva: é aquela em que o professor elabora atividades com múltipla
escolha. Questões com perguntas rápidas e respostas curtas. O aluno responde
individualmente. É conhecida popularmente como prova de marcar “xis”.
- Prova dissertativa: é a avaliação que o professor elabora questões e o aluno expõe
6 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11645.htm>. Acesso
em 20 mai 2011. 7 DEWDNEY, A. K. 20000 léguas matemáticas. Um passeio pelo misterioso mundo dos números.
Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 2000; DOXIADIS, Apostolos. Tio Petros e a conjectura de Goldbach. Um romance sobre os desafios da Matemática. São Paulo: Editora 34, 2001; GUEDJ, Denis. O teorema do Papagaio. Um thriller da história da matemática. São Paulo, Cia das Letras, 1999; ENZENSBERGER, Hans Magnus. O diabo dos números. Porto Edições Asa, 1998. e POSKITT Kjartan. Isaac Newton e sua maçã. São Paulo: Cia das Letras, 2001.
seus pensamentos, individualmente, através de um texto. O professor pode avaliar a
organização e a interpretação do aluno.
- Prova em grupo: pode ser objetiva ou dissertiva. Diferencia-se das anteriores
porque o grupo de alunos pode conversar e trocar idéias para responder às
questões.
- Relatório individual: é um texto que o aluno produzirá após o professor explicar o
conteúdo. O professor define o tema e orienta quanto à estrutura.
- Trabalho em grupo: é conhecido também como trabalho em equipe. O professor
define o tema e as questões. Intenciona-se que esta atividade tenha sido trabalhada
de maneira igual por todos os participantes do grupo.
- Auto-avaliação: pode ser de forma oral ou escrita. O professor indica o roteiro e
orienta sobre o que o aluno deve discorrer.
- Observação: o professor elabora as atividades, observa e anota como os alunos
desenvolvem as atividades.
- Debate: é uma discussão sobre um determinado tema escolhido pelo professor,
que é o mediador. Os alunos são avaliados ao expressar suas opiniões.
- Seminário: é uma exposição oral do grupo sobre um determinado assunto. O
professor orienta a fonte a ser pesquisada e a duração da apresentação. Poderá
solicitar relatório individual dos alunos.
- Portfólio: é o conjunto ou coletânea de trabalhos escolares efetuados durante um
período. Objetiva uma reflexão crítica sobre o processo escolar, visando ao avanço
de conhecimentos. Pode ser chamado de pasta ou arquivo.
- Estudo de caso: é o método que utiliza a abordagem da investigação. O professor
é considerado o tutor ou o facilitador, auxiliando os alunos no processo de resolução
do caso, mas não ensina aquilo que tradicionalmente denominamos de "matéria".
São os alunos que, na sua tentativa de resolver o caso, aprendem a matéria.
- Entrevista: é o diálogo entre duas ou mais pessoas (o entrevistador - o professor e
o entrevistado - o aluno) em que as questões elaboradas pelo entrevistador têm a
função de obter informações do entrevistado. As perguntas e as respostas são
apresentadas de forma oral.
- Questionário: as questões são apresentadas por escrito e o aluno terá que
responder de forma oral ou escrita. É um instrumento de investigação que tem como
função obter informações de interesse do investigador/professor.
A cada tema indicado pelas professoras, a pesquisadora buscava referenciais
que pudessem respaldar as professoras em suas fragilidades, sempre aproximando
os temas identificados do tema da pesquisa, afinal entendemos que a avaliação
perpassa por todos os elementos que compõem a aula.
5 Algumas Considerações
O objetivo desta pesquisa era auxiliar os professores de matemática a
repensar suas práticas avaliativas a partir de discussão/reflexão das concepções
que norteiam a avaliação, destacando as que estão presentes nos atuais processos.
Assim, dentro do que foi possível desenvolver, consideramos que
conseguimos atingir nosso objetivo, pois as falas das professoras após as
discussões dos referenciais apresentaram uma mudança considerável. Até porque
para realização de projetos como este, necessita-se ajustar-se à dinâmica do
estabelecimento, buscando adequar o projeto a partir de situações inusitadas, como
ausência dos professores, reuniões estabelecidas pela gestão da escola, além de
prever agendamento para os encontros com os professores.
Com isso, é preciso ressaltar que é fundamental repensar a estrutura e o
funcionamento da escola, se realmente desejamos propor uma avaliação nos
modelos da Educação Matemática. A estrutura escolar ainda esta presa a: número
excessivo de alunos; professores “itinerantes”, pois não se mantém nas mesmas
turmas, muito menos na mesma escola; um currículo predefinido que deve ser
cumprido até o final do ano, muitas vezes, atropelando a real produção de
conhecimento pelo aluno, entre outros fatores. A atribuição de notas continua sendo
o método estabelecido pela gestora, fato que igualmente impede que se renovem
muitos modelos vistos como tradicionais para avaliação.
Percebe-se que as professoras carecem de constante formação, pois os
momentos de discussão eram sempre bastante ricos, da mesma forma que elas
apresentavam suas angustias e frustrações. Entendemos que muito ainda há por
pesquisar. Afinal, será que ocorreu alguma mudança nas práticas dessas
professoras em suas aulas de matemática após as discussões? Será que
mantiveram suas concepções de avaliação? Será que permaneceram na mesma
escola? Esses seriam alguns elementos para dar continuidade a esta pesquisa.
Enfim, identificamos que há a necessidade de mais investigações que
propiciem a discussão deste tema tão polêmico, permitindo que os professores
tenham oportunidade de conhecer outras práticas, discutir novas possibilidades,
perceber suas limitações e abrir para novos modelos avaliativos.
6 Referenciais
ABRAMOWICZ, M. Avaliação Educacional e Qualidade de Ensino: uma reflexão crítica. Universidade - A Busca da Qualidade, v.1, n.3, 1994.
ALMEIDA, L. I. M. V.; DARSIE, M. M. P. Concepções de Professores em Avaliação e Educação Matemática: Encontros e Desencontros. In: IX Educere -
PUCPR, Curitiba, 2009.
BECKER, F. A epistemologia do professor: o cotidiano da escola. Petrópolis. RJ. Vozes, 1993.
BRANCO, E. S. O significado e o papel do “erro” na educação matemática. Disponível na internet via WWW. URL: <http://egui.blogspot.com/>. Publicado em 01/10/2005. Arquivo capturado em 13 de julho de 2010.
BRASIL, Constituição Federal de 1937. Disponível na internet via WWW. URL: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao37.htm>. Arquivo capturado em 02 março 2011.
BRASIL, Lei LDB 9394/1996. Disponível na internet via WWW. URL: <http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/lei9394_ldbn1.pdf>. Arquivo capturado em 03 março de 2011.
BRASIL, Lei 11645/2008. Disponível na internet via WWW. URL:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11645.htm>. Arquivo capturado em 20 maio de 2011.
BOTH, I. J. Avaliação planejada, aprendizagem consentida: é ensinando que se avalia, é avaliando que se ensina. Curitiba: IBPEX, 2008.
BURIASCO, R. L. C. Avaliação em Matemática: um estudo das respostas de alunos e professores. 1999.233f. Tese (Doutorado em Educação)-Universidade Estadual Paulista, Marília, 1999.
BURIASCO, R. L. C. de. Análise da produção escrita: a busca do conhecimento escondido. In: ROMANOWSKI, J. P.; MARTINS, P. L. O.; JUNQUEIRA, S. R. A. (orgs.) Conhecimento local e conhecimento universal: a aula, aulas nas ciências
naturais e exatas, aulas nas letras e nas artes. Curitiba: Champagnat, 2004.
BURIASCO, R. L. C. e SOARES, M. T. C. Avaliação de sistemas escolares: da classificação dos alunos à perspectiva de análise de sua produção matemática. In: VALENTE, W. R. Avaliação em Matemática: História e perpectivas atuais. Campinas: Papirus, 2008. 101-142.
CHESTERTON, G.K. Santo Tomás de Aquino. Biografia. Tradução e Notas de Carlos Ancêde Nougué. Rio de Janeiro: Edições Co-Redentora, 2002.
DEMO, Pedro. Metodologia do Conhecimento Científico. São Paulo: Atlas, 2000.
DEWDNEY, A. K. 20000 léguas matemáticas. Um passeio pelo misterioso mundo dos números. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 2000;
DOXIADIS, Apostolos. Tio Petros e a conjectura de Goldbach. Um romance sobre
os desafios da Matemática. São Paulo: Editora 34, 2001;
ENZENSBERGER, Hans Magnus. O diabo dos números. Porto Edições Asa, 1998.
FISCHER, M. C. B. Os formadores de professores de Matemática e suas práticas avaliativas. In: VALENTE, W. R. Avaliação em Matemática: História e perspectivas
atuais. Campinas: Papirus, 2008.
GUEDJ, Denis. O teorema do Papagaio. Um thriller da história da matemática. São Paulo, Cia das Letras, 1999;
HOFFMANN, J. Avaliação: mito e desafio: uma perspectiva construtivista. Porto Alegre: Mediação, 2005.
LIMA, J. R. O processo histórico da avaliação. Disponível na internet via WWW.
URL: <http://www.artigonal.com/educacao-online-artigos/o-processo-historico-da-avaliacao-435698.html>. Publicado em: 02/06/2008. Arquivo capturado em 13 de julho de 2010.
LINS, R. C. Matemática, monstros, significados e educação matemática. In: BICUDO, Maria A. Viggiani; BORBA, Marcelo de Carvalho (Orgs.). Educação matemática: pesquisa em movimento. São Paulo: Cortez, p. 92-120, 2004.
LUCKESI, Cipriano C. Avaliação da aprendizagem escolar. São Paulo: Cortez,
1995.
NOGUEIRA, C. M. I.; PAVANELLO, R. M. Avaliação em Matemática: Algumas Considerações. Estudos em Avaliação Educacional. São Paulo, v. 17, n. 33, p. 29-41, 2006.
PAULA, Everton. Pequeno dicionário de filosofia. René Descartes. Disponível na
Internet via WWW. URL: <http://www.unifran.br/blog/profEverton/?action=d3d31446a793743680c65030e6a43434d3d366b30a819d87&post=a75445f40bfe30ac47496849d79f8aae97ffe511&area=8714a6d4ff41ed1289d0b5c17a0be56b592ba7f2>. Publicado em 2007. Arquivo capturado em 11 de fevereiro de 2010.
PINTO, N. B. Cultura escolar e práticas avaliativas: uma análise das provas de matemática do exame de admissão ao ginásio. In: VALENTE, W. R. Avaliação em Matemática: História e perspectivas atuais. Campinas: Papirus, 2008. 39-74.
POSKITT Kjartan. Isaac Newton e sua maçã. São Paulo: Cia das Letras, 2001.
RABELO, E. Avaliação: novos tempos, novas práticas. Petrópolis, RJ: Vozes, 1998.























![[Michelson borges] Duvidar para crer](https://static.fdocuments.net/doc/165x107/55ca8968bb61ebc44c8b457b/michelson-borges-duvidar-para-crer.jpg)