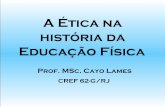Curso ETICA NA AVALIAÇÂO.docx
-
Upload
maria-cristina-ferreira-cagnin -
Category
Documents
-
view
228 -
download
5
Transcript of Curso ETICA NA AVALIAÇÂO.docx
TICA NA AVALIAO:O IMPORTANTE FAZER A DIFERENA!
TICA NA AVALIAO:O IMPORTANTE FAZER A DIFERENA!
INTRODUO
A idia da construo de mapas conceituais vem da necessidade da apresentao de um texto, utilizando de metodologia criativa e atravs das novas tecnologias. Isto tem colaborado para alcanar maior motivao e interao entre professor e aluno na Avaliao da Aprendizagem e tem feito muita diferena em sala de aula.Para cursos EAD ou palestras, so muito teis para uma maior explanao e melhor cognio.Os mapas conceituais so teis para a elaborao de material didtico emHipermdia, cuja estruturao foi baseada na teoria de aprendizagem, podem ser usados recursos como som, imagem, texto, para servir de ligao entre os conceitos existentes e as novas informaes apresentadas como pontes cognitivas, fazendo ligao entre o conceito que o aluno j possui e os novos que ele precisa saber. ( Moreira, 1993, p.14 ).O objetivo principal elencar vrios temas organizados em mapas conceituais, de forma que a informao e o conhecimento sejam difundidos em ambiente digital com aplicao prtica por meio de software livre.
1. MAPA CONCEITUAL: CONCEITUAO, IMPORTNCIA E EXEMPLIFICAO
A idia da construo de mapas conceituais vem da necessidade da apresentao de um texto, utilizando de metodologia criativa e atravs das novas tecnologias. Isto tem colaborado para alcanar maior motivao e interao entre professor e aluno.Para cursos EAD ou palestras, so muito teis para uma maior explanao e melhor cognio.Os mapas conceituais so teis para a elaborao de material didtico emHipermdia, cuja estruturao foi baseada na teoria de aprendizagem, podem ser usados recursos como som, imagem, texto, para servir de ligao entre os conceitos existentes e as novas informaes apresentadas como pontes cognitivas, fazendo ligao entre o conceito que o aluno j possui e os novos que ele precisa saber. ( Moreira, 1993, p.14 ).O objetivo principal elencar vrios temas organizados em mapas conceituais, de forma que a informao e o conhecimento sejam difundidos em ambiente digital com aplicao prtica por meio de software livre.
1.1 MAPAS CONCEITUAIS : ORIGEM, CONCEITOS E TIPOS
A construo de mapas conceituais surgiu na dcada de 1960 com as teorias de David Ausubel, a primeira criao foi desenvolvida por Novak em pesquisa na universidade de Cornell em 1972.Foi constatado que os alunos decoram definies e na hora de por em prtica no conseguem fornecer a devolutiva do contedo estudado; j com esta tcnica, gera uma aprendizagem mais ativa e atraente, na qual se pode organizar as idias com maior facilidade.O mapa conceitual obriga o aluno a relacionar os conceitos e no somente memorizar, alm de ser uma forma de avaliao.Os esquemas coloridos e muitas vezes divertidos dos mapas conceituais, representam um conjunto de conceitos interligados numa estrutura hierrquica proposicional, auxiliam docentes universitrios e alunos nas relaes entre conceitos de um contedo aos quais deve ser dado maior nfase.Os mapas podem tornar-se muito complexos e requererem um bom tempo e muita ateno para sua construo, mas eles so teis na organizao, aprendizagem e demonstrao do que voc sabe algum tpico particular.
2. BUSCANDO OS FUNDAMENTOS TERICOS
Mapas conceituais so [...] diagramas hierrquicos indicando osconceitos e as relaes entre esses conceitos (MOREIRA; BUCHWEITZ, 1993, p.13).Propostos por Novak, tendo por fundamento a teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel, so considerados uma ferramenta ou instrumental interessante para organizar e representar o conhecimento, pois evidenciam por meio de proposies, ou enunciaes elucidativas as conexes estabelecidas entre idias-chave (NOVAK, 2003).Unidimensionais, quando compostos por listagem de conceitos dispostos verticalmente, ou bidimensionais, quando compostos por listagem deconceitos dispostos vertical e horizontalmente (MOREIRA; MASINI, 2001), os mapas conceituais podem ser propostos de variadas formas, de maneira que cada um deles apenas a traduo de um momento daquele que aprende na interao com o objeto do conhecimento.Nos mapas, os conceitos so apresentados no interior de caixas oualguma forma geomtrica, enquanto as relaes entre eles so especificadas por linhas s quais so agregadas frases explicativas (Figura 1), que procuram evidenciar relaes proposicionais significativas. Em conseqncia, para serem representados carecem de trs elementos: conceito, proposio e palavras de enlace (ONTORIA et al., 1999) Uso dos mapas conceituais no ensino. Como uma ferramenta de aprendizagem, o mapa conceitual til para o estudante, por exemplo, para:fazer anotaesresolver problemasplanejar o estudo e/ou a redao de grandes relatriospreparar-se para avaliaesidentificando a integrao dos tpicos.
Para os professores, os mapas conceituais podem constituir-se poderosos auxiliares em suas tarefas rotineiras, tais como:ensinando um novo tpico: Na construo de mapas conceituais, os conceitos difceis so clarificados e podem ser arranjados em uma ordem sistemtica. O uso de mapas conceituais pode auxiliar os professores manterem-se mais atentos aos conceitos chaves e relaes entre eles. Os mapas podem auxili-lo a transferir uma imagem geral e clara dos tpicos e suas relaes para seus estudantes. Desta forma torna-se mais fcil para o estudante no perder ou no entender qualquer conceito importante.Reforar a compreenso: o uso dos mapas conceituais refora a compreenso e aprendizagem por parte dos alunos. Ele permite a visualizao dos conceitos chave e resume suas inter-relaes.Verificar a aprendizagem e identificar conceitos mal compreendidos: os mapas conceituais tambm podem auxiliar os professores na avaliao do processo de ensino. Eles podem avaliar o alcance dos objetivos pelos alunos atravs da identificao dos conceitos mal entendidos e os que esto faltando.avaliao: a aprendizagem do aluno (alcance dos objetivos, compreenso dos conceitos e suas interligaes, etc.) podem ser testadas ou examinadas atravs da construo de mapas .
Figura 1:
3. MEU PROJETO COM A UTILIZAO DE MAPA CONCEITUAL
O mapa conceitual para mim em particular, um meio que passei a utilizar desde 2012 , como forma de organizar conceitos j aprendidos no final de cada bimestre, a fim de obter-se uma retomada.Quando a escola possui ferramentas multimdia eu utilizo os mapas atravs de software adequados, caso contrrio eu mesma o fao de forma manuscrita. Tenho observado que desta forma alm de atrair a ateno dos meus alunos, tambm tenho obtido um resultado bastante satisfatrio quanto a assimilao dos contedos propostos em sala de aula.Na escola onde trabalho, o livro didtico j prope o contedo atravs desta tcnica, ento os alunos j esto muito acostumados a esta nova ferramenta, inclusive em prova costumo utilizar para que completem com frases ou nmeros os espaos vazios nos quadrinhos interligados.Com esta tcnica tambm passei a utilizar como forma de avaliao, em que meus alunos em grupo, reproduziram o contedo Biomas apresentando assim o seu primeiro mapa conceitual.Portanto, as aulas ficaram mais interessantes e esta forma de avaliao propiciou a troca das avaliaes formais, provas objetivas escritas, listas de exerccios , por um mtodo mais divertido e eficaz.A tcnica dos mapas conceituais muito interessante e produtiva na avaliao da aprendizagem, alm de demonstrar a organizao do pensamento, leva o aluno a se auto-avaliar, diante de suas pesquisas e reflexes, podendo comparar a sua evoluo durante todo o processo de construo do conhecimento. Propicia a orientao e a explorao do que j sabem ou simplesmente focam conceitos tendo como ponto de partida para iniciar um novo contedo a ser trabalhado.
Figura 2:Um dos grupos do 6 ano , reproduziu o mapa conceitual para explicar as RELAES NA MATA ATLNTICA, utilizando o smartart , ferramenta encontrada no word.
Eles acharam esta nova metodologia muito divertida, inclusive a disciplina melhorou muito e agora s querem utilizar mapa conceitual em todas as aulas.OS MAPAS CONCEITUAIS NO CONTEXTO EDUCATIVO ATUALDiante do contexto da sociedade em que vivemos, a chamada Sociedade da Informao e do Conhecimento, podemos deduzir a necessidade de um novo paradigma educativo que atenda as suas demandas. Embora os mapas conceituais tenham surgido h mais de 30 anos, seu uso pedaggico nos parece bastante pertinente atualmente e ser cada vez mais adequado a este novo contexto.Foi buscando uma forma mais fidedigna para avaliar o processo de aprendizagem que o cientista norte-americano Joseph Novak [1] desenvolveu os mapas conceituais. Ao cri-los, Novak baseou-se na teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel, especificamente na premissa de que esta ocorre quando a tarefa de aprendizagem implica relacionar, de forma no arbitrria e substantiva (no literal), uma nova informao a outras com as quais o aluno j esteja familiarizado, e quando o aluno adota uma estratgia correspondente, para assim proceder (AUSUBEL, NOVAK e HANESIAN, 1983).Gonzlez (2008) nos afirma que o modelo emergente construtivista tem se mostrado muito mais adequado para liberar o potencial criativo dos alunos, facilitando a aprendizagem significativa, isto , uma aprendizagem oposta memorstica por recepo mecnica, que predominante ainda nos dias de hoje. Essa aprendizagem capacita os alunos para construrem o seu futuro de forma criativa e construtiva, sendo mais pr-ativos que reativos. No que se refere ao papel dos mapas conceituais nesse mbito, o autor complementa que o marco terico desenvolvido por Ausubel e por Novak constitui um slido apoio para o tratamento dos distintos problemas especficos de uma autntica reforma da Educao. E no seio desse marco que surgiram as poderosas ferramentas instrucionais como o mapa conceitual (GONZLEZ, 2008).E ENTO, O QUE UM MAPA CONCEITUAL?Quando nos vem em mente a palavra mapa logo associamos a uma representao de uma superfcie ou rea geogrfica, um caminho que pretendemos percorrer ou um roteiro que nos leva a algum lugar. Assim como um mapa geogrfico pode representar um espao fsico atravs das relaes entre lugares, o mapa de conceitos seria um roteiro de aprendizagem que representa o conhecimento atravs das relaes estabelecidas entre ideias ou conceitos. Ao construir um mapa, o aluno pode traar o seu prprio roteiro de acordo com as ideias que ele tem sobre um tema, a fim de esclarec-lo e chegar a domin-lo de acordo com as suas necessidades.Em outras palavras, o mapa conceitual uma ferramenta que ajuda alunos e professores perceber os significados da aprendizagem. Novak os define como ferramentas educativas que externalizam o conhecimento e melhoram o pensamento, tendo como objetivo representar relaes significativas entre conceitos na forma de proposies. Ausubel et al (1983) definem conceito como objetos, eventos, situaes ou propriedades que possuem atributos de critrios em comum e que designam mediante algum signo ou smbolo, tipicamente uma palavra com um significado genrico. Dois ou mais conceitos unidos por uma palavra de ligao forma a proposio. Entende-se por proposio uma ideia composta expressa verbalmente numa sentena, contendo tanto um sentido denotativo quanto um sentido conotativo, as funes sintticas e as relaes entre palavras (AUSUBEL et al, 1983).Desta forma, as diversas proposies compem os significados dos conceitos que so aprendidos, o que foi constatado por Novak durante o estudo que realizou e que o levou a criar esta ferramenta. Percebeu-se que os significados a cerca de um conceito construdo so um conjunto de conceitos relacionados em crescente ligao proposicional entre o conceito central e os conceitos relacionados a ele. E, ento, podemos dizer que um mapa conceitual um recurso esquemtico para representar um conjunto de significados conceituais includos numa estrutura de proposies (NOVAK e GOWIN, 1999). Por isso, esta construo feita geralmente a partir de uma pergunta de partida. No exemplo ilustrado abaixo foi construdo um mapa conceitual que respondesse O que so mapas conceituais? e procura sintetizar os conceitos que foram apresentados anteriormente:
Figura 3 : O que so mapas conceituais?
4. POR QUE MAPAS CONCEITUAIS?Muitas so as possibilidades de ser trabalhar pedagogicamente com os mapas conceituais. Para conhecermos como esto sendo usados propomos no instrumento da pesquisa de campo dez possibilidades de uso que foram baseadas, fundamentalmente, na teoria de Ausubel e de Novak. Os docentes consideraram as funes que utilizam, analisando se atingem os objetivos pretendidos e se obtm xito em aplic-las no processo de ensino e aprendizagem. Apresentamos ento as funes didtico-pedaggicas que foram abordadas no estudo, so elas:a. Apoio instrucional: neste caso os mapas podem ser usados pontualmente para dar uma instruo sobre uma atividade a ser executada ou para dar orientaes sequenciais sobre um determinado tema.b. Organizadores prvios: este conceito est presente na teoria da aprendizagem significativa de Ausubel (Ausubel et al, 1983) quando nos diz que o mais importante no ato de ensinar descobrir o que o aluno j sabe. Segundo Faria (1995) o objetivo usar o mapa para estabelecer uma ponte cognitiva entre as ideias disponveis pertinentes dos alunos e o novo material de aprendizagem. Ou seja, fundamental orientar o aluno para que ele faa as conexes das novas informaes ensinadas com conceitos relevantes estabelecidos em sua estrutura cognitiva.c. Desenvolvimento dos contedos: estamos de acordo com Faria (1995) quando nos coloca que o conhecimento no esttico e est sendo continuamente reconstrudo, medida que ele se envolve em novas experincias e reflete sobre as mesmas. Quando os mapas conceituais so construdos no incio em que um determinado tema ou contedo apresentado (quando so utilizados como organizadores prvios) e o mesmo revisado, repensado e reelaborado ao longo das aulas, podem revelar as mudanas ocorridas na estrutura cognitiva do aluno. Essas possibilidades permitem que o aluno e o professor conheam o processo de construo do conhecimento sobre o contedo ou tema em questo, podendo enriquec-lo, pois de acordo com Gonzlez (2008) aprendemos acrescentando novos conceitos estrutura existente, que por esta causa se modifica com o tempo. Enquanto se produz nova aprendizagem, esta se fortalece uma vez que se incorpora a um sistema j existente.d. Sntese dos contedos trabalhados: no final de uma aula ou de um curso, os mapas conceituais podem representar um resumo esquemtico do que foi aprendido, formado pelo nmero de ideias-chave de uma aprendizagem especfica.e. Compartilhar informaes: neste caso em especfico, nos referimos a possibilidade de disponibilizar o conhecimento que foi construdo para compartilh-lo. Esse modelo de conhecimento pode ser construdo atravs das outras funes didtico-pedaggicas aqui citadas e disponibilizado na Internet. Alguns softwares permitem que aps a construo do mapa seja possvel transform-lo em uma pgina web, numa imagem ou qualquer outro formato que possa ser enviado por correio eletrnico ou publicado num dirio digital. O Cmap Tools [2] , por exemplo, oferece um ambiente servidor em que os mapas podem ser armazenados e consultados de qualquer ponto da rede.f. Construo colaborativa em grupos do mesmo nvel de ensino e (7). Construo colaborativa com outras instituies de ensino: para ambos os casos, algumas ferramentas permitem que mapas possam ser construdos colaborativamente de forma sncrona ou assncrona. Os estudantes podem constru-lo presencialmente e tambm elaborar o mesmo mapa ao mesmo tempo com outros colegas.g. Avaliao: os mtodos tradicionais limitam-se a diagnosticar a recuperao dos conhecimentos armazenados na memria, sem estar na maior parte dos casos inter-relacionados nem hierarquizados, por no terem sido aprendidos significativamente (GONZLEZ, 2008). O mapa conceitual uma alternativa para uma avaliao coerente com a teoria da aprendizagem significativa, pois centrar-se no rendimento do aluno e na sua interveno na realizao de prticas que conectam sua aprendizagem com a experincia do mundo real (Gonzlez, 2008).h. Portflio: essa funo est relacionada com o uso do mapa para o desenvolvimento dos contedos. Utilizando as possibilidades de armazenamento de mapas conceituais de algumas ferramentas, alunos e professores podem acrescentar elementos e conceitos em um mapa e organiz-lo como portflio de aprendizagem. De acordo com S-Chaves (2004), esse instrumento traduz um conjunto de trabalhados produzidos num determinado perodo de tempo, proporcionando uma viso ampla do processo de construo da aprendizagem e modificaes na estrutura cognitiva desse aluno considerando os diferentes componentes do seu desenvolvimento cognitivo, metacognitivo e afetivo.i. Reflexo crtica: os alunos podem ser estimulados a refletir sobre o seu processo de pensamento, fazendo registros dirios a partir das experincias com os mapas elaborados. Segundo Novak e Gowin (1999) o pensamento refletivo o fazer algo de forma controlada, que implica levar e trazer conceitos, bem como junt-los e separ-los de novo. O ato de fazer e o refazer mapas conceituais pode auxiliar esse processo sobretudo se o compartirmos com outras pessoas.Essas funes no se excluem, a maioria delas pode ser utilizada conjuntamente ou mesmo em diferentes circunstncias de acordo com o contexto pedaggico e a necessidade do momento em que os mapas so aplicados. O interessante perceber quo rico o seu papel no processo de aprendizagem que seguramente se torna significativo.A construo de mapas no exige, obrigatoriamente, recursos tecnolgicos. Porm, diversos programas de computador de edio de mapa conceitual esto disponveis na Internet e potencializam o uso pedaggico dessa ferramenta suportado pelas TIC. Alm da possibilidade de alterar um texto, escrevendo, apagando e formatando com facilidade, utilizar uma ferramenta tecnolgica nos oferece uma infinidade de aplicaes atravs da Internet. Por exemplo, possvel construir um mapa conceitual colaborativamente tambm a distncia; podemos public-lo em servidores onde outras pessoas podem acess-lo e podemos export-lo como pgina web ou como uma imagem. Em um mapa conceitual podemos agregar aos conceitos imagens, vdeos, pginas web, textos, planilhas, apresentaes e, inclusive, outros mapas conceituais. Utilizando os buscadores de alguns programas, podemos encontrar outros mapas de acordo com o nosso interesse e podemos compartilhar o nosso. Um recurso interessante o de gravao: um mapa conceitual pode ser gravado desde o incio permitindo o acompanhamento posterior de todo o seu processo de construo. Alm disso, eles so facilmente armazenados, podendo ser organizados como portflios e visualizados de forma que permita acompanhar a evoluo da estrutura cognitiva do seu autor.Complementamos a estas possibilidades a seguinte afirmao de Juan de Pablos Pons: a evoluo da tecnologia, no teve como meta fins educativos. Esta, em si mesma, no significa uma oferta pedaggica como tal. O que acontece que sua validez educativa se sustenta no uso que os agentes educativos fazem dela (DE PABLOS, 2006). Com isso, buscamos retomar a utilizao das TIC atravs dos mapas conceituais acreditando que o uso eficiente que o professor faz destes recursos, contribui para que a instituio escolar solidifique a pertinncia do seu papel diante da demanda da chamada Sociedade da Informao e do Conhecimento.Nesse nterim, tambm abordamos algumas competncias de aprendizagem [3] que podem ser desenvolvidas a partir dessas funes didtico-pedaggicas dos mapas conceituais. Como por exemplo, a capacidade de investigar e buscar informaes e, subsequente a essa, a capacidade de analisar e sintetizar informaes; a capacidade de classificar e ordenar conceitos e a capacidade de estabelecer relaes definindo implicaes de causalidade entre conceitos e ideias que esto relacionadas entre si e com as competncias anteriores. Enfim, a capacidade de construir conhecimento e, consequentemente, a capacidade de externaliz-lo tambm fazem parte dos grandes desafios para a elaborao de mapas conceituais e do processo de aprendizagem.Para Gonzlez (2008) a avaliao dentro do novo paradigma educativo deveria centrar-se na capacidade de resolver problemas que o aluno demonstra, juntamente com o desenvolvimento de outras habilidades mais complexas. Como por exemplo, no mbito das TIC aplicadas educao, a capacidade de trabalhar colaborativamente e cooperativamente e a capacidade de utilizar ferramentas e recursos tecnolgicos que podem ser desenvolvidas conjuntamente atravs da construo digital de mapas.A capacidade de aprender a principal competncia a ser desenvolvida atravs da metodologia dos mapas. Haja vista que uma das obras mais conhecidas de seu criador, Joseph Novak, chama-se Aprender a aprender. Para Novak e Gowin (1999), estimular a aprendizagem significativa dos alunos tambm ajud-los a perceberem a natureza, o papel dos conceitos e as suas relaes, assim como elas se configuram em suas mentes e no mundo exterior.
Figura 4
Figura 55. DESTAQUES DO ESTUDO DESENVOLVIDOBuscando responder como e para qu os mapas conceituais esto sendo utilizados no Brasil, constatamos que embora eles tenham sido criados na dcada de 70, a sua utilizao no predominante na prtica pedaggica dos docentes brasileiros. Dado que correios eletrnicos foram enviados para instituies de ensino, autores de trabalhos dentro da temtica e listas de discusso sobre TIC e mapas conceituais aplicados em educao, no garantiram a grande participao de docentes que atendessem o critrio uso pedaggico dos mapas conceituais.Os docentes que declararam usar um software especfico para construir mapas conceituais esto usando o Cmap Tools (cerca de 80% deles). Esse dado vem de encontro com algumas das funes didtico-pedaggicas e competncias que foram consideradas pela maioria dos docentes, uma vez que nem todas as ferramentas disponveis permitem explor-las. A fcil utilizao dessa ferramenta permite o valor adicionado que supera a facilidade da aproximao ao mundo das novas tecnologias, por parte dos professores que, em geral, apresentam uma tendncia no muito entusiasta em relao aplicao da cultura das novas tecnologias em seu papel docente, por uma parte, devido a preconceitos e, de outra, a existncia de uma proverbial desconfiana para alcanar um grau de domnio aceitvel de uma ferramenta informtica (Gonzlez, 2008).Vimos ento que o uso de mapas no Brasil vem aumentando, sobretudo atravs de recursos tecnolgicos. Embora os recursos disponveis atualmente na Internet possam facilitar o trabalho entre diferentes nveis de ensino e colaborativamente com outras instituies, eles ainda so pouco explorados. Destacando-se ento, como dinmica de uso prevalecente, o trabalho em grupo no mesmo nvel de ensino e na mesma instituio.Partindo das funes didtico-pedaggicas sugeridas, destacamos que as competncias que esto diretamente relacionadas com a elaborao de mapas esto sendo consideradas significativamente pelos docentes. Complementamos que esto sendo usados principalmente para o desenvolvimento de competncias como: a capacidade de classificar e ordenar conceitos; a capacidade de analisar e sintetizar informaes e a capacidade de estabelecer relaes definindo implicaes de causalidade entre conceitos e ideias.Alm dessas, os docentes tambm consideram que atravs do uso dos mapas conceituais outras competncias podem ser desenvolvidas, tais como: a capacidade de utilizar ferramentas e recursos tecnolgicos, a capacidade de investigar e buscar informaes, a capacidade de construir conhecimento e a capacidade de aprender.Foi possvel afirmar que todas as competncias de aprendizagem que foram sugeridas nesta pesquisa esto sendo desenvolvidas atravs da utilizao de mapas conceituais. Assim como as funes didtico-pedaggicas a eles atribudas, os docentes declaram que todas elas so desenvolvidas em maior ou menor grau.Enfim, a teoria da aprendizagem significativa juntamente com os estudos que esto sendo realizados tm apresentado os mapas conceituais como uma metodologia de ensino promissora no contexto da Sociedade da Informao e do Conhecimento.Atualmente, um amplo quadro terico impulsiona ricas experincias de aplicaes dos mapas desde a Educao Infantil at o Ensino Superior, nas diversas reas do conhecimento. Embora tais experincias estejam solidamente fundamentadas, os mapas conceituais ainda so pouco conhecidos. Porm, seu uso est crescendo no Brasil devido iniciativas direcionadas para a formao de professores e aplicaes pedaggicas, todas voltadas para a difuso do mapa conceitual como uma ferramenta no mbito das TIC.Considerando o panorama do ensino no Brasil, carente de uma sistematizao da metodologia de Novak, juntamente com a teoria da aprendizagem significativa de Ausubel, a disseminao do uso dos mapas conceituais no nos parece utpica. Conhecer essa ferramenta e traz-la para o dia-a-dia da prtica dos docentes vem de encontro com as necessidades emergentes do atual sistema de ensino.
6. SOBRE O CONCEITO DE TICAA despeito de se tratar de uma idia nebulosa e, de certa forma, controvertida, mas bastante recorrente nos dias de hoje, importante estabelecer um solo comum de significao para o termo. No dicionrio especializado de Lalande a tica entendida como "a cincia que toma por objeto imediato os juzos de apreciao sobre os atos qualificados de bons ou de maus1". J em um dicionrio comum, uma das acepes do verbete tica remete ao "conjunto de princpios morais que se devem observar no exerccio de uma profisso; deontologia" (Michaelis,2).Amparados por esses dois significados clssicos, e ao mesmo tempo divergindo deles, entendemos que se trata do valor (o para qu) e da direo (o para onde) que atribumos a - ou subtramos de - determinadas prticas sociais/profissionais, desde que atreladas a certos preceitos, a certas condies de funcionamento. Ou seja, certas aes humanas requerem uma razovel visibilidade, tanto por aqueles que as praticam quanto por aqueles que delas so alvo, quanto a seus princpios e fins especficos, para que, na qualidade de meios, possam ser julgadas como procedentes, ou no, legtimas, ou no, eficazes, ou no.Nessa perspectiva, a tica pode ser compreendida inicialmente como aquilo que vetoriza determinada ao, ao ofertar-lhe uma origem e uma destinao especfica. Assim, por exemplo, estamos sempre a julgar se a conduta de um profissional foi condizente com o que dele se esperava, com aquilo que ele "deveria" fazer ou ter feito. Em outras palavras, acalentamos expectativas sobre determinadas prticas (e, por extenso, sobre determinadas condutas) e as "avaliamos" de acordo com o crivo de um "dever ser" caracterstico. talvez por essa razo que existem cdigos de tica para algumas carreiras, que sinalizam regras de conduta razoavelmente consensuais e, at certo ponto, suficientemente claras no s para o conjunto dos profissionais, mas tambm para os outros envolvidos.Isso no significa que tais regras implicariam necessariamente um conjunto invariante de normas pr-programadas que deveriam ser reproduzidas ipsis litteris por cada profissional em sua ao especfica, e, portanto, generalizadas para toda a categoria profissional. Mesmo porque a conduta sempre particularizada pelas condies pontuais: a clientela outra a cada vez e o prprio profissional diferente a cada vez porque constantemente transformado pela prpria ao.No obstante, imprescindvel que algumas regras comuns de conduta sejam conhecidas e praticadas pelos agentes daquela determinada prtica profissional em seu exerccio concreto, de tal forma que o campo de atuao seja preservado, resguardado de aes espontanestas, no sistematizadas, e, portanto, passveis de engodo ou ludbrio. Desse modo conseguimos obter, principalmente como clientes ou como usurios de determinado servio ou instituio, um pouco dessa clareza sobre a tica do agente institucional ou do profissional em questo, assim como sobre a validade da prtica em foco, quando nos damos por satisfeitos com o atendimento prestado, ou, ao contrrio, quando nele detectamos negligncia e/ou inoperncia.Entretanto, nem sempre essa relao entre aquele que avalia e aquele que avaliado simtrica, ou mesmo congruente, o que pode desencadear certos equvocos. E a que a noo de "tica" desponta como uma espcie de rbitro da ao, no que tange sua procedncia, sua legitimidade, sua eficcia.Nesse ponto, faz-se necessria uma distino conceitual. O campo da tica no se confunde com o das leis, e tampouco com o da moral. Trata-se de um campo suportado por regras at certo ponto facultativas, isto , que no exigem uma submisso inquestionvel, mas um engajamento autnomo, uma assuno voluntria, na medida em que prescrevem, no mximo, pautas possveis de convivncia entre os pares de determinada ao. Tais regras no so, portanto, nem dogmticas, como no caso da moral, nem compulsrias, como no caso das leis. Desta feita, as regras - vetores por excelncia do espectro tico de determinada ao - no primam por absolutizao. Elas, sempre relativas, no figuram necessariamente nem como verdadeiras nem como falsas, mas apenas funcionam ou no, podem ser obedecidas ou no, podem metamorfosear-se ou no, dependendo do contexto em que se concretizam. Trata-se de preceitos regionalizados, particularizados, nunca universais.Os campos legal e moral, por sua vez, so mais afeitos s normas, s prescries tcitas. Assim, os postulados morais e os legais so praticamente idnticos para todos, em detrimento do contexto especfico da ao, das circunstncias de sua execuo. Pode-se dizer que, em determinado contexto scio-histrico, eles sobrepairam, ou atravessam, o conjunto das prticas humanas indistintamente. No matar ou no roubar, por exemplo, so, atualmente, postulados relativos a quaisquer aes humanas, e, mesmo vale lembrar, num caso limite como o da guerra. Nessa situao de conflito generalizado, pode-se dizer que possvel e necessrio matar, mas apenas militares inimigos, jamais os civis. No essa, afinal, uma das principais razes de ser dos tribunais de guerra?Outra diferena fundamental que o campo da tica muito mais mutante do que o da moral e o das leis, uma vez que se encontra em ebulio constante: julgamos "caso a caso", ponderamos "as circunstncias", levamos em conta os "antecedentes", etc. Alm disso, nem tudo o que considerado tico hoje o ser amanh. O mesmo no se pode dizer com relao moral e s leis. Seus preceitos nucleares persistem, so nossos velhos conhecidos.Note-se, assim, que a violao de um postulado tico no considerada automaticamente nem uma contraveno legal nem uma transgresso moral, mas to-somente uma "falta", uma vez que contraria um conjunto de preceitos tomados como necessrios, eficazes ou apenas positivos, "bons". Algo, pois, que teria sido "melhor" se tivesse sido de outra maneira. E isso o mximo a que a interpelao tica pode chegar.A propsito, de um ponto de vista psicolgico, pode-se dizer que s nos tornamos algum medida que nos posicionamos numa relao com outrem. So relaes, portanto, que nos constituem como sujeitos. Disso decorre que no se pode afirmar algo com absoluta segurana sobre Ana ou Joo se tomados em si mesmos, mas sobre Ana como me, ou como filha, como profissional, como amante, ou sobre Joo como amigo, como pai, como consumidor. Alm disso, h que se levar necessariamente em conta o outro, parceiro compulsrio da equao que nos institui como sujeito no (e do) mundo, a quem tomamos ora como objeto, oponente, modelo ou auxiliar em nossas aes. Ana s filha em relao sua me, ou profissional em relao a um cliente; Joo s pai em relao a seu filho, ou consumidor em relao a um vendedor. Portanto, disso decorre que as relaes/lugares institucionais passam a ser o ncleo e foco de ateno quando nos dispomos a enveredar pelo mbito tico das prticas sociais/profissionais.Partindo, ento, do pressuposto de que toda ao implica uma parceria entre semelhantes, embora desiguais, poder-se-ia sustentar que, de um ponto de vista institucional, uma espcie de "contrato" nos entrelaa, posicionando-nos imaginariamente em relao ao nosso outro complementar, bem como delimitando nossos respectivos lugares e procedimentos, e, conseqentemente, marcando a diferena estrutural que h entre eles. Um contrato invisvel mas com uma densidade extraordinria, posto que suas clusulas balizam silenciosamente o que fazemos e o que pensamos sobre o que fazemos. Uma espcie, enfim, de "liturgia" dos lugares, se se quiser.Em suma: o campo da tica fundamenta-se em torno da fidelidade, ou no, s regras de um determinado "jogo" institudo/instituinte, as quais evidenciam-se, principalmente, quando o jogo mal jogado. Uma vez bem jogado, elas submergem novamente, silenciam-se, retornam qualidade de pressuposto bsico. Um enunciado sinttico talvez possa aglutinar a complexidade do conceito: tica aquilo que, implicitamente, regula (ou deveria regular) determinada prtica social/profissional para os nela envolvidos. Ou, ainda mais condensadamente, aquilo a partir do que deriva nossa confiana no outro - aquela espcie de segurana ntima e apaziguadora a que se acede quando em boa companhia.
7. A TICA NA EDUCAO ESCOLAR: DO CONVVIO AO CURRCULOSe, como cidados (ou mesmo usurios), temos experimentado o hbito de avaliar certas prticas sociais e profissionais a que estamos ligados no dia-a-dia, no se pode dizer que o mesmo venha ocorrendo explicitamente e com a mesma freqncia quando colocamos a educao escolar em pauta. Raras so as vezes em que a discusso tica presenciada de modo explcito no campo pedaggico, principalmente entre os pares escolares - e a lacuna bibliogrfica sobre o tema uma evidncia mais que suficiente do estado incipiente das discusses na rea. Alm disso, se a escola uma das prticas sociais (e o trabalho pedaggico, uma das prticas profissionais) fundamentais da vida civil contempornea, algo neles parece estar fora da ordem ou, no mnimo, em descompasso quando comparado efervescncia de outras instituies sociais.Entretanto, preciso reconhecer que, apesar dessa espcie de anacronismo e auto-iseno, alguns esforos concretos vm sendo formalizados com o intuito de inaugurar um corpo de discusso sobre a questo tica na educao escolar. Estamos nos referindo aos Parmetros Curriculares Nacionais (PCNs),3 e particularmente aos "temas transversais" neles inseridos, os quais se referem a um conjunto de temticas sociais, presentes na vida cotidiana, que devero ser tangenciadas pelas reas curriculares especficas, impregnando "transversalmente" os contedos de cada disciplina. Foram eleitos, assim, os seguintes temas gerais: tica, pluralidade cultural, meio ambiente, sade, orientao sexual, alm de trabalho/consumo.Visando formulao de um conjunto de diretrizes pedaggicas gerais e especficas capaz de nortear os currculos e seus contedos mnimos em escala nacional, os PCNs so, sem sombra de dvida, uma iniciativa digna de interesse. No volume 8, dedicado apresentao dos temas transversais e especificamente tica, l-se o seguinte:Como o objetivo deste trabalho o de propor atividades que levem o aluno a pensar sobre sua conduta e a dos outros a partir de princpios, e no de receitas prontas, batizou-se o tema de tica /.../. Parte-se do pressuposto que preciso possuir critrios, valores, e, mais ainda, estabelecer relaes e hierarquias entre esses valores para nortear as aes em sociedade.Dentro desse esprito dignificante, quatro eixos de contedos relativos ao tema foram selecionados, todos eles atrelados ao princpio bsico de dignidade do ser humano, a saber: respeito mtuo, justia, dilogo e solidariedade. Em que pesem as possveis controvrsias em torno dos prprios PCNs, quanto mais da incluso dos temas transversais nos currculos brasileiros, necessrio destacar que se trata de uma sistematizao substancial, uma vez que estrutura uma srie de questes imprescindveis a serem includas nos planos curricular e dos contedos da "educao moral" dos alunos.No obstante, o prprio documento alude a algo, a nosso ver, inusitado. Vejamos:Ao lado do trabalho de ensino, o convvio dentro da escola deve ser organizado de maneira que os conceitos de justia, respeito e solidariedade sejam vivificados e compreendidos pelos alunos como aliados perspectiva de uma "vida boa". Dessa forma, no somente os alunos percebero que esses valores e as regras decorrentes so coerentes com seus projetos de felicidade como sero integrados s suas personalidades: se respeitaro pelo fato de respeit-los.H que se destacar, de imediato, a singularidade e a potncia de idias simples como as de "vida boa" e "felicidade". O que mais se quer quando se almeja a tica? No limite, poderamos acrescentar: a alegria e o bem-querer.Outro dado importante refere-se ao fato de que no basta ensinar conceitos e valores democratizantes, preciso que eles sejam "vivificados" no convvio intra-escolar, entre os pares da ao escolar, especialmente entre professores e alunos. esse, no nosso entender, o grande diferencial, ou ponto de partida, para uma discusso abrangente sobre a tica no terreno escolar - o que, em certo sentido, os PCNs deixam a desejar.Convm destacar que as reflexes aqui desenvolvidas em torno da tica como "convvio" no se confundem com os esforos de sistematizao da tica como "tema transversal", como se v nos PCNs. Embora uma no prescinda da outra, trata-se de discusses paralelas e at certo ponto autnomas, visto que a primeira visa os dilemas imanentes ao trabalho pedaggico lato sensu, enquanto a segunda enfoca prioritariamente o currculo e os contedos escolares stricto sensu. sobre o primeiro eixo, ou seja, o da tica como reguladora do convvio escolar, que pretendemos nos debruar a partir de agora.Se afirmamos anteriormente que o espectro tico de determinada prtica social/profissional se d a conhecer, pelo menos em parte, por meio das expectativas e da avaliao que a clientela e o pblico mais geral (a comunidade e as famlias, por exemplo) operam quanto ao dos agentes/profissionais, cabe-nos agora indagar: o que se tem pensado e dito a respeito de ns, profissionais da educao? Estamos sendo avaliados, mesmo que informalmente, o tempo todo, e a imagem social da escola e do professor um bom exemplo do vigor de tal processo. O que, ento, tal imagem tem revelado particularmente sobre a profisso docente?No preciso reiterar que um nvel significativo de descrdito ronda a imagem que se cultiva de ns, tanto quanto uma considervel desesperana que ns prprios acalentamos sobre nosso trabalho. Em geral, conotamos essa profisso como algo "difcil", "penoso", um campo de trabalho povoado por obstculos, que vo desde aqueles ligados ao reconhecimento financeiro at aqueles de ordem metodolgica, processual. Para alguns mais insatisfeitos, chega-se imagem da docncia como "fardo" ou at como "sinal".Duas passagens so exemplares nesse sentido: um adesivo que se viu circular com certa frequncia nos automveis brasileiros que exclamava ironicamente "hei de vencer mesmo sendo professor", e uma deciso do Congresso Nacional sobre a aposentadoria dos professores por ocasio dos debates em torno da reforma previdenciria. No primeiro caso, supomos, pela negativa, a profisso docente como um investimento invivel, fadado ao insucesso. No segundo, de acordo com nossos legisladores atuais, trata-se (nos casos do ensino fundamental e mdio - e por que no o superior?) de uma profisso digna de aposentadoria precoce, no mesmo patamar de outras profisses consideradas "insalubres" ou "perigosas", em que h risco de vida mediato ou imediato. Por que ser? A bem da verdade, valeria indagar: o que acaba sendo mais invivel, perigoso ou insalubre: a profisso mesma ou as condies de trabalho atuais?De todo modo, vale lembrar que essa imagem no parece ser to arbitrria, ou mesmo maquiavelicamente "tramada", como alguns gostam de pensar. Temos contra ns uma evidncia factual: grande parte do contingente de crianas que ingressam nas escolas no consegue "atravessar" impunemente o ensino fundamental, sedimentando a clebre "pirmide" educacional brasileira. Isto , a repetncia renitente, a evaso e a baixssima qualidade do ensino brasileiro findaram por constituir aquilo que alguns tericos, com propriedade, denominaram "cultura do fracasso escolar".Nesse aspecto, o trabalho escolar atual (o pblico com apenas maior evidncia do que o particular, embora ambos atados ao mesmo processo) seria responsvel por uma contra produo. Em vez de produzirmos alunos/cidados, estaramos, de fato, produzindo futuros excludos em larga escala. Se levarmos em conta - e temos formalmente de faz-lo - que sem escolaridade no h a possibilidade concreta de cidadania, e que, portanto, o que est em jogo na produo do fracasso escolar uma ameaa iminente ao direito constitucional dos "oito anos de escolaridade mnima e obrigatria", haveremos de convir que um misto de constrangimento e perplexidade habita - ou deveria habitar - todo aquele envolvido com o trabalho escolar.Pois ento, o que estaria acontecendo com essa instituio secular a ponto de, na prtica, invertermos seus preceitos formais? Por que a existncia extensiva de uma escola que, alm de no produzir os frutos esperados, expurga sua clientela? Mais ainda, por que a persistncia de uma escola que no consegue se democratizar plenamente, tanto do ponto de vista do acesso/permanncia da clientela quanto do ponto de vista da qualidade dos servios prestados? Por que fracasso em todo canto, tanto dos excludos quanto dos includos?Do confronto cotidiano com o peso de tal realidade, algumas justificativas para esse estado de coisas vm sendo dadas pelos agentes escolares em sua lida diria, especialmente pela categoria docente. bem verdade que atribumos responsabilidades e, muitas vezes, chegamos a beirar uma espcie de tese "conspiratria", como se v a seguir.
8. INTERPELAES AO MBITO TICO DAS PRTICAS ESCOLARESEmbalados por uma perspectiva politizante, acostumamo-nos a atribuir a suposta causa das inflexes escolares a instncias como: o Estado, o governo, os rgos governamentais, os setores burocrtico-administrativos, o staff tcnico da escola. Mas no s. Freqentemente atribumos a suposta "culpa" de nossos entraves profissionais s condies conjunturais da clientela. A ento surgem: a sociedade, as transformaes histricas, o background cultural da clientela, a (des)estruturao das famlias, as carncias de diferentes ordens, etc.O processo, como j ningum desconhece, desenrola-se mais ou menos assim: diante das dificuldades que se apresentam no dia-a-dia, professores culpam os alunos, que culpam os professores, que culpam os pais, que culpam os professores, que culpam o governo, que culpa os professores, que culpam a sociedade, e assim por diante, estabelecendo-se um crculo vicioso e improdutivo de imputao de responsabilidades sempre a algum outro segmento envolvido.Contudo, do "atacado" das causas abstratas ao "varejo" dos seus efeitos concretos, uma tnica comum parece perpassar o modo com que temos enfrentado nossos dilemas profissionais: a responsabilizao cabal da clientela pelas dificuldades conjunturais, quando no pela inviabilidade estrutural, do trabalho pedaggico - o que se traduz concretamente nos altssimos e inadmissveis nveis de reprovao. Uma mxima muito frequente no meio escolar ilustra esse processo com clareza: "se o aluno aprende porque o professor ensina; se no aprende porque ele apresenta alguma defasagem ou disfuno".Nesse enunciado estranho e, curiosamente, familiar parece residir uma contradio lgica e uma armadilha tica. Ao mesmo tempo em que responsabilizamos o professor pelo sucesso escolar, o desassociamos inteiramente do fracasso. Mas, como possvel arcarmos com apenas o efeito esperado de nossa ao e, concomitantemente, nos desincumbirmos dos seus efeitos indesejveis ou, no limite, colaterais? Como possvel a coexistncia de dois mbitos de julgamento dissociados e, em certa medida, antagnicos para a mesma ao?Convenhamos que esse tipo de entendimento do trabalho escolar seria algo equivalente a uma afirmao do tipo: "o problema do mdico so os doentes", ou "o empecilho do escritor so os leitores", ou ento "o entrave do poltico so os eleitores". Estranho? No caso escolar no parece s-lo, tamanha a naturalidade com que temos depositado na clientela grande parte da responsabilidade sobre os nossos acidentes de percurso, os obstculos que permeiam o trajeto dessa profisso - o que, por sinal, no nenhum desprivilgio em relao a outras profisses, posto que todas elas se definem, a rigor, como uma resposta pontual a um determinado conjunto de problemas concretos materializado nas demandas da clientela. a, ento, que a figura do "aluno-problema" tem despontado, principalmente a partir da dcada de 80, como uma justificativa nuclear (inclusive com amparo terico) para as inflexes do cotidiano prtico do professor. E o que essa intrigante figura sinaliza? Em geral, aquele que no apresenta as "condies mnimas" para o aproveitamento pedaggico ideal, ou seja, aquele que porta algum dficit, ou mesmo um supervit, em relao ao padro pedaggico clssico ou ao perfil de desenvolvimento psicolgico esperado - por exemplo: alunos limtrofes versus superdotados, imaturos versus precoces, apticos versus hiperativos. Em sntese: aluno-problema aquele acometido por alguma espcie de "distrbio psicopedaggico". E quais so eles?Podem ser de ordem cognitiva (os famigerados "distrbios de aprendizagem") ou de ordem comportamental, e nessa ltima categoria enquadra-se um grande conjunto de aes que chamamos usualmente de "indisciplinadas". Nesse particular, o baixo rendimento e a indisciplina dos alunos seriam como duas faces de uma mesma moeda, representando os dois grandes males da escola contempornea e os dois principais entraves ao trabalho docente na atualidade.Ora, preciso alertar, enfaticamente, que na prpria fomentao traioeira dessa imagem origina-se, a nosso ver, grande parte das "faltas" ticas testemunhadas no nosso cotidiano escolar. Em maior ou menor grau, acabamos tomando a figura dos "alunos-problema" como obstaculizadora ou impeditiva de nosso trabalho, quando, a rigor, poderia/deveria funcionar como propulsora de nossa ao profissional, vetor tico da interveno pedaggica e ocasio privilegiada de afirmao profissional e social do educador, bem como de (re)potencializao institucional do contexto escolar.O que fazer? Talvez uma imerso crtica nos argumentos que suportam esse tipo de raciocnio, de certa forma linear e superficial, possa nos auxiliar sensivelmente. Um primeiro passo para reverter esse estado de coisas exige que repensemos nossos posicionamentos, que revejamos algumas supostas evidncias sobre a clientela escolar que, no final das contas, apenas justificam o fracasso escolar, mas no conseguem alterar os rumos e os efeitos do nosso trabalho cotidiano.Algumas hipteses pelas quais se tenta explicar o baixo rendimento e a indisciplina discente valem a pena ser enunciadas. A nosso ver elas so, grosso modo, de trs ordens:- histrica ensino organizado e de boa qualidade para poucos, assim como o de antigamente;- cultural: a carncia (ou a abundncia ) socioeconmica, logo cultural, um impeditivo para a ao pedaggica,- psicolgica: h necessariamente pr-requisitos morais e/ou cognitivos para o bom aproveitamento escolar.Por mais que tais argumentos marquem presena constante no imaginrio pedaggico-escolar, preciso estabelecer que eles configuram-se como silenciosas apropriaes explicativas que no se podem sustentar por completo, nem do ponto de vista terico, muito menos do ponto de vista tico, uma vez que se prestam a sacramentar, ainda que no explicitamente, a excluso escolar. A bem da verdade, um alinhamento tico claro em relao ao trabalho escolar na contemporaneidade pressupe o avesso, ou melhor, o inverso de tais justificativas. No primeiro caso, importante constatar a imagem romanceada que preservamos do ensino elitizado e do cotidiano militarizado das escolas, anterior aos anos 70 e proliferao das escolas privadas. Por mais que brademos o contrrio, o lema "educao para todos e de qualidade" tem-se revelado um binmio indigesto e quase intangvel na prtica - e o assim chamado "fracasso escolar" sua mostra mais contundente e onerosa. A despeito de intenes politicamente corretas, os protagonistas do cenrio escolar, confundindo democratizao com deteriorao da escola, acostumaram-se a um raciocnio que versa algo parecido com isso: "algo de qualidade no pode ser para todos, e se para todos no pode ser de qualidade". A imagem falseada que temos da suposta excelncia do ensino particular (fundamental e mdio) de hoje, em contraposio tambm suposta decadncia do ensino pblico, um bom exemplo dessa mxima perigosa e absolutamente antitica.No caso das outras duas hipteses, preciso enfatizar o seguinte: no h necessariamente pr-requisitos morais e/ou cognitivos, e muito menos econmicos e/ou culturais, para que se atinja o aproveitamento escolar ensejado. A no ser em casos extremos (isto , em quadros psicticos muito bem precisos), a ao escolar prescinde de qualquer tipo de a priori psicolgico e/ou cultural, assim como de competncias especiais para alm daquelas que uma criana/jovem em idade escolar apresenta. Se no, corremos o risco de imaginar que o trabalho escolar deveria destinar-se a um tipo de clientela especfica e j abastada cultural e/ou cognitivamente. Convm relembrar que no h clientela ideal (a no ser nas expectativas dos agentes, como oposio clientela concreta) e que a resposta bem-sucedida ou fracassada da clientela no algo de vspera, mas um produto da interveno escolar, ou seja, das relaes a forjadas.De mais a mais, no se pode aceitar com tanta naturalidade a tese da existncia de condutas "ilegtimas", "imprprias" ou "desviantes" por parte da clientela. Elas sero sempre, no limite, uma resposta ao que lhe ofertam os agentes. Decorre desse ponto de vista que o baixo rendimento e a indisciplina dos alunos devem ser compreendidos como efeitos sintomticos das prticas escolares, nunca como suas causas. Alm disso, tais inflexes revelam a crise paradigmtica imanente relao professor-aluno nesses conturbados dias em que vivemos. Ou seja, quando no se tem clareza quanto aos limites e possibilidades da ao escolar e, por extenso, do seu prprio lugar como educador, a clientela passa a ser tomada como obstculo, empecilho, problema. At quando isso vai persistir no contexto escolar brasileiro?9. ALGUNS ENCAMINHAMENTOS TICOS PARA A PRTICA ESCOLAR
Apontamos at aqui as "faltas" ticas no interior das prticas escolares; cabe-nos agora apontar alguns preceitos que, no nosso entendimento, precisam ser preservados a qualquer custo na interveno pedaggica.O primeiro remete s questes que envolvem a avaliao da aprendizagem, to presentes nas preocupaes dos educadores, bem como dos rgos governamentais do setor. No raro que encontremos alegaes do tipo: " preciso avaliar constantemente", ou ento: "se no houver reprovao, no h ensino de verdade", ou mais drasticamente ainda: "professor bom aquele que reprova". Note-se que, a partir de enunciados como estes, acabamos tomando a avaliao (e no a tica) como reguladora da ao pedaggica. Isto , avaliar passa ser concebido como um direito "legal ou moral" do professor, enquanto ser avaliado, um dever tambm "legal ou moral" do aluno. Se a avaliao se naturaliza como a estratgia dominante ou exclusiva da interveno pedaggica, corremos o risco de tambm naturalizar o fracasso como o objeto contingencial (e inevitvel, portanto) da ao escolar. o alto preo que se paga por transformar um encontro que se desdobra em torno de regras construdas processualmente em um evento balizado por normas apriorsticas, por um padro excessivamente normativo (e, por extenso, excludente) como o da avaliao escolar, tal como a conhecemos.Cabe-nos, igualmente, questionar o que temos priorizado como foco de nossa atuao profissional: os meandros e nuanas do processo ensino-aprendizagem ou a avaliao dos resultados formais? E a que se tm prestado nossas prticas avaliativas: a confirmar os prognsticos fatalistas sobre a clientela, ou ao coroamento do nosso trabalho docente? Mesmo porque, numa reprovao final, algo de todos ns est sendo colocado sub judice. Portanto, um desfocamento do af avaliativo, alm de bastante oportuno, poderia promover uma nfase mais ntida no dia-a-dia da sala de aula, isto , na "qualidade" mesma do ensino. no espao "sagrado" das aulas, no instigante confronto cotidiano entre agentes e clientela, no prprio interior da relao professor-aluno, que a tica (ou a falta dela) presentifica-se com maior fora. O resto, e a avaliao dos resultados a includa, mera consequncia!Outro preceito que conviria ser lembrado aquele referente aos modos de relao que estabelecemos em sala de aula. Uma prtica abominvel, mas muito em voga, nas escolas brasileiras a de "mandar o aluno para fora da sala" ou encaminh-lo para outras instncias sempre que uma atitude dissonante se faz presente. Ora, expuls-lo da sala mais do que um prenncio da excluso que tanto nos desabona; ela em ato! Abstenhamo-nos, pois, desse tipo de enfrentamento excludente, e atentemos para o fundamental dilogo com as diferenas, porque o encontro de sala de aula sempre movimento e diversidade, ou, em essncia, confrontao. Dessa forma, uma conduta no excludente implica o enfrentamento in loco das divergncias, a negociao, os ajustes das demandas. Incluso: eis a palavra imprescindvel, mas to pouco exercitada na prtica!Uma situao exemplar nesse sentido advm de uma afirmao que ouvimos de uma professora ainda muito jovem, negra, de uma escola pblica da periferia de So Paulo, do perodo noturno. Ela prognostica enfaticamente: "se retirssemos algumas mas podres, as outras no se estragariam", ao que lhe foi proposto por ns: "j lhe ocorreu que os negros foram considerados 'mas podres' um dia? E, alm disso, quem somos ns para determinar quais mas so podres e quais no? Voc, eu, quem?Assim, um posicionamento tico efetivo por parte do profissional da educao pressupe necessariamente um carter inclusivo e, de certo modo, incondicional - porque "para todos". Desse modo, a premissa da incluso passa a ser a regra "nmero um" do educador cioso de seus deveres tanto profissionais quanto sociais. Longe de configurar um ato de benevolncia, a relao que se deve ou pode estabelecer de parceria, cooperao (e, por que no dizer, de generosidade?); sempre tendo em mente, contudo, uma disparidade estrutural que condiciona a relao professor-aluno.H uma assimetria de base entre os lugares docente e discente, a qual deve ser preservada a todo custo, posto que a partir dela se pode exercitar a autoridade do professor. Autoridade de quem j um iniciado nas regras de um campo de conhecimento especfico, e que se retroalimenta ao partilh-las de fato com outrem (sempre crivado, claro, pelo paradoxo do conflito e da cooperao). Mas acaba a sua autoridade! Ou melhor, ela restringe-se ao domnio de um certo saber terico-prtico assim como de sua transmissibilidade - prefervel dizer "recriao". Um bom sinalizador dessa assimetria - ingrediente bsico do encontro entre professor e aluno - a prpria noo de "contrato pedaggico". importante que as "regras do jogo" estejam razoavelmente claras para ambas as partes, e que se limitem ao campo do conhecimento em pauta, mesmo que as clusulas contratuais tenham de ser relembradas ou transformadas intermitentemente. Muitas vezes os alunos, quando transgridem, o fazem mais por desconhecimento das (ou inconformidade s) regras implcitas do que por m-f. Convm repetir: regras atreladas ao funcionamento do campo de conhecimento em foco, e, portanto, regras no morais, no genricas, que no ultrapassem o domnio de um "dever fazer" especfico. Alertemos mais uma vez: o resto vem por acrscimo, por consequncia.Isso no significa, porm, que as regras tenham de ser sempre idnticas, partilhadas por todos os professores indiscriminadamente, uma vez que o campo tico dispensa configuraes apriorsticas, apontando sempre uma processualidade pontual. As condutas docente e discente em uma aula de matemtica no precisam sequer ser semelhantes s de uma aula de literatura, j que diferentes objetos de conhecimento esto em jogo, e, portanto, diferentes competncias esto sendo perseguidas. Mas as particularidades e exigncias funcionais de cada qual devem ser explicitadas, se possvel no incio dos trabalhos. a necessria largada do jogo, para que ento possa ser jogado com maestria, tanto por aquele que j o conhece de perto quanto por aquele que nele est sendo iniciado. Uma vez dentro do jogo, muito mais difcil burl-lo ou impugn-lo; em verdade, raramente se almeja isto. No obstante, bastante comum ouvirmos que o grupo de alunos nem sempre consegue ter uma conduta semelhante diante das regras acordadas. O fantasma da "minoria que sabota" parece perseguir grande parte dos educadores, inclusive aqueles que prezam por um dilogo aberto e por um caminho construdo passo a passo. hora, ento, de rever o contrato! Se os acordos prvios no esto sendo levados a cabo ou a contento - mesmo que seja por uns poucos - o que estaria acontecendo? O que nos estaria impedindo de alcanar nossos projetos? E, alm disso, o que devemos ou podemos mudar, professor e alunos? Seria mesmo o caso de rever as regras do jogo a que nos propusemos no incio dos trabalhos? Da resposta "coletiva" a essas perguntas depende, sem dvida, o transcorrer e o sucesso do processo pedaggico.Sob essa perspectiva, cada vez que o jogo jogado trata-se, de certa forma, de um jogo novo. Mais correto seria dizer que ele reapropriado sempre de um modo singular. Portanto, h que se ter, como educador, uma certa permeabilidade mudana e inveno de novas estratgias. A clientela obriga-nos a refazer o percurso de nossa ao, sondar novas possibilidades, experimentar. Dessa forma, a sala de aula passa a se confundir cada vez mais com um laboratrio pedaggico. O que deu certo com uma turma certamente no persistir com outra - o que nos torna, de certo modo, privilegiados, visto que nos recoloca na salutar posio de permanentes aprendizes. certo que competncia terica e tcnica uma condio mesma do prprio jogo pedaggico. Contudo, aquilo que damos conotaes positivas usualmente como "acidentes de percurso" requer, mais do que uma reviso metodolgica e/ou terica, uma interpelao tica: o que precisa ser preservado em minha ao? Afinal de contas, a que ela se presta? Que mundo se vislumbra aqui e agora? Perguntas ao mesmo tempo sutis e intrincadas, mas intransferveis, posto que conclamam a tica pedaggica, e to-somente ela, como reguladora da ao escolar. Que resposta se poderia dar a essas questes?A ttulo de concluso e como uma espcie de metfora, embora descontnua, de nosso trajeto at aqui, vale a pena recordar o poeta portugus Fernando Pessoa. Ele esmiua, a partir da imagem de um jogo de xadrez, a questo do enfrentamento tico nas aes e opes humanas, e nos ensina como proceder, dentro ou fora das escolas.
10. PENSAMENTOS E ATOS COMO CONSCINCIA E AO: RELAES ENTRE PRTICAS SOCIAIS, HISTRIA E LINGUAGEM
Ests sempre presenteEm cada esquina,onde o mundo parapara ver a rotina de acidentes,enquanto a multido pisa solenesobre os destinos de quem treme.nunca ests ausente das conversas,das promessas,pois tua presena sub-reptcia fashion e rende muita notcia.O dia dos espertos.H medidas paliativas,que estancam feridas,sem nada fazerem de mais efetivo.A noite dos despertos.As muitas polticas plidas e mticas deixam tristeza,pois a pobrezano se vence com olhos pios.(Renato Massari Pobreza)
O presente estudo Avaliao e tica: discurso em ao reflete antigas preocupaes, nem sempre explcitas ou racionalmente formuladas, mas presentes ao longo de minha trajetria no campo da formao de professores. Muitas vezes fui bem avaliada quanto capacidade de ensinar tanto do ponto de vista terico (domnio dos contedos abordados) como do prtico (clareza na exposio dos conceitos). Continuamente, ouvia: fcil entender o que voc ensina; parece que voc conhece a prtica tambm; voc fala de um jeito to simples que eu logo compreendo. Todavia, tais enunciaes no eram garantia da devida aquisio do conceito anunciado, no espao de formao. Pois apesar do esforo destinado articulao entre a teoria e a prtica, muitas contradies acerca dos entendimentos dessa relao podiam ser observadas, em momentos especficos da ao pedaggica, como por exemplo: nos estudos de caso, nas narrativas de situaes pedaggicas; nas anlises microgenticas1 das zonas de desenvolvimento proximais ZDP2 (VYGOTSKY, 2000). Como tais contradies eram percebidas? Quais tratamentos recebiam? Os discursos dos professores em formao expressavam que eles se apropriavam da teoria de modos distintos e, mais do que isso, nem sempre o dito a respeito de um conceito era compreendido tal como definido pelo autor em questo. Este fato me deixava muito curiosa: em parte, acreditava na possibilidade de dissociao3 das duas instncias e me obrigava a pensar os motivos de os professores no revelarem nas prticas tudo o que eram capazes de repetir nos discursos; de outro lado, o prprio campo terico por mim privilegiado o scio-histrico me obrigava a duvidar desse fato e buscar alternativas que dessem conta de explicar, compreender e alterar as relaes entre o objeto de ensino (conceito terico) e o de aprendizagem (aplicao prtica do conceito).
10.1 Formas de Avaliao
A principal funo da forma de avaliao verificar o que o aluno aprendeu e tomar uma base de deciso para aperfeioar subsequentemente o processo ensino-aprendizagem na busca dos melhores resultados.De acordo com os estudos de Bloom ( 1993) a avaliao do processo ensino-aprendizagem apresenta trs tipos de funes: diagnstica ( analtica), formativa ( controladora ) e somativa ( classificatria ).A avaliao diagnstica aquela que ao se iniciar um curso ou um perodo letivo, dado diversidade de saberes, o professor deve verificar o conhecimento prvio dos alunos com a finalidade de constatar os pr-requisitos necessrios de conhecimento ou habilidades imprescindveis de que os educandos possuem para o preparo de novas aprendizagens.avaliar se o aluno domina gradativamente e hierarquicamente cada etapa da b) A avaliao formativa aquela com a funo controladora sendo realizada durante todo o decorrer do perodo letivo, com o intuito de verificar se os alunos esto atingindo os objetivos previstos. Logo , a avaliao formativa visa, basicamente aprendizagem , antes de prosseguir para uma outra etapa subsequente de ensino-aprendizagem, os objetivos em questo. atravs da avaliao formativa que o aluno toma conhecimento dos seus erros e acertos e encontra estmulo para um estudo sistemtico. Essa modalidade de avaliao orientadora, porque orienta o estudo do aluno ao trabalho do professor. motivadora porque evita as tenses causadas pelas avaliaes.
11. AVALIAO NOTA 10Existem diversos instrumentos para analisar o desempenho do aluno e fazer com que todos se integrem ao processo de aprendizagem. Escolha o seu.Foto 1 - Paola Gentile([email protected]), Cristiana Andrade
Vanda, do Pluri, em PresidentePrudente: observao atenta dotrabalho com jogos matemticosfeitos para detectar asnecessidades de cada alunoFoto: Gilvan Barreto.
12. AVANAR PRECISO O exemplo da capital gacha encaixa-se bem no modelo proposto por Luckesi. Esse o primeiro passo, a chamada avaliao inicial ou diagnstica. O segundo, batizado de avaliao processual ou reguladora, o conjunto de aferies feito no decorrer do processo de ensino-aprendizagem e serve para mostrar ao professor se determinada ttica pedaggica est ou no dando resultados (em caso negativo, no perca tempo: busque alternativas e troque idias com os colegas e a coordenao). O terceiro conhecido como avaliao somativa ou integradora, momento em que o mestre estabelece o conceito final com base em tudo o que observou e anotou durante o processoClotilde Bernal, professora de Cincias Naturais da Escola Municipal de Ensino Fundamental Marcos Melegan, em So Paulo, sugere outro bom exemplo de diagnstico inicial, com uma vantagem: essa uma tarefa que no precisa ser feita no incio do ano letivo, mas sempre que um novo conceito for introduzido em classe. O ponto de partida lanar uma questo para a turma e anotar as respostas no quadro-negro. A cada lio, as perguntas ficam mais especficas. Assim, possvel listar dvidas e curiosidades sobre o tema e, com essas informaes, orientar pesquisas (alis, outro excelente momento para medir o interesse e a participao dos estudantes e os procedimentos adotados por eles).Trabalhar dessa maneira traz vantagens adicionais. Por ser mais dinmico, o modelo reduziu consideravelmente a indisciplina na sala de Clotilde. "Quando eu copiava os contedos no quadro, s via a meninada sem interesse", lembra. O mais interessante que a maioria dos colegas dela ainda trabalha desse jeito - e avalia pelo sistema de provas e notas. "Nas reunies pedaggicas, sempre sugiro que todos mudem, mas ningum quer saber", diz Clotilde. "Eu no entendo por que tanta resistncia. O resultado melhora tanto com o processo contnuo...
13. ANOTAR SEMPREVanda, a professora de Matemtica de Presidente Prudente, concorda 100%. "Antes, era possvel jogar o exerccio no quadro e ficar lendo o jornal", conta. "Hoje, me envolvo muito mais, mas sei cada ponto em que o aluno tem dificuldade e o que eu preciso fazer para envolv-lo no processo de aprendizagem. gratificante ver o crescimento de cada um." As brincadeiras e jogos que Vanda usa em sala de aula so um timo exemplo de avaliao processual. Como voc pode imaginar, essa prtica gera uma grande quantidade de dados. E isso, obviamente, exige organizao para analisar esses dados. Do contrrio, a avaliao somativa pode ser prejudicada. "A chave anotar tudo com muita objetividade, para no ser trado pela memria nem tirar concluses precipitadas", ensina Yeda Varlota, consultora de secretarias municipais que esto implantando o sistema de ciclos.Na Escola Cooperativa, em So Paulo, os professores usam diversas fichas. Uma funciona como dirio de classe, registro de tudo o que acontece na sala de aula, com destaque para a participao de cada aluno. Assim que uma atividade finalizada, so anotados os comentrios sobre o que aconteceu. No final do trimestre, o dossi vira base para o preenchimento da ficha de indicadores de avaliao. O documento contm informaes sobre atitude, procedimentos e apreenso de contedos e conceitos. Antes da definio do parecer, porm, o estudante tambm faz sua auto-avaliao. "Queremos o mais completo registro do processo de aprendizagem", define a coordenadora pedaggica Suzir Palhares.Ao dialogar com a turma, a escola divide a responsabilidade sobre o resultado. A auto-avaliao coloca o jovem como sujeito da prpria educao e d mais segurana ao educador, que muitas vezes teme ser injusto ou tendencioso na hora de dar notas. Na hora do conceito final, no h uma mdia matemtica. O professor tem de rever o trabalho realizado. "Comparamos as ltimas produes dos alunos com as primeiras. a evoluo que importa", afirma Marly de Souza Barbosa, professora de Lngua Portuguesa da 3 srie na Cooperativa.Para quem acha muito complexo envolver a garotada, existe uma velha prtica to eficiente quanto: o conselho de classe. "As reunies podem ser o caminho para superar o sistema de notas", acredita Ilza SantAnna. "Elas servem para aperfeioar o trabalho docente e adaptar o currculo." Em Porto Alegre, a Escola Municipal Dolores Alcars Caldas no tem boletim nem nota. O dossi do educando preparado durante as reunies do conselho, quando a equipe discute o relatrio do professor-titular e faz uma comparao com a auto-avaliao do aluno e da turma como um todo. A orientao gera dividir a classe em grupos menores e trabalhar com cada um deles no contraturno pelo menos uma vez por semana. "Conforme as necessidades, crio tarefas especficas", diz Patrcia Costa, que leciona para o 1 ciclo.Na Escola Estadual Emlio de Menezes, em Curitiba, a equipe pedaggica participa de seis encontros anuais com a direo (quatro pr-conselhos por turma e dois conselhos participativos). Nos primeiros, so discutidas as dificuldades de cada estudante. O reforo coordenado por graduandos em Pedagogia, que se tornam padrinhos de um grupo ou de um aluno, acompanhando as atividades extraclasse. A idia de envolver a famlia tambm surgiu numa dessas reunies: pais so convidados a se sentar ao lado dos filhos na classe, ajudando o professor a detectar os motivos da falta de ateno ou da indisciplina. Isto pode ser visto nos quadros abaixo relacionados.
14. OS NOVE JEITOS MAIS COMUNS DE AVALIAR
Prova objetiva
definioSrie de perguntas diretas, para respostas curtas, com apenas uma soluo possvel
funoAvaliar quanto o aluno apreendeu sobre dados singulares e especficos do contedo
vantagens familiar s crianas, simples de preparar e de responder e pode abranger grande parte do exposto em sala de aula
atenoPode ser respondida ao acaso ou de memria e sua anlise no permite constatar quanto o aluno adquiriu de conhecimento
planejamentoSelecione os contedos para elaborar as questes e faa as chaves de correo; elabore as instrues sobre a maneira adequada de responder s perguntas
anliseDefina o valor de cada questo e multiplique-o pelo nmero de respostas corretas
como utilizar as informaesListe os contedos que os alunos precisam memorizar; ensine estratgias que facilitem associaes, como listas agrupadas por idias, relaes com elementos grficos e ligaes com contedos j assimilados
Prova dissertativa
definioSrie de perguntas que exijam capacidade de estabelecer relaes, resumir, analisar e julgar
funoVerificar a capacidade de analisar o problema central, abstrair fatos, formular idias e redigi-las
vantagensO aluno tem liberdade para expor os pensamentos, mostrando habilidades de organizao, interpretao e expresso
atenoNo mede o domnio do conhecimento, cobre amostra pequena do contedo e no permite amostragem
planejamentoElabore poucas questes e d tempo suficiente para que os alunos possam pensar e sistematizar seus pensamentos
anliseDefina o valor de cada pergunta e atribua pesos a clareza das idias, para a capacidade de argumentao e concluso e a apresentao da prova
como utilizar as informaesSe o desempenho no for satisfatrio, crie experincias e motivaes que permitam ao aluno chegar formao dos conceitos mais importantes
Seminrio
definioExposio oral para um pblico leigo, utilizando a fala e materiais de apoio adequados ao assunto
funoPossibilitar a transmisso verbal das informaes pesquisadas de forma eficaz
vantagensContribui para a aprendizagem do ouvinte e do expositor, exige pesquisa, planejamento e organizao das informaes; desenvolve a oralidade em pblico
atenoConhea as caractersticas pessoais de cada aluno para evitar comparaes na apresentao de um tmido ou outro desinibido
planejamentoAjude na delimitao do tema, fornea bibliografia e fontes de pesquisa, esclarea os procedimentos apropriados de apresentao; defina a durao e a data da apresentao; solicite relatrio individual de todos os alunos
anliseAtribua pesos abertura, ao desenvolvimento do tema, aos materiais utilizados e concluso. Estimule a classe a fazer perguntas e emitir opinies
como utilizar as informaesCaso a apresentao no tenha sido satisfatria, planeje atividades especficas que possam auxiliar no desenvolvimento dos objetivos no atingidos
Trabalho em grupo
definioAtividades de natureza diversa (escrita, oral, grfica, corporal etc) realizadas coletivamente
funoDesenvolver o esprito colaborativo e a socializao
vantagensPossibilita o trabalho organizado em classes numerosas e a abrangncia de diversos contedos em caso de escassez de tempo
atenoConhea as caractersticas pessoais de cada aluno para evitar comparaes na apresentao de um tmido ou outro desinibido
planejamentoProponha uma srie de atividades relacionadas ao contedo a ser trabalhado, fornea fontes de pesquisa, ensine os procedimentos necessrios e indique os materiais bsicos para a consecuo dos objetivos
anliseObserve se houve participao de todos e colaborao entre os colegas, atribua valores s diversas etapas do processo e ao produto final
como utilizar as informaesEm caso de haver problemas de socializao, organize jogos e atividades em que a colaborao seja o elemento principal
Debate
definioDiscusso em que os alunos expem seus pontos de vista a respeito de assunto polmico
funoAprender a defender uma opinio fundamentando-a em argumentos convincentes
vantagensDesenvolve a habilidade de argumentao e a oralidade; faz com que o aluno aprenda a escutar com um propsito
atenoComo mediador, d chance de participao a todos e no tente apontar vencedores, pois em um debate deve-se priorizar o fluxo de informaes entre as pessoas
planejamentoDefina o tema, oriente a pesquisa prvia, combine com os alunos o tempo, as regras e os procedimentos; mostre exemplos de bons debates. No final, pea relatrios que contenham os pontos discutidos. Se possvel, filme a discusso para anlise posterior
anliseEstabelea pesos para a pertinncia da interveno, a adequao do uso da palavra e a obedincia s regras combinadas
como utilizar as informaesCrie outros debates em grupos menores; analise o filme e aponte as deficincias e os momentos positivos
Relatrio individual
definioTexto produzido pelo aluno depois de atividades prticas ou projetos temticos
funoAveriguar se o aluno adquiriu conhecimento e se conhece estruturas de texto
vantagens possvel avaliar o real nvel de apreenso de contedos depois de atividades coletivas ou individuais
atenoEvite julgar a opinio do aluno
planejamentoDefina o tema e oriente a turma sobre a estrutura apropriada (introduo, desenvolvimento, concluso e outros itens que julgar necessrios, dependendo da extenso do trabalho); o melhor modo de apresentao e o tamanho aproximado
anliseEstabelea pesos para cada item que for avaliado (estrutura do texto, gramtica, apresentao)
como utilizar as informaesS se aprende a escrever escrevendo. Caso algum aluno apresente dificuldade em itens essenciais, crie atividades especficas, indique bons livros e solicite mais trabalhos escritos
Autoavaliao
definioAnlise oral ou por escrito, em formato livre, que o aluno faz do prprio processo de aprendizagem
funoFazer o aluno adquirir capacidade de analisar suas aptides e atitudes, pontos fortes e fracos
vantagensO aluno torna-se sujeito do processo de aprendizagem, adquire responsabilidade sobre ele, aprende a enfrentar limitaes e a aperfeioar potencialidades
atenoO aluno s se abrir se sentir que h um clima de confiana entre o professor e ele e que esse instrumento ser usado para ajud-lo a aprender
planejamentoFornea ao aluno um roteiro de auto-avaliao, definindo as reas sobre as quais voc gostaria que ele discorresse; liste habilidades e comportamentos e pea para ele indicar aquelas em que se considera apto e aquelas em que precisa de reforo
anliseUse esse documento ou depoimento como uma das principais fontes para o planejamento dos prximos contedos
como utilizar as informaesAo tomar conhecimento das necessidades do aluno, sugira atividades individuais ou em grupo para ajud-lo a superar as dificuldades
Observao
definioAnlise do desempenho do aluno em fatos do cotidiano escolar ou em situaes planejadas
funoSeguir o desenvolvimento do aluno e ter informaes sobre as reas afetiva, cognitiva e psicomotora
vantagensPerceber como o aluno constri o conhecimento, seguindo de perto todos os passos desse processo
atenoFaa anotaes no momento em que ocorre o fato; evite generalizaes e julgamentos subjetivos; considere somente os dados fundamentais no processo de aprendizagem
planejamentoElabore uma ficha organizada (check-list, escalas de classificao) prevendo atitudes, habilidades e competncias que sero observadas. Isso vai auxiliar na percepo global da turma e na interpretao dos dados
anliseCompare as anotaes do incio do ano com os dados mais recentes para perceber o que o aluno j realiza com autonomia e o que ainda precisa de acompanhamento
como utilizar as informaesEsse instrumento serve como uma lupa sobre o processo de desenvolvimento do aluno e permite a elaborao de intervenes especficas para cada caso
Conselho de classe
definioReunio liderada pela equipe pedaggica de uma determinada turma
funoCompartilhar informaes sobre a classe e sobre cada aluno para embasar a tomada de decises
vantagensFavorece a integrao entre professores, a anlise do curriculo e a eficcia dos mtodos utilizados; facilita a compreenso dos fatos com a exposio de diversos pontos de vista
atenoFaa sempre observaes concretas e no rotule o aluno; cuidado para que a reunio no se torne apenas uma confirmao de aprovao ou de reprovao
planejamentoConhecendo a pauta de discusso, liste os itens que pretende comentar. Todos os participantes devem ter direito palavra para enriquecer o diagnstico dos problemas, suas causas e solues
anliseO resultado final deve levar a um consenso da equipe em relao s intervenes necessrias no processo de ensino-aprendizagem considerando as reas afetiva, cognitiva e psicomotora dos alunos
como utilizar as informaesO professor deve usar essas reunies como ferramenta de auto-anlise. A equipe deve prever mudanas tanto na prtica diria de cada docente como tambm no currculo e na dinmica escolar, sempre que necessrio
Publicado emNOVEMBRO 2001. Revista Nova Escola
15. CONCLUSO
A avaliao faz parte do cotidiano de qualquer escola, mesmo que demaneira informal os gestores esto a todo o momento envolvendo-se emprocessos de avaliao e os professores esto constantemente refletindo arespeito de suas atividades e metodologias dentro das disciplinas.Vimos que existem vrios mtodos de avaliao de desempenho, mas essesmtodos apresentam falhas e com isso podem acarretar prejuzos e injustiasaos nossos alunos. A avaliao informal mais problemtica ainda, j que almdos problemas na avaliao formal, acrescenta-se o fato de no seregistrar nada do que foi acordado e nem do que foi realizado, podendo essaavaliao ser excessivamente subjetiva e injusta.Com a concorrncia cada vez maior e mais competitiva as empresasnecessitam de alunos altamente qualificados para atuar no mercado porm,para que isso seja possvel, nossas escolas necessitam treinar melhor os nossos educandos , para que apresentem alto desempenho, por isso a avaliao dedesempenho importante nas escolas e organizaes, pois ela oferece subsidio para futuras contrataes, pois para isto j existe o projeto jovem aprendiz.
16. CONSIDERAES FINAIS
Em relao as Rubrics o objetivo apresentar a proposta de um editor de rubricas, chamado Easy Rubric [Carvalho, 2011], estruturado segundo a especificao IMS Rubric, que visa a proporcionar um uso intuitivo e claro de rubricas, tanto do ponto de vista dos criadores das rubricas quanto dos usurios das rubricas criadas. O Easy Rubric, um aplicativo Web, de fato mais que um editor de rubricas. Alm de permitir que as rubricas criadas sejam preenchidas de forma dinmica pela Web, incorpora algumas funcionalidades de LMSs, para facilitar a validao do editor de rubricas embutido nele. O artigo est estruturado da seguinte forma. Na Seo 2, apresenta-se uma introduo ao conceito de rubricas e padres do IMS-GLC. Na Seo 3, apresentam-se os trabalhos anlogos da literatura. Na Seo 4, apresenta-se a estrutura do Easy Rubric. Na Seo 5, mostra-se a validao do editor de rubricas proposto por meio de um estudo de caso. Finalmente, na Seo 6 apresenta-se a concluso do trabalho desenvolvido. 17. SOBRE RUBRICAS E PADRES DO IMS-GLC O uso de rubricas surgiu nos Estados Unidos por volta dos anos 70 para encaminhar a questo de como avaliar redaes [Popham, 2000]. Nessa poca, as rubricas foram inicialmente idealizadas como check-lists para somente depois se tornarem tabelas. Em ambos os casos elas foram inicialmente feitas mo. Uma rubrica uma ferramenta de avaliao que serve para informar critrios de qualidade de um trabalho e usualmente possui um conjunto de categorias de avaliao ligadas a resultados de aprendizado. Ela permite avaliar a proficincia do avaliado em diferentes nveis e possibilita detalhar a avaliao em um conjunto de indicadores direcionados para diagnosticar problemas especficos e eliminar, ou reduzir, a subjetividade dos avaliadores, que um problema muito frequente, no s na rea acadmica, mas tambm na rea profissional. Os critrios utilizados em uma rubrica devem possuir caracterstica qualitativa e quantitativa, descrevendo assim o que deve ser alcanado em termos de qualidade do desempenho esperado representados por nveis de proficincia de cada aspecto a avaliar e mostrando ainda o indicador numrico de cada desempenho pontuao atribuda a cada nvel de proficincia. Tais caractersticas devem se complementar, visando compreenso e posterior valorao do conjunto de fatores avaliados. De forma geral, uma rubrica formada por duas dimenses. A primeira dimenso geralmente denominada dimenses de qualidade, que podem ser temas, etapas ou o que quer que se pretenda avaliar. A segunda dimenso contempla qualificadores predeterminados em uma escala de pontuao. As dimenses de qualidade so visualizadas nas linhas, a saber, Abordagem do Tema e Anlise de Resultados, e os qualificadores nas colunas, a saber, Ruim, Bom, timo e Excelente, como mostrado na Figura 1.
Figura 1 Exemplo de rubrica.
CRITRIOSEXCELENTETIMOBOMRUIMNOTA
Domnio dos conceitos do contedo e procedimentosConhece os conceitos fsicos envolvidos, aplica de forma clara e sucinta os contedos envolvidos.Conhece os conceitos fsicos envolvidos, mas no aplica de forma clara os contedos.Conhece os conceitos fsicos envolvidos, mas no aplica os contedos de forma alguma.No conhece e nem domina os conceitos fsicos, no entanto constri o termmetro.
Apresentao da experincia e dos objetivos alcanados convincente e se expressacom facilidade,utilizando osconceitos daFsica convincente e se expressa com facilidade, mas no domina os conceitos da FsicaNo consegue se expressar com facilidade pouco coerenteNo articulanem expressasuas idias
Comportamento no grupoContribui, se entrosa bem compartilhando os conhecimentos adquiridosContribui eCompartilha os conhecimentosrazoavelmentecom o grupoContribui e compartilha de maneira superficial com o grupoNo contribuicom o grupopor no fazernada ou porno querercompartilhar seusconhecimentos
Anlises e resultadosMostrou e analisou os resultados de forma clara, objetiva e satisfatoriamenteMostrou e analisou os resultados razoavelmente
Mostrou e analisou os resultados superficial-menteNo Mostrou e analisou os resultados de forma clara , objetiva e satisfatoriamente
A utilizao de rubricas aumenta a consistncia da avaliao, uma vez que indica ao avaliador o que deve ser verificado nos trabalhos dos alunos e o nvel de proficincia de cada tarefa realizada. Alm disso, um ponto importante na considerao de rubricas em avaliaes a visualizao prvia da mesma pelos alunos avaliados, de forma que todos possam saber o que se espera da realizao do trabalho, vendo claramente os critrios considerados no processo de avaliao. Usualmente, a base de uma rubrica utiliza duas dimenses, onde a primeira contempla categorias predeterminadas e a segunda qualificadores, ambas dispostas em uma matriz para atribuio de pontos. Todavia, devido grande quantidade de trabalhos com vrios avaliadores de diferentes graus de importncia, torna-se extremamente vlida a adio de uma nova dimenso tcnica usual de rubricas, em que se consideram os diversos perfis dos avaliadores de trabalhos [Mendes et al., 2010]. No cenrio educacional atual, o IMS Global Learning Consortium (IMS-GLC), um dos principais fruns de padronizao de artefatos educacionais [IMS-GLC, 2011]. Dentre os padres propostos pelo rgo, o IMS Learning Design [IMS-LD, 2011] pode ser definido como um arcabouo de elementos que podem descrever qualquer cenrio de um processo de aprendizagem de uma maneira formal, atravs da trade Papel Atividade Ambiente. Ainda no contexto deste trabalho, ainda so relevantes as especificaes IMS e Portfolio [IMS-EP, 2011] e IMS Rubric Specification [IMS-RS, 2011], onde a primeira define a abordagem de construo de e Portfolios modos de apresentao de desenvolvimento e aprendizado de um estudante utilizando recursos multimdia e a segunda define a elaborao de rubricas, levando em conta que elas so parte de um e Portfolio. Por ltimo, outra importante especificao do rgo a IMS Content Package [IMS-CP, 2011], til para descrever objetos de aprendizagem [Bettio e Martins, 2004] que podem ser usados para reutilizao de contedo desenvolvido para LMSs. Para importao e exportao de contedos educacionais, possvel utilizar o IMS Content Package, listando, por exemplo, uma rubrica seguindo o padro IMS Rubric como recurso.
18. TRABALHOS ANLOGOS
Para criao e utilizao de rubricas pelas entidades interessadas, os editores de rubricas devem reunir as funcionalidades necessrias a todo o processo de avaliao envolvendo as mesmas. Os seguintes editores de rubricas, descritos abaixo, foram identificados na literatura: RubiStar [2011], eRubric [2011], iRubric [2011], WebRubric [Mendes et al., 2010] e QTI-Rubric [Santos et al., 2009]. O RubiStar um editor de rubricas que usa templates prontos para usurios editarem e assim criarem suas prprias rubricas [2011]. Tal uso bastante intuitivo, mas pouco flexvel. No segue nenhum padro IMS-GLC e a utilizao de rubricas em seu ambiente pouco interativa. Alm disso, a criao de dimenses e qualificadores feita facilmente, mas atribuindo apenas valores por coluna e no podendo definir nomes de qualificadores. O eRubric na verdade um arquivo do Microsoft Office Word que possui macros e rubricas prontas a serem usadas como modelo, com valores de preenchimento calculados aps o uso [2011]. Portanto, seu uso pouco flexvel e possui interatividade nula. Alm disso, devido a sua concepo ser em Word, seu uso pode gerar erros que os usurios podem no saber resolver. O iRubric possui interface para criao e edio bastante intuitiva, possvel criar qualificadores e categorias facilmente, atribuindo pesos por coluna e por linha, definindo nomes para todos os campos possveis [2011]. A estrutura das rubricas bem feita e a publicao de rubricas facilmente compartilhada. No entanto, no segue nenhum padro IMS-GLC. A aplicao das rubricas tambm simples, gerando bastante interatividade no processo. O WebRubric um software Flash gerado a partir da idealizao da terceira dimenso numa rubrica e possui tal ponto como vantagem [Mendes et al., 2010]. possvel criar qualificadores e dimenses facilmente. No entanto, pode-se atribuir pesos apenas por coluna e no se pode definir nomes para qualificadores. Dessa forma, ele pouco flexvel na criao de rubricas e no completamente intuitivo no seu uso. Alm disso, no segue nenhum padro IMS-GLC e a utilizao das rubricas em seu ambiente, apesar de completa, no muito interativa e um pouco confusa. O QTI-Rubric um editor que utiliza o padro IMS QTI para manuteno de rubricas [Santos et al., 2009]. Dessa forma, possui a vantagem de ser til para reutilizao de informaes pelos usurios das rubricas. Seu uso pouco flexvel, contudo, e tem gradaes de resultados j bem definidas, sendo os resultados de dimenses ligados a pontuao de perguntas respondidas pelos alunos. Assim, seu uso interativo e automtico, mas a edio de rubricas presa ao modelo definido pelo software.
19. ESTRUTURA DO EASY RUBRIC O Easy Rubric um aplicativo Web com algumas funcionalidades de LMS, composto dos seguintes componentes: login, editor de rubricas no padro IMS-RS, executor de rubricas no padro IMS-RS, gerenciamento de rubricas e a elaborao de avaliaes, que so trabalhos com grupos de candidatos a serem avaliados e avaliadores. Trabalhos so atividades de aprendizagem a serem avaliadas por meio de rubricas. As rubricas seguem a especificao IMS Rubric, inicialmente adicionando tipos de avaliadores e seus respectivos pesos, que representam a terceira dimenso adicionada estrutura da rubrica. Sua utilizao ser feita pelo usurio caracterizado por criador, que representa quem criou a rubrica e pode edit-la. O software pode ser utilizado tanto para edio de rubricas, quanto para seu uso aplicado por avaliadores e candidatos quaisquer, quando se faz uso do executor de rubricas. Uma rubrica criada neste contexto apresentada pelo executor de rubricas, de modo que o avaliador pode preench-la online e os dados assim introduzidos so armazenados pelo executor na representao interna da rubrica em execuo. As avaliaes, que so a real utilizao das rubricas com seu preenchimento completo, devero ser designadas pelo criador da rubrica para usurios denominados avaliadores, atravs de criao de trabalhos com grupos de candidatos a serem avaliados e avaliadores. Dessa forma, os avaliadores preenchem a rubrica definida pelo trabalho correspondente e os resultados so disponibilizados para serem visualizados tanto pelo criador quanto pelo candidato. A determinao de avaliador representa ento que tal usurio aquele capaz de realizar avaliaes. Vale frisar que o candidato pode ou no saber quem o avaliou, questo esta definida a priori pelo criador do trabalho ou atividade de avaliao. Alm disso, o usurio criador de uma rubrica que deve ser associada a um trabalho que tentar edit-la nesse nterim no conseguir, pois a mesma permanece bloqueada at a finalizao do trabalho de avaliao. Aps esse ponto, a edio da rubrica poder ser feita sem alterar os resultados anteriores. Em sntese, os usurios do Easy Rubric foram classificados nos seguintes tipos ou papis: Criador (usurio professor ou instrutor, responsvel por criar rubricas, grupos e trabalhos, designando avaliadores e candidatos), Avaliador (usurio que pode participar de grupos e realizar avaliaes de candidato