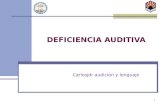Compreendendo a família de criança com deficiencia fisica
-
Upload
reni-barsaglini -
Category
Documents
-
view
218 -
download
3
description
Transcript of Compreendendo a família de criança com deficiencia fisica
-
PESQUISA ORIGINALRESEARCH ORIGINAL
68
Rev Bras Crescimento Desenvolv Hum. 2006;16(1):68-84
COMPREENDENDO A FAMLIA DA CRIANA COMDEFICINCIA FSICA
UNDERSTANDING THE FAMILY OF THE PHYSICALLY DISABLED CHILD
Sumaia Midlej Pimental S*
Elaine Pedreira Rabinovich**
S SMP, Rabinovich EP. Compreendendo a famlia da criana com deficincia fsica. Rev BrasCrescimento Desenvolv Hum. 2006;16(1):68-84.
Resumo: Este trabalho procurou identificar de que forma famlias de baixa renda se reestruturamaps o nascimento de uma criana com deficincia fsica determinada por Encefalopatia Crnicada Infncia. Trata-se de um estudo descritivo de cunho qualitativo que empregou a tcnica deanlise de contedo agrupado em eixos temticos construdos a partir da leitura e anlise deentrevistas. Foram selecionadas 08 (oito) famlias nucleares em cujo seio houvesse uma crianacom deficincia fsica que freqentasse uma clnica escola de Fisioterapia em Salvador, Bahia,2004. Pais e mes destas crianas (onze) responderam um instrumento de pesquisa na forma deentrevista semi-estruturada, acrescida de levantamento sobre o contexto scio-econmicocultural. Vrias so as dificuldades enfrentadas pela famlia, dentre elas a perda do objeto dodesejo, a reduo da renda e dos contatos sociais e o desequilbrio emocional, sendo esses osfatores internos e externos que colaboram para aumentar o estresse familiar. As famlias reagiram adversidade, estabelecendo estratgias para adaptao e construo de solues. Concluiu-seque novas formas de reestruturao ocorreram para manter o equilbrio. Torna-se necessrio umamaior mobilizao da famlia e da sociedade na criao e/ou manuteno de polticas pblicas quevalidem o deficiente fsico como sujeito e cidado e pesquisas focalizando a dinmica dofuncionamento familiar para que seja possvel avaliar melhor o impacto da deficincia fsica naestrutura familiar.
Palavras-chave: Famlia. Criana. Encefalopatia Crnica da Infncia. Deficincia fsica. Papisfamiliares.
INTRODUO
O presente estudo analisou, a partir dareviso da literatura e de dados empricos, comoocorre a reestruturao da famlia quando h onascimento de uma criana com deficincia fsi-ca. Procurando entender seus anseios, seusmedos e o processo de sua desestruturao eposterior reestruturao, esperamos adquiriruma melhor compreenso dos fatos que influ-
enciam o desenvolvimento neuropsicomotor dacriana com deficincia fsica e sua posteriorsocializao.
Durante sculos, os deficientes foramchamados de invlidos, termo que significaindivduo sem valor, ou seja, o invlido eratido como socialmente intil, um fardo para afamlia e para a sociedade. Hoje, porm, pre-coniza-se o termo pessoa com deficincia porter sido o desejado pelos movimentos mundiais
* Parte da dissertao apresentada ao Mestrado em Famlia na Sociedade Contempornea da Universidade Catlica doSalvador de autoria do primeiro autor e orientado pelo segundo autor intitulado: No dia a dia ... a luta: a famlia dacriana com deficincia fsica. Salvador; 2005. [email protected]
* * Dra. em Psicologia Social, Universidade de So Paulo(USP). (UCSAL)
-
6 9
Rev Bras Crescimento Desenvolv Hum. 2006;16(1):68-84Sumaia Midlej Pimental S, et al.
de pessoas com deficincia, incluindo o Brasil1.No imaginrio social, ora o deficiente
percebido como debilitado e frgil, ora comoalgum com muita coragem e fora de vontade.Mesmo quando contextualizada social, culturale temporalmente, a deficincia traz consigo for-te carga emocional s pessoas envolvidas noprocesso - pais, crianas e demais familiares2,3,4.
Dados colhidos pela Organizao dasNaes Unidas (ONU) revelam que 10% dapopulao mundial composta por pessoasdeficientes, a saber: 5% de deficincia mental;2% de deficincia fsica; 1,5% de deficinciaauditiva; 1% de mltiplas deficincias e 0,5%
de deficincia visual. Das pessoas com defici-ncia, 32% so mulheres, 28% so crianas.Para a ONU, o nmero estimado continua aacompanhar o crescimento da populao, mes-mo com o avano da tecnologia na sade, de-vido a guerras e pobreza (ONU, 1983 apud5).
Observam-se discrepncias entre os n-dices recomendados pela OMS e a realidadeno Brasil. No Brasil, o resultado da amostra doCenso demogrfico de 20006 constata que, datotalidade das pessoas com deficincia, 4,1%tm deficincia fsica. (Tabelas 1). Entre a po-pulao com deficincia fsica, 141.794 so cri-anas com idade entre 0 a 14 anos.
Tipo de deficincia Tipo de deficincia e distribuio percentual dos casos de deficincia (%) Brasil Norte Nordeste Sudeste Sul Centro - Oeste Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Deficincia Mental Permanente
8,3 6,6 7,4 9,4 8,0 8,4
Deficincia Fsica 4,1 3,6 3,5 4,6 4,5 4,4 Deficincia Motora 22,9 19,8 22,6 23,9 23,7 20,2 Deficincia Visual 48,1 55,2 49,9 45,6 45,0 50,7 Deficincia Auditiva 16,7 14,8 16,7 16,4 18,7 16,7
Tabela 1 - Distribuio percentual dos casos de deficincia, por grandes regies, segundo o tipo dedeficincia, 2000.
Fonte: IBGE (2002). Nota: As pessoas com mais de um tipo de deficincia foram includas em cada uma dascategorias correspondentes.
A situao socioeconmica da pessoacom deficincia facilita uma maior ou menoracessibilidade ao tratamento, o que geralmenteinclui a necessidade de adquirir orteses ou au-xiliares de locomoo, como cadeira de rodasou adaptaes, entre outras, como tambm aacessibilidade escolarizao e ao lazer, tor-nando freqentemente sua incapacidade maisacentuada, limitando sua independncia nas ati-vidades da vida diria e sua autonomia, com-prometendo assim sua integrao e socializa-o7,8,9.
Historicamente, no Brasil, as pessoas comdeficincia, tm sido triplamente excludas dasociedade: pela deficincia, pelo preconceito epela pobreza. O processo de incluso exige quehaja transformaes no somente no ambientefsico, como tambm na mentalidade das pes-
soas, devendo a sociedade se adaptar para in-cluir as pessoas com deficincia e prepar-laspara assumir sua cidadania. 10,11,12,13.
Entre as deficincias fsicas que acome-tem a criana na primeira infncia, a mais co-mum a Encefalopatia Crnica da Infncia(E.C.I.), tambm conhecida como ParalisiaCerebral. A E.C.I. uma doena crnica decarter no evolutivo, porm o curso natural dasleses de longa durao, necessitando a cri-ana de tratamento prolongado. Tem efeitos noapenas sobre o crescimento e o desenvolvimen-to fsico, mas tambm sobre a destreza, a per-sonalidade, a capacidade cognitiva, as atitudespessoais e sociais do paciente, as emoes e asinteraes da famlia14.
A E.C.I. uma condio com mltiplasetiologias, sendo que alguns fatores aumentam
-
7 0
Rev Bras Crescimento Desenvolv Hum. 2006;16(1):68-84Sumaia Midlej Pimental S, et al.
o risco para determin-la. As causas podem serpr-natais perinatais e psnatais14.
O tratamento da E.C.I. realizado poruma equipe interdisciplinar devido a seus mlti-plos comprometimentos. Em nosso meio, o tra-tamento interdisciplinar falho devido ao custoe carncia de polticas pblicas que favore-am ao atendimento integral da criana comdeficincia fsica. Em geral, o prognstico di-retamente relacionado capacidade de inde-pendncia funcional e de comunicar-se14.
A criana com deficincia fsica, por se-qela de E.C.I., objeto do nosso estudo, car-rega consigo o defeito que percebido logoao v-la, ficando e tambm sua famlia -exposta a invases da privacidade e aos efei-tos da curiosidade alheia.15,16, As limitaesda acessibilidade que restringem a autonomiada pessoa com deficincia e a ausncia depolticas pblicas voltadas para a rea, fazemcom que muitas vezes a deficincia seja, noplano coletivo ou individual, confundida comincapacidade, diminuindo tentativas de inte-grao ao meio, ocasionando restries denatureza social.
A famlia como agncia de socializao,proteo e participao
Apesar de todas as modificaes pelasquais tem passado a sociedade e, concomitan-temente, a famlia, esta continua como micro-clula da sociedade humana e a unidade bsicado desenvolvimento infantil17. Portanto, paracompreender a dinmica e funcionamento fa-miliares, deve-se focaliz-la dentro de um con-texto ecolgico mais amplo.
A famlia o principal agente da socia-lizao primria e onde se produzem relaesde cuidado entre os seus membros atravsda proteo, do acolhimento, respeito indi-vidualidade e potencializao do outro. Emcada famlia, existem valores transmitidos degerao em gerao, envolvendo afeto e iden-
tidade. na famlia que o beb estabelece os
primeiros vnculos afetivos que o levaro ater autoconfiana e confiana nas pessoas,desenvolvendo sua independncia. Para tal,o beb conta, a princpio, com a me (ou dafigura cuidadora) que assegura o primeiro vn-culo, com o pai, irmos, avs ou pessoas quecomplementam a funo materna e familiar.O padro de apego estabelecido na infnciaseria vital na vida adulta pois, atravs dele,os vnculos se tornaro mais duradouros, ge-rando na criana competncia social, emoci-onal e cognitiva4,18,19,20.
A famlia a qual pertence a criana comdeficincia exerce importante papel contrapon-do-se sua marginalizao. Tem a importantefuno de proporcionar a esta criana tornar-se sujeito desejante, uma pessoa que possatransformar seus impulsos em desejos, buscan-do realiz-los - dentro do quadro de sua dife-rena e por meio dela.
A rede de apoio familiar favorece a for-mao de vnculos e estruturao da vida dacriana com deficincia fsica ampliando suaspossibilidades a partir da auto-estima advindada afetividade. Esta rede, no pode, portanto,ser ignorada no referente ao desenvolvimentoe socializao dessa criana.
Por meio das relaes de cuidado, a fa-mlia transmite valores como os de tolerncia erespeito s diferenas, corroborando para umdesenvolvimento adequado, especialmentequando os servios sociais so inadequados eas polticas pblicas insuficientes13,20,21.
Tambm a famlia sente-se estigmatiza-da, passando por uma desestruturao inicial,que ter sua intensidade diretamente proporci-onal ao estgio de desenvolvimento em que ela(a famlia) estiver na ocasio. Necessita para sereestruturar do apoio das pessoas de suas rela-es (parentes, amigos, vizinhos), que podemauxili-la a acreditar em seus prprios recur-sos, favorecendo sua auto-estima e diminuindo
-
7 1
Rev Bras Crescimento Desenvolv Hum. 2006;16(1):68-84Sumaia Midlej Pimental S, et al.
seu estresse22.A resposta que a famlia dar a este de-
safio depender das experincias passadas, dasituao econmica, bem como dos anteceden-tes tnicos e das relaes familiares, entre ou-tras influncias, o que, por sua vez, determinarse o desafio de criar, cuidar e educar sua crian-a ser enfrentado. A famlia poder apresentardificuldades em cumprir seu papel social deeducar indivduos para participar ativamente dasociedade atual que enfatiza aspectos como efi-cincia e eficcia23.
Freqentemente, observamos nos pais odesejo de que seus filhos possam alcanar tudoo que lhes foi negado no plano social e profissi-onal. Buscaglia16 afirma que antes que as crian-as nasam ou sejam concebidas, seus pais jdecidiram quem elas sero quando crescerem.Os pais tendem a mostrar atravs da criana omelhor de si, desencadeando, quando do diag-nstico de uma deficincia, uma crise vital nafamlia.
Assim, o impacto do nascimento de umacriana com deficincia altera a dinmica fa-miliar, cada membro da famlia vivenciando demaneira particular a chegada dessa criana, po-dendo frustrar ou adiar projetos familiares e/ou pessoais e perspectivas de estudo ou detrabalho. Ir ainda exigir mudanas de papise buscas de estratgias para enfrentar o pro-blema.
O objetivo do presente estudo foi inves-tigar como se d a reestruturao familiar quandodo nascimento de uma criana com deficinciafsica, advinda de Encefalopatia Crnica da In-fncia em famlias de baixa renda.
Por meio deste estudo, tem-se o intuitode contribuir para um melhor entendimento dasimplicaes advindas do nascimento desta cri-ana na famlia, assim como oferecer subsdi-os para minimizar o sofrimento dos pais e au-mentar a competncia dos profissionais que tra-balham na habilitao de crianas com defici-ncia fsica.
MTODO
Optou-se por uma metodologia de car-ter qualitativo e descritivo de estudo de casopor possibilitar um maior aprofundamento pormeio da anlise do contedo24.
O carter descritivo do estudo teve comobase no apenas as verbalizaes produzidasnas entrevistas, como tambm as observaesetnogrficas do comportamento dos entrevis-tados no contexto do ambiente familiar ondeocorreram as entrevistas.
As entrevistas foram conduzidas de modoa realizar uma descrio das alteraes produ-zidas na estrutura familiar ante o evento da En-cefalopatia Crnica da Infncia e do seu modode (des)estruturao e (re)estruturao conse-qente crise por ela desencadeada.
Procedimento
Foram selecionados pais de crianas de-ficientes fsicas por Encefalopatia Crnica daInfncia como informantes-chave, freqentado-res da UNAFISIO (Unidade de Assistncia emFisioterapia), cujos filhos estivessem h mais detrs meses em tratamento. Em virtude da abor-dagem metodolgica, a seleo dos informan-tes-chave foi proposital. Foram excludas aque-las cujos filhos tambm tiveram diagnstico depatologia mltipla e que viviam em orfanato.
A UNAFISIO uma clnica escola docurso de Fisioterapia da Universidade Catlicado Salvador, que presta atendimento gratuito populao de baixa renda. Ela foi escolhida porprestar atendimento de qualidade a crianascom a patologia de interesse e pelo fato de aautora do estudo no pertencer ao quadro deterapeutas, de modo a permitir um certo nvelde neutralidade no tipo de informao a sercoletada sobre a fase ps-diagnstico.
Foram selecionadas oito famlias nuclea-res e pais e mes, separadamente, forneceraminformaes em suas residncias. Houve recu-
-
7 2
Rev Bras Crescimento Desenvolv Hum. 2006;16(1):68-84Sumaia Midlej Pimental S, et al.
sa de cinco pais e nenhuma recusa de partici-pao no estudo de mes. O depoimento dasmes foi muito abrangente, contemplando to-dos os temas propostos na entrevista.
A deciso de que a criana estivesse hmais de trs meses em tratamento deveu-se aofato de que, ao iniciar o tratamento, o diagns-tico fsico funcional realizado e, aps este pe-rodo, os pais provavelmente j vivenciaram asfases iniciais de adaptao ao diagnstico.
Um roteiro de entrevista semi-estrutura-da, acrescida de um levantamento sobre o con-texto socioeconmico e cultural, foi previamentetestado. Tal roteiro procurou estimular o depo-imento livre a partir das mudanas que ocorre-ram na famlia em vrios aspectos com a che-gada do filho com deficincia. Informaes so-bre o momento do diagnstico e o incio do tra-tamento foram solicitadas, bem como informa-es sobre a reestruturao da famlia com re-lao aos cuidados, preocupaes e desafiosimpostos pela patologia do novo membro dafamlia.
A pesquisadora, aps ser apresentada famlia pelo terapeuta da criana, informou so-bre a pesquisa. As famlias assinaram o termode consentimento livre e esclarecido, sendo-lhesgarantidos o anonimato e a confidencialidadedos dados obtidos, com a utilizao de nomesfictcios.
As entrevistas foram realizadas pela pes-quisadora, munida de gravador Walk SoundAM/FM, marca NKS, e caderno de anotaesde campo. Logo aps cada entrevista, a pes-quisadora gravava suas impresses do local edo comportamento dos entrevistados. As en-trevistas tiveram durao mdia de 45 minutos(a mais curta durou 30 minutos e a mais longa80 minutos), sendo todas transcritas ipis literisposteriormente.
Tratamento e anlise dos dados
Para a anlise de dados, empregou-se a
tcnica de anlise de contedo, que consiste numconjunto de procedimentos de tabulao e or-ganizao de dados discursivos. Tal abordagemtem o poder de refletir a totalidade24 e poderfornecer um quadro mais abrangente e inclusi-vo dos elementos presentes na reestruturaoda famlia. Completando-se as informaesoriundas e coletadas das entrevistas, procurou-se sumarizar os dados sociodemogrficos dafamlia.
Aps a leitura das entrevistas, organiza-das em torno de eixos temticos sugeridos pelaleitura e anlise das entrevistas, buscou-se defi-nir as categorias empricas que emergiram dosdiscursos dos sujeitos entrevistados. Para a se-leo das categorias, procurou-se identificar as-pectos recorrentes, convergentes ou divergen-tes, assim como as excees. Trechos compila-dos foram utilizados de modo a esclarecer o con-tedo de cada uma das categorias e permitir umaanlise comparativa com as pesquisas e demaisestudos j realizados por outros autores.
RESULTADOS E DISCUSSO
Dos 11 (onze) pais entrevistados, oitoeram do sexo feminino (72,7%). A idade dospais variou entre 22 a 50 anos, sendo que oitotinham idade entre 22 e 32 anos (72,7%). Ospais entrevistados tinham escolaridade baixa oumdia, sendo a renda familiar per capita de setefamlias (87,5%) abaixo de um salrio mnimo.
Com relao s crianas, na sua maioria(75%) tinham idade de zero a cinco anos, sen-do que cinco eram primognitos (62,5%)
Apresentando a criana portadora dedeficincia famlia: sonhos e desiluso
[...] porque me e pai sempre quer ofilho perfeito, saudvel [...]. (CLADIA1)
A famlia no se forma quando um casaltem um filho, j existe com a juno de um ho-
-
7 3
Rev Bras Crescimento Desenvolv Hum. 2006;16(1):68-84Sumaia Midlej Pimental S, et al.
mem e de uma mulher, possuindo muitas vezesuma estrutura estvel, com papis bem defini-dos. A chegada de uma criana exige que sereformule este conjunto, com um deslocamentode afeio, passando o vnculo de dois para umvnculo a trs.
Cada filho ao nascer traz consigo o quefundamentou o encontro de seus pais e da his-tria familiar de cada um deles4. Ao nascer umacriana com deficincia, o real vai de encontroaos sonhos e os pais encontram-se diante deuma nova realidade, uma situao traumtica,desestabilizante, um desafio.
Foi difcil demais... acho que at hojeeu no superei porque eu ando assim, s ve-zes me d uma vontade de chorar, no sei oque me d [...] (HLIA)
[...] sofrer foi quando eu cheguei noberrio e vi J.V. todo cheio de aparelho, todoroxo [...] (ELIANA)
[...] e j teve momento dela fraquejar,de eu olhar pra ela assim, ela desabar assimna minha frente e chorar. (GABRIEL)
Passam por um perodo de luto devido projeo dos pais nos filhos: sentem-se enver-gonhados, sofrem um golpe na sua auto-esti-ma, acompanhado geralmente de um sentimen-to de culpa. O impacto do nascimento de umacriana deficiente evidencia, nos pais, suas d-vidas em relao sua capacidade de agir, deproduzir algo bom, comprometendo a forma-o do vnculo, a aceitao do filho e a com-preenso das informaes, mudando radical-mente o curso de vida e a organizao destafamlia, sua rotina, seus sonhos, seus projetos,seu lazer:
[...] mas o que a gente v, o que a genteanda, infelizmente, eu no sei se uma mai-oria ou uma minoria que a gente ainda vmuita mes sozinhas, e os pais... com vergo-nha [...] (GABRIELA)
Bem, houve uma mudana geral nasnossas vidas, a partir da... do que tomamosconscincia do que realmente a gente tinha
um problema srio [...] (EDSON)A extenso e a profundidade do impacto
desse nascimento no esto determinadas ape-nas por questes biolgicas, envolvidas em umarelao sade-doena. A limitao das ativida-des da criana, ou seja, a extenso da lesotem um impacto maior do que o prprio diag-nstico mdico. A desestruturao da famliavaria de acordo com o tipo e o grau da defici-ncia, e tambm com a forma da tomada deconhecimento de sua existncia. Freqentemen-te as informaes sobre a deficincia, seu graude comprometimento, o prognstico e as po-tencialidades da criana chegam aos pais im-pregnados de preconceitos, discriminaes eequvocos; O momento do diagnstico deli-cadssimo; d-se uma sentena que muda ostatus da criana, traando uma linha divis-ria entre o normal e o anormal: de uma pes-soa normal, com um futuro brilhante, indepen-dente, produtiva passa a uma pessoa anormal,deficiente, que traz consigo tudo o que a pala-vra compreende de inadequao, de impossi-bilidade de realizao, destruindo os sonhos eesperanas depositados na criana pelos pais.
Acolher e apoiar a famlia, oferecer ori-entaes claras, mostrar alternativas e possibi-lidades para otimizar o desenvolvimento da cri-ana so possibilidades de abertura e suaviza-o de um caminho, certamente difcil, que paise criana devem percorrer25,26.
Nossa, foi um choque! Sai do consul-trio mdico, quase levei a cadeira nos ps...chorei para caramba, depois comecei sain-do, comecei vendo as coisas assim, tem pro-blema pior, n? (DANIELA)
[...] A, pronto, o mundo pra gente aca-bou, n? (GABRIELA)
A criao, o passado e a filosofia de cadaum dos membros da famlia encaminham comovai ser interpretada a deficincia e, quanto maisa percepo da doena em uma famlia tivercarter negativo, mais complexas sero as rela-es interpessoais junto criana portadora de
-
7 4
Rev Bras Crescimento Desenvolv Hum. 2006;16(1):68-84Sumaia Midlej Pimental S, et al.
deficincia fsica27,28.[...] no que eu no goste, que mi-
nha natureza, no gosto nem de olhar, nemde ver, porque... (ELIANA)
No um bicho de sete cabeas no,pra mim no. (ANA)
A aceitao da criana e o processo dereestruturao da famlia dependem, em parte,de como os pais entendem o diagnstico, atri-buindo a ele um significado para suas vidas e deseu filho. A responsabilidade no momento dodiagnstico torna-se grande e deve sempre seracompanhada das possibilidades teraputicas.Assim [...] curiosamente, a aceitao ajuda adigerir a dor, o que talvez explique como possvel poder aceit-la com naturalidade e atcom alegria 4 (p. 107).
[...] Ns passamos por aquele momen-to assim de impacto... depois resolvemosabraar o problema...vumbora para afrente. (GABRIEL)
No momento, em que os pais se sentemdesafiados e saem em busca da resoluo deproblemas, sentem-se motivados a lutar pelocrescimento e desenvolvimento de seus filhos.Inaugura-se, a partir da, um novo pai e umanova me.
Quanto idade da criana com que afamlia recebeu o diagnstico, registrou-se que:em quatro famlias (50%), ocorreu at o tercei-ro ms de vida da criana; em duas famlias(25%) isto se deu entre trs e seis meses e emduas famlias (25%) este diagnstico foi confir-mado aps seis meses de vida da criana.
No foram encontradas diferenas quantos reaes entre os que receberam o diagnsti-co precocemente e os que o receberam maistardiamente; em ambos os casos houve muitosofrimento, dor, ressentimento, como evidenci-ado nos relatos acima .
Elaborao do luto
Foi difcil demais... acho que at hoje
eu ainda no superei porque eu ando assim,s vezes me d uma vontade de chorar, nosei o que me d [...] (HLIA)
O processo de luto, conseqncia natu-ral aps a perda do beb idealizado, ser maisintenso segundo o nvel de expectativa que ospais tiveram em relao ao futuro da criana,da posio da criana na prole, do relaciona-mento dos pais com a famlia de origem e entresi antes do nascimento da criana, alm do graude preconceito em relao deficincia. Fre-qentemente os pais no esto preparados paraeste tipo de experincia, que envolve frustra-es, incertezas, perda da auto-estima, precon-ceito e marginalizao, exigindo uma peregri-nao por ambientes estranhos e situaes com-preendidas como ameaadoras, tornando maisdifcil ainda a compreenso dos fatos4,28.
Recusam-se, inicialmente, a aceitar o fato,para depois sentir raiva, culpa ou revolta15,29. Aimpossibilidade de uma vida plena, com a pos-svel perda de seus sonhos e objetivos anterio-res deficincia, tende a aprisionar criana efamiliares numa rede formadora de barreirasatitudinais: preconceitos, esteretipos e estig-mas28.
[...] Eu quero que ela no se sinta me-nosprezada por ningum, ningum, ningumvai falar nada com ela, ningum pode dizerque ela isso, que aquilo [...]. (CLADIA).
[...] A gente no t ali naquela situa-o porque a gente quer, a gente no t alialegre e sorridente...ningum escolhe [...].(GABRIELA).
[...] Tem pessoas no, que so discre-tas, outras j no sabem, porque tem genteque aproxima de voc, brinca mais, sabem oque , mas no pergunta, no magoa, nolhe agridem... eu me acabo, a voc tem quese segurar pra no chorar junto e depois pi-sar (HLIA)
Observamos a preocupao nos pais re-lacionada ao estigma da deficincia; em suasfalas referem o constrangimento sentido pelos
-
7 5
Rev Bras Crescimento Desenvolv Hum. 2006;16(1):68-84Sumaia Midlej Pimental S, et al.
olhares, gestos, atitudes e palavras direciona-dos criana, ao mesmo tempo h uma ten-dncia, por parte dos pais, a proteger a crianada curiosidade e do desprezo das outras pes-soas. A diferena, visvel fisicamente, faz comque os pais vivenciem o preconceito conformerelatou Daniela, ao criticar a professora que noaceitou sua filha na escola, alegando que a fisi-onomia dela era diferente e chamaria a atenodas outras crianas.
Eu fui em outra, mais longe um pou-quinho que no aceita A [...] falaram que Atinha um problema, que no pro jeito de Aser, mas a fisionomia [...] (DANIELA).
Quantas pessoas so normais, e a fisi-onomia diferente! (DANIELA)
Segundo Goffman15, o termo estigma eraatribudo pelos gregos aos sinais feitos no cor-po como uma forma de marcar uma pessoa.No caso da deficincia fsica, a diferena podeser percebida ao olhar a criana, o indivduosendo percebido de forma depreciativa; os paissentem-se expostos em sua privacidade face osolhares do outro, a curiosidade, o preconceito,a ajuda desnecessria ou no desejada, a abor-dagem na rua por parte de estranhos.
O adiamento do luto, por outro lado, trazmais sofrimento, pois a angstia no vivida ple-namente impede que a famlia mobilize recursosprprios. Quando a famlia faz contato com ador real, ao invs de produzir mais sofrimen-to, desmistifica-o e uma forma de preparar-se para, de algum modo, super-la.
Aps esta fase inicial de luto, os pais en-tram em um processo de adaptao, onde seobserva uma instabilidade emocional que seapresenta por meio de oscilaes entre aceita-o e rejeio; posteriormente, ao se sentiremmais seguros, lidam melhor com a criana, apro-ximando-se afetivamente desta. importanteque os pais possam viver o choro, a tristeza, oluto pelo filho imaginrio, sem que lhes seja ti-rada a esperana, e no percam a credibilidadeem si mesmos e no filho.
Posteriormente, encontram-se num mis-to de tristeza, raiva e revolta: o momento doisolamento, quando, por no aceitar a deficin-cia do filho no conseguem dividir ou comparti-lhar a dor. Ocorre tambm a experincia da fal-ta de habilitao, porque a famlia, por no acre-ditar na sua capacidade de lidar com a criana,no consegue estabelecer um bom cuidar; fica-se irritado e revoltado contra tudo e contra to-dos. Neste momento os pais podem pensar emseu problema, na sua criana, aprender sobresi mesmo, adaptarem-se situao e alcana-rem uma nova compreenso daquilo que im-portante e merece ser buscado na vida4,15.
Modos de enfrentamento
Uma vez diante do problema, a famliadesenvolve mecanismos prprios para enfren-t-lo; estes mecanismos variam de acordo comas crenas culturalmente instaladas e com a ofer-ta e disponibilidade de recursos scio-sanitri-os. Diante desta nova situao, bem provvelque haja um choque, uma descrena; as famli-as podem tornar-se tensas, desorganizadas,conflituosas, chegando a fragmentar-se com aseparao dos pais, ou mesmo o esquecimen-to do outro filho (BASTOS; TRAD apud 30).
[...] porque ns no sabamos a quemrecorrer, no sabamos a quem procura [...](EDSON)
[...] .foi que eu cheguei aqui quasedoida, acho que Tereza (a fisioterapeuta dacriana) pensou que eu...cheguei l j falan-do com ela, j chorando, tava to angustia-da, tinha quase um ms que eu tava aqui semconhecer nada [...]. (HLIA).
A situao pode tornar-se tensa, incertae ambgua para todos, a me pode sentir-seabandonada e pode abandonar o cnjuge. Aesta fase, segue-se a negao, quando no possvel aceitar que isto tenha acontecido como seu filho e nada do que se possa esclarecerrelacionado ao diagnstico e/ou prognstico da
-
7 6
Rev Bras Crescimento Desenvolv Hum. 2006;16(1):68-84Sumaia Midlej Pimental S, et al.
criana interiorizado ou aceito pela famlia.Parte-se do pressuposto de que nada pode ouprecisa ser feito pela criana.
Numa das famlias estudadas, ocorreuuma separao do casal quando a criana tinhaseis meses e a reconciliao aps um ano e, emoutra, o pai referiu claramente o esquecimen-to do outro filho.
[...] Porque eu acho que deve ter sidoum choque muito grande para ele, e ficousem me apoiar tambm, e eu acabei me abor-recendo n? e, o que aconteceu que eu aca-bei me separando dele ( DANIELA)
[...] Ela sente cime por causa disso,n? [...] ns nos preocupamos com ela, mascomo J.V. ele necessita de mais cuidado, agente fornece, e ela fica bastante mais es-quecida. (EDSON).
Cada membro da famlia pode apresen-tar, no incio, diferentes nveis de envolvimentocom a criana com deficincia fsica e com osdemais membros da famlia (irmos, cnjuge),podendo negligenci-los ou afastar-se por fi-xar-se em fases iniciais de choque ou negao.
Regresso, negao, medo, resignao,revolta e retraimento so reaes adaptativassaudveis, na medida em que concedem fa-mlia tempo e espao para criar energias e en-contrar o caminho para um novo equilbrio. Seeste equilbrio no advier, toda a estrutura fami-liar continuar afetada.
Eu esqueci de mim, e agora s estoucuidando dela (CLUDIA).
[...] eu prefiro ficar com minha famlia,se eu tiver que sair, sai ns trs, uma praia,s vezes um lazerzinho assim. (GABRIEL).
As famlias de crianas com deficinciatendem a experimentar um sentimento de serdiferente de outras famlias, de estarem impos-sibilitadas de viver o universo de experinciasnormais. Estas famlias, sentindo-se estigmati-zadas, culpadas, castigadas, experimentam umareduo global nos contatos sociais. Esta redu-o pode dar-se devido ao desejo da me de
sozinha cuidar da criana, sobrecarregando-ae aumentando seu estresse, ou inseguranaquanto a expor a criana aos olhares e cuida-dos dos outros.
Poder haver mudanas no comporta-mento de pessoas prximas famlia, pois adeficincia no afeta apenas a famlia como tam-bm os outros elementos prximos ao grupofamiliar (parentes, amigos). Tal mudana pode-r ter explicao no estigma.
[...] em geral a tendncia para a difusode um estigma de indivduo marcado para assuas relaes mais prximas explica por que taisrelaes tendem a ser evitadas ou a terminar,caso j existam.15 (p. 40).
Estudos mostram que o processo de adap-tao mais traumtico quando a deficincia dacriana se torna aparente mais tarde30, o quepode ser visto no caso de Daniela que, ao saberdo diagnstico de A, aos 6 meses, chegou a se-parar-se do marido e a criana apresentou difi-culdades de adaptao ao tratamento.
Vrios fatores podem constituir sobrecar-ga aos pais: o tempo gasto no cuidado e aten-o sua criana, contribuindo para a reduodos seus contatos sociais e culturais, o aumentodos gastos, j que em nosso meio os pais ar-cam financeiramente com parte do tratamento,e os limites sociais reconhecidos pelas atitudespreconceituosas da sociedade31.
Praticamente nossa vida ficou volta-da pra ele (EDSON).
No grupo pesquisado, 87,5% das famli-as (7) tinham renda familiar abaixo de um sal-rio mnimo per-capita, sendo praticamente im-possvel disponibilizar recursos financeiros parapagamento de um cuidador externo. Os cuida-dos com a criana com deficincia fsica relaci-onados s atividades da vida diria (banho, hi-giene, alimentao) em sete das oito famliaseram exclusivamente realizados pela me.
Inmeras foram as mudanas na sua roti-na diria, relacionadas ao trabalho, lazer, rela-cionamento interpessoal, entre outras referidas
-
7 7
Rev Bras Crescimento Desenvolv Hum. 2006;16(1):68-84Sumaia Midlej Pimental S, et al.
pelos pais.Com relao s mudanas que ocorreram
aps o nascimento da criana, cinco mes nopuderam retornar ao trabalho e/ou estudo, umadas mes nunca trabalhou, outra continuou sen-do diarista, podendo levar a criana ao trabalho,e a outra, professora, continuou ensinando; emcontrapartida seu marido, que era segurana,mudou o turno do trabalho (de diurno para no-turno), e quem levava a criana s terapias.
[...] S que os planos eram outros,quando ela nascesse, eu comear a traba-lhar, n? (HLIA).
A nossa funo hoje J.V. (EDSON)[...] Quando ela tiver com 2, 3 anos
eu vou procurar minha faculdade, porque eusempre gostei muito de estudar, eu fico svezes olhando assim as pessoas assim estu-dando eu digo; Oh! meu Deus eu queria ttanto estudando. (CLUDIA)
Com relao ao lazer, apenas duas mesreferiram ter tido mudanas, e o fato deveu-sea questes financeiras pois aumentaram os gas-tos familiares devido prioridade em suprir asnecessidades da criana de realizar natao,terapias complementares, exames adicionais,entre outras.
Bem, a natao a gente vai particular...tem o plano de sade, a gente fez um plano desade, mesmo que ela precisava n [...] isso gasto... muita coisa... (CLADIA).
[...] e fica difcil daquela famlia lidar,por exemplo, sair mesmo para levar ao mdi-co distante, no tem como aquela pessoa an-dar, n? no tem uma cadeira de rodas paracarregar, fica difcil, a tem o que? Tentar con-seguir um carro, para pagar sem ter mesmocondies pra pagar aquele carro pra levaraquela pessoa pro mdico.[...] (DANIELA)
Podem ocorrer dificuldades na comuni-cao conjugal aparecendo a agressividade.Segundo Herz (apud 23), em situaes de ten-so prolongada, para se proteger da ansiedadeintensa, a famlia bloqueia a comunicao, a
expresso e a verbalizao de afetos.Mudou [...] porque ele t muito irri-
tante, ignorante, briga muito, xingamuito...desses anos pra c ficou assim, a gen-te no se entende mais no, ele est muitoestpido (FERNANDA)
[...] Quando eu chego ela j est es-tressada com P. e a [...] ficou menos tempon? (CLADIO)
[...] s vezes d um cansao, a genteno tem nimo para nada...ele no mudounada, eu que mudei mais (CLADIA)
[...] Porque no incio eu fiquei muito re-voltada, eu no entendia, no aceitava [...] eume afastei dele... eu queria jogar a culpa pracima dele, e tambm pra cima de mim, ele nofez alguma coisa, tudo isso n? (ELIANA)
Cinco das famlias apontaram a ocorrn-cia de mudanas no relacionamento do casal,atribuindo a um maior cansao materno, re-volta materna, presena constante da crianaque dorme com os pais, mudana de com-portamento do cnjuge, inclusive quanto vidasexual.
Reflexos da deficincia na organizaofamiliar
No grupo familiar h diferenas nas rea-es de pais e mes separadamente.
Meu marido foi mudando aos poucos(DANIELA)
O nascimento de um beb com deficin-cia tanto pode unir seus pais quanto separ-los.Os pais necessitam encontrar uma razo para oacontecido, atribuindo-lhe um sentido. Algumasfamlias se desestruturam porque, ao ir em bus-ca de razes para o acontecido, podem come-ar a competir pelo amor e/ou ateno do filho,podem negligenci-lo, ou culparem um ao ou-tro pela deficincia do filho, ou at mesmo cul-pam a criana pela tenso vivida na famlia22,23,32.
Freqentemente, o conformar-se, o re-voltar-se ou sentir-se responsvel pela defici-
-
7 8
Rev Bras Crescimento Desenvolv Hum. 2006;16(1):68-84Sumaia Midlej Pimental S, et al.
ncia do filho, so as formas encontradas paraelaborar o acontecido,. Porque, pelo menosquando h um culpado, h uma explicao33.
Das oito famlias, um casal estava em cri-se de relacionamento, com a me queixando-se do tratamento dado pelo cnjuge criana ea ela prpria, um casal havia- se separado e sereconciliado.
[ ...] Com esse a no tem cuidado, tan-to que para sair nunca deixo o menino na modele porque no tem cuidado ( FERNANDA),[Me referindo-se ao tratamento dado pelo cn-juge criana deficiente]
Teve mudanas, nos separamos [...]depois voltamos novamente, e ficou sem meapoiar tambm, e eu acabei me aborrecendon? e o que aconteceu foi que me separei dele.A depois [...] (DANIELA)
A estabilidade familiar, atualmente, pare-ce depender do compromisso mtuo entre seusmembros. O que une o casal o fato de se apoi-arem mutuamente e manter a comunicao e oque pode separ-los o no compartilhar res-ponsabilidades31,34.
Ele me d fora tambm, me ajuda, ele um bom marido, me d fora, no tenho nada adizer dele, tem algumas brigas assim, como todomundo tem [...] Quando t desempregado meajuda a levar, ele leva o de c mais eu [...] pradescansar [...] se for o caso de passear ele vaitambm, no gosta muito sabe? (ANA)
A rede de apoio familiar, composta poravs, tios, irmos, vizinhos, amigos, torna-se umsuporte, reduzindo o estresse dos pais, ao tor-nar-se companhia, ter disponibilidade para es-cutar, aconselhar, auxiliar nas tarefas, ou mes-mo contribuir financeiramente, reduzindo o so-frimento.
[...] Se no fossem eles (a famlia) agente tava levando, mas no tava desse jei-to, bem seguro [...] (CLUDIO)
Entre as oito famlias pesquisadas, a me-tade contava com uma rede de apoio familiar,embora apenas duas delas aceitassem a ajuda
sem restries. Observou-se, tambm, a impor-tncia dos vnculos familiares preestabelecidos,antes mesmo do nascimento da criana. Muitasvezes, os pais resistem a aceitar auxlio da fam-lia mais extensa para evitar crticas destes emrelao s escolhas feitas por eles, em relaoaos tratamentos ou ao prprio lazer. Muitas vezesao sugerirem tratamentos, clnicas ou terapeu-tas, os parentes e amigos criam uma tenso adi-cional, pois as sugestes so interpretadas pelafamlia como uma incapacidade nas escolhascorretas ou tomada de decises adequadas.
Nunca deixamos ele aqui com ningum(EDSON).
A gente no gosta! Na verdade essa, porque pra gente ir a gente vai ficarcom a cabea aqui porque a gente sabe,que quando chegar, vai ter uma cara feia,sabe? (GABRIELA)
H, tambm, por parte dos pais, resis-tncia com relao criana ser cuidada poramigos ou vizinhos: A familiaridade no reduznecessariamente o menosprezo15 (p. 63).
S h ajuda se eu pedir, para se ofere-cer para ajudar no. Porm quando olhava,maltratava, a eu prefiro levar. (ANA).
Porque no confio, porque tambmacho que, sei l, acho que a pessoa no sedispe a isso n? meio complicado eu acho[...] (HLIA).
Ningum tem que ter obrigao comele, ningum tem que ter pacincia com ele.(GABRIEL).
A famlia que contou com a rede de apoioe aceitava o auxlio foi a da criana que apre-sentava menor comprometimento motor, comprognstico de total independncia funcional.
As fases e os sentimentos pelos quais ospais passam interferem no acolhimento da cri-ana, podendo haver um comprometimento novnculo afetivo pais-criana. Quando os paisperdem o filho desejado e no elaboram o luto,eles se encontram impedidos de vincular-secom o beb real, ficando assim melanclicos,
-
7 9
Rev Bras Crescimento Desenvolv Hum. 2006;16(1):68-84Sumaia Midlej Pimental S, et al.
ou podem estabelecer o vnculo com a defici-ncia e no com o filho deficiente, tornando-semrtires ou vtimas de um castigo, abnegadosou culpados.
O meu tempo todo agora dedicado aela, n? (CLADIA)
Deus fez com que ela se conscientizas-se que ela foi escolhida, uma misso queela tem a cumprir [...] (GABRIEL)
[...] Ele acha que tudo crescimento,isto alguma coisa que ele falhou, que eleprecisa melhorar, ele pensa assim, graas aDeus... ele sempre acha que a gente precisamelhorar em alguma coisa, orar muito, pe-dir a Deus. (HLIA)
Quando associam a deficincia ao Kar-ma ou castigo, este se estender atravs danova jornada de tarefas que devero assumir ede todos os sonhos que devero abdicar, po-dendo tornar-se tambm missionrios ou orgu-lhosos guerreiros por seus filhos, ou seja, suasrelaes se estabelecem com o fenmeno deficincia e no com o filho com deficincia;baseiam-se nas prticas teraputicas, e no nasnecessidades humanas.
Esse padro de comportamento leva comfreqncia, embora inconscientemente, a umamaior limitao da criana, impossibilitando seuprocesso de desenvolvimento, alm de ser aforma de os pais mostrarem sociedade queso muito dedicados criana e evitarem se-rem culpados pela deficincia do filho 16,28, 33,35.
As etapas de evoluo da organizaoda estrutura familiar prevem um processo decrescimento e independncia dos filhos, que seconclui com a vida adulta, quando este se tornaindependente, casa-se e estrutura seu prprioncleo familiar, assumindo uma nova gerao.
No caso de um filho deficiente, este pro-cesso em geral se restringe s primeiras etapas,pois o grau de comprometimento da crianadeficiente ocasiona a manuteno do vnculocom a famlia (principalmente com os pais) portoda a vida, no apenas os sobrecarregando,
mas principalmente preocupando-os com rela-o ao futuro dessa criana. Todos os planosde vida sero avaliados luz das necessidadesda criana, donde a importncia de uma aceita-o realista da situao.
A preocupao s mesmo se vai andarn? Saber se vai andar...n? (BEATRIZ)
o futuro n? como vai ser maistarde...meu filho vai andar? meu filho vaifala?...como vai ser a escola...isso tudo eupenso, n? (ELIANA)
Nas projees com relao ao futuro, ospais se preocupam com a independncia funci-onal, inicialmente com o andar e posteriormen-te com a escola, o trabalho. Esta preocupaoinicial com a independncia funcional pode servista, no presente estudo, por seis das oito cri-anas estudadas terem de zero a cinco anos deidade, e estarem na fase de aquisies moto-ras. Entretanto, existia uma grande dificuldadepor parte dos pais em aceitar incondicionalmentea insero da criana numa escola regular: pormedo da rejeio? vergonha?, preocupaocom o preconceito? Violncia?
A minha preocupao maior comesse mundo a fora, o preconceito, violn-cia [...] (GABRIEL)
Encontramos tambm na fala dos pais umdesejo de cura que no condiz com a realidadeda E.C.I.
A se recuperar e fazer tudo normal,como qualquer outra criana (DANIELA)
[...] dependendo se ele andar ali elevai ser uma criana normal, vai ser um ho-mem tambm normal, poder trabalhar[...]( FERNANDA)
O casal que no demonstrou preocupa-es com a independncia motora da criana foio que tinha o filho com um pequeno acometi-mento motor que no gerava dependncia funci-onal. As preocupaes resumiam-se em preo-cupaes comumente presentes em todos os pais.
Estudar, no fazer besteira, no usardrogas...eu quero que ela seja feliz, o resto
-
8 0
Rev Bras Crescimento Desenvolv Hum. 2006;16(1):68-84Sumaia Midlej Pimental S, et al.
resto. (CLADIA)Quando o crculo domstico no pode
mais protegr a criana, instala-se um momentocrtico que varia segundo a classe social, o tipode deficincia, a sobrevida dos pais. O enve-lhecimento dos pais tambm vivido como umafase de sofrimento, com temores novos juntan-do-se aos antigos. Que acontecer com o/a fi-lho/a aps a morte deles? Como conseguirsubsistir? Quem cuidar? Que direito tm eles(os pais) de sobrecarregar os irmos?
A influncia da me, o papel do pai e dosirmos no grupo familiar
duro isso assim, voc fica cega, pa-rece uma vaca quando tira o bezerro, eu noenxergava nem a porta [...] eu s faltei per-der o juzo mesmo [...]. (ELIANA)
[...] E tambm eu nunca deixei que eleficasse to triste, que ele percebesse as coi-sas que tivessem acontecendo (DANIELA)
Os pais relataram que as mes estavamsempre cansadas pelo trabalho com a criana,embora se tenha observado que as mes ospoupavam do trabalho, do estresse e das infor-maes que julgavam negativas ou pessimistassobre a patologia da criana pois, segundo elas,eles ficam chateados e tristes.
[...] nossa, ela nossa filha, ns te-mos que enfrentar, ele vai ter que superarisso e ajudar, e at que depois ele mudou umpouco [...]. (DANIELA)
Cavalcante4 ressalta que fantasias demorte da criana e/ou suicdio da me so co-muns em casos de transtornos graves de de-senvolvimento. Atitudes ansiosas ou depressi-vas encontradas nas mes podem estar presen-tes devido a sentimentos de hostilidade a ou-tros membros da famlia.
As crianas tendem a seguir as atitudesdos pais, especialmente a das mes; se ela setorna melanclica, chorosa, desapontada, nosomente os irmos como os pais seguiro seu
exemplo16.[...] Ele abraou junto comigo essa
causa e ele assim... um pai especial mesmo[...] s vezes ele muito mais paciente doque eu [...]. (GABRIELA).
O papel do pai fundamental, principal-mente quando caminham lado a lado com asmes, dando o suporte emocional e financeironecessrios para as iniciativas das suas espo-sas; por exemplo, quando decidem sobre asterapias ou a escola.
[...] Eu dedico o tempo todo para ele,para qualquer eventualidade. (EDSON)
Ah, ele dedicado, n? Dedicado [...]( ELIANA).
[...] procurei mais trabalhar pra ga-nhar at mais dinheiro mais, o salrio au-mentar para sustentar minha filha [...].(CLUDIO).
Dos trs pais entrevistados, um era apo-sentado e os outros dois referiram mudanasno trabalho, necessitando trabalhar mais paraaumentar o salrio, mudando turno do traba-lho, sentindo-se com maior responsabilidadepara com a famlia e projetando, diversamentedas mes, uma expectativa de sucesso no filho.
[...] Eu farei tudo para ele ter um fu-turo melhor, seja um grande homem [...] nomedirei esforos para ver meu filho bem.(EDSON)
Freqentemente, contudo, os pais sen-tem menor satisfao com a vida familiar devi-do s demandas extras da criana, com ten-dncia a sentir raiva, enquanto as mes tendema sentir tristeza. Para amenizar sua dor, podemafastar de si o que os faz sofrer, diminuindo seucontato familiar, podendo resultar em divrcioou se tornarem coadjuvantes, com menor par-ticipao na potencializao da criana, embo-ra estejam sempre presentes nos sucessos/gan-hos da criana.
Os pais, freqentemente, apresentam n-veis de estresse mais baixos que o das mes.Advm da a necessidade de se construir uma
-
8 1
Rev Bras Crescimento Desenvolv Hum. 2006;16(1):68-84Sumaia Midlej Pimental S, et al.
relao, entre o pai e filho, mais prazerosa, decompanheirismo e acolhimento. 4,31,,35,36,37,38.
Das oito famlias entrevistadas, em ape-nas duas o pai no era o nico provedor. Em-bora apenas 3 (trs) pais concordassem emparticipar da pesquisa, as mes relataram quetodos participavam, direta ou indiretamente, dahabilitao de suas crianas e, segundo essasmes, existia um tratamento diferenciado emrelao aos irmos ou a outras crianas, sendomais difcil coloc-los de castigo ou bater neles.
No bota de castigo, diferente...eleno apanha, diferente, porque ele no normal, se ele fosse [...]. (BEATRIZ)
Foram identificados, tambm, situaesde desajustes que afetam a estrutura interna fa-miliar: os sentimentos dos irmos, um misto detolerncia e ressentimento:
[...].s cuida de M., no liga para mim,eu preciso de carinho [...]. (T. irm de M.)
[...] mame, porque J.V. no anda/ por-que no fala? (J. irm de J.V.)
Em busca de equilbrio: a flexibilizaodos papis
O processo de desorganizao acarretacrises entre o casal, no apenas no mbito sexu-al, mas at mesmo com discrdia quanto redis-tribuio de tarefas, quando as mes sentem-sesobrecarregadas por, alm de cuidar de todosos servios domsticos, ter ainda de cuidar dacriana. H sobrecargas de compromissos paratodos os membros da famlia os quais precisamdisponibilizar horrios para levar a criana s te-rapias, na tentativa de suprir suas necessidades,muitas vezes em detrimento das necessidades dosoutros membros (irmos, cnjuge).
As famlias mais integradas so aquelasque apresentam o maior nvel de cooperao edistribuio das tarefas. A interao entre osmembros da famlia diretamente proporcionalao nmero de atividades realizadas em comum;portanto, a participao de todos os membros
da famlia no cuidar da criana e da casa deveser encarada como um importante aspecto doequilbrio familiar. 20,25,31.
[...] Agora ele trabalha quinze dias,folga quinze e t mais acompanhando comi-go, n? e trabalha a noite tambm, ento odia me ajuda bastante n? fica disponvel[...]. (GABRIELA)
[...] Porque afazeres de casa eu dividocom ela mesmo, eu arrumo casa, eu lavoprato, eu lavo roupa, eu cuido dele... entodivido mesmo as tarefas de casa e tambm otrabalho com ele [...]. (GABRIEL)
As famlias mais vulnerveis ao desenvol-vimento de crises so aquelas cujos membrosvivem distantes uns dos outros, aquelas comrecursos financeiros mnimos, as com histriasde relaes turbulentas e aquelas cujos mem-bros esto muito ocupados com sua prpriacrise de amadurecimento no dando ateno aosoutros 25.
Nesta pesquisa, no foi observada a fal-ta de recursos como fator desencadeante dacrise familiar. Por ter sido realizada em famliasde baixa renda, no havia como tentar disponi-bilizar recursos adicionais para o tratamento dacriana.
Diante da doena crnica, a famlia fra-cassa, pois no tem como completar as etapasde desenvolvimento. Existem momentos poten-cialmente difceis para as famlias, entre eles: omomento da comunicao do diagnstico, omomento da aquisio da marcha, da fala e dalinguagem; da escolaridade, da alfabetizao; oda puberdade, o momento de decidir a guardaaps a morte dos pais. Nesses momentos, ospais retomam as inseguranas, medos e angs-tias experimentadas no nascimento da criana,o que se transforma na [...] tristeza crnica,um sentimento que nunca superado e freqen-temente revivido: aniversrios, idade de entrarna escola, etc. trazem tona o que poderia sere no 33 (p. 34).
Algumas famlias - ou mesmo algum mem-
-
8 2
Rev Bras Crescimento Desenvolv Hum. 2006;16(1):68-84Sumaia Midlej Pimental S, et al.
bro da famlia - podem fixar-se nas fases inici-ais de negao e revolta, e a possibilidade depertencimento fica perdida pela criana, dificul-tando seu desenvolvimento e posterior sociali-zao. Por outro lado, a melhora do quadro dacriana fator crucial na reestruturao da fa-mlia, sendo possvel reorganizar cada membroda famlia, redefinindo papis e criando novaspossibilidades de insero social. O pertencer famlia faz com que a criana assuma um pa-pel ativo no ambiente familiar, influenciando-o esendo influenciada por ele, estabelecendo-seuma relao dialtica 36.
CONSIDERAES FINAIS
O percurso de vida, embora cumpridopor cada pessoa individualmente, partilhado,sendo influenciado pelas pessoas com as quaiso partilhamos. O fato de pertencer a uma fam-lia, estabelecer vnculos profundos e comple-xos, quer seja na condio e no papel de me/pai, esposo/esposa, filho/filha, irmo/irm, en-raza as pessoas por meio das relaes socioa-fetivas e de parentesco. Uma alterao grandee prolongada em um dos membros do sistemafamiliar produz modificaes nos demais, alte-rando sua capacidade de funcionar como su-porte e gerando a necessidade de se estabele-cer um novo equilbrio.
Com a chegada de um filho, muitas ex-pectativas so criadas em torno dele, do seu fu-turo, se vai corresponder ao que se idealizoudesde o momento em que foi concebido. Cadafilho nasce com uma misso imaginria a sermoldada, resgatada, e reformulada. Se o filhonasce com uma deficincia, dificilmente conse-guir satisfazer as expectativas dos pais, poden-do ocorrer uma rejeio, nem sempre criana,mas ao fato de ter havido uma destruio da ide-alizao do filho perfeito. necessrio re-ges-tar essa criana, estabelecendo-se uma relaoafetiva entre ela e seus pais, para que se sinta
segura e explore o ambiente, otimizando o seudesenvolvimento, devendo os pais aprender aequilibrar as necessidades da criana com suasprprias necessidades e gerenciar conflitos e di-lemas no cuidado a ela dispensados.
Muitas so as dificuldades a serem en-frentadas pela famlia da criana com deficin-cia: inicialmente, a perda do objeto de desejo;a impossibilidade de realizar suas metas e de-sejos projetados (estudar, trabalhar); a redu-o da renda, a insegurana e a desestabilidadeda estrutura familiar; o desequilbrio emocionaldevido necessidade de tempo e energia mai-ores na ateno quela criana; a falta ou limi-tao de acessibilidade a servios pblicos comoexames, terapia e, at mesmo escolas regula-res, todas estas dificuldades comprometem asade emocional da famlia dificultando a suasocializao. Fatores internos e externos cola-boram para aumentar o estresse familiar e exer-cem grande influncia nas interaes e relaesfamiliares.
A literatura relata a ocorrncia de mu-danas importantes nos relacionamentos famili-ares e sociais, especialmente no relacionamen-to parental nos quais, devido ao estresse, po-dem acontecer desajustes que tero profundoimpacto nas relaes da criana, tanto com paisquanto com irmos.
Contudo, as famlias analisadas, apesarde seus tantos e variados problemas que ultra-passam a questo da deficincia, reagiram adversidade, adaptando-se, construindo solu-es, ao mesmo tempo em que se empenhamem otimizar o desenvolvimento dos seus mem-bros com otimismo, persistncia, solidarieda-de, criatividade e, principalmente, amor.
Foi possvel observar a intensidade dador, do sofrimento, do afeto que nutrem pelasua criana, independentemente da deficin-cia, na tentativa de torn-la apta a viver nummundo que segrega, marginaliza e desrespeitaa pessoa com deficincia. Da se pode con-cluir que as adversidades, a exemplo da defi-
-
8 3
Rev Bras Crescimento Desenvolv Hum. 2006;16(1):68-84Sumaia Midlej Pimental S, et al.
cincia, tm profundo impacto sobre o ajusta-mento familiar, contribuindo para a ocorrnciade novas formas de reestruturao que podemmanter o equilbrio ou a quebra dos laos cons-titudos.
Necessrio se faz que seja ampliada nos-sa percepo acerca das alteraes encontra-
das no mbito familiar das crianas com defici-ncia para entendermos a realidade que as cer-ca. Imperativo se faz que levemos em conta quenascemos como seres sociais e nos desenvol-vemos em um contexto de relaes, produzi-das pela nossa evoluo biolgica e vivnciassociais e afetivo-emocionais.
Abstract: This descriptive, qualitative study aimed at identifying how low-income families manageto restructure themselves after giving birth to a child who is physically disabled due to ChronicChildhood Encephalopathy. Parents (n=11) from eight nuclear families with a physically disabledchild attending a physiotherapeutic clinic/school in Salvador (Bahia, Brazil) were selected forsemi-structured interviews followed by a socioeconomic and cultural survey. Through contentanalysis, data were grouped into eight thematic axes showing that among the many difficultiesfaced by those families were the loss of the object of desire, a decrease in income and socialcontacts, and emotional imbalance, which comprised the internal and external factors bothcontributing to an increased family stress and exerting heavy influence on family interactions.Families were shown to face their adversity by devising strategies for adaptation and solutionseeking. It could be concluded that new ways of restructuring took place so that balance could bekept. A greater family and societal mobilization is needed towards the creation or support ofpublic policies designed to validate the physically disabled as subjects and citizens. Given theimportance of the matter and the paucity of studies in the field, further research should be carriedout on the dynamics of family behavior for a better evaluation of the impact of physical disabilityon family structure.
Key words: Family. Children. Chronic Childhood Encephalopathy. Physically disabled. Familial role.
REFERNCIAS
1. Sassaki RK. Como chamar os que tm deficin-cia? [Acesso em 20 maio 2003]. Disponvel em:http://www.educacaoonline.pro.br/art_como_chamar_as_pessoas.asp?f_id_artigo=579.
2. Caiado K. Concepes sobre deficincia mentalreveladas por alunos concluintes do curso depedagogia: formao do professor em educaoespecial. Temas Desenvolv. 1996;5(26):31-7.
3. Silva NLP, Dessen MA. Crianas com sndromede Down e suas interaes familiares. PsicolReflex Crt. 2003;16(3):503-14.
4. Cavalcanti F. Pessoas muito especiais: a constru-o social do portador de deficincia e a reinven-o da famlia. Rio de Janeiro: Fiocruz; 2003.
5. Sassaki RK. Quantas pessoas tm deficincias?[Acesso em 4 maio 2002]. Disponvel em: http://www.educacaoonline.pro.br/art_quantas_pessoas_tem_deficiencia.asp?f_id_artigo=65.
6. IBGE. Censo Demogrfico 2000. Rio de Janeiro;2002 [Acesso em 2 fev 2003]. Disponvel em:
http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/20122002censo.shtm.
7. Figueira E. Conceito e imagem social dadeficincia: primeira parte. Temas Desenvolv.1995;4(24):47-50.
8. Figueira E. Conceito e imagem social dadeficincia: segunda parte. Temas Desenvolv.1995;5(25):35-8.
9. Figueira E. Conceito e imagem social dadeficincia: terceira parte. Temas Desenvolv.1996;5(26):38-41.
10. Carneiro S. O que querem os deficientes?Temas Desenvolv. 1995;4(24):19-25.
11. El-Khatib U. As dificuldades das pessoasportadoras de deficincia fsica: quais so eonde esto [dissertao]. So Paulo (SP):Faculdade de Sade Pblica da Universidadede So Paulo; 1994.
12. Esteves N. Servio social na paralisia cerebral.In: Lima CLA, Fonseca LC. Paralisia cerebral:neurologia, ortopedia, reabilitao. Rio deJaneiro: Guanabara Koogan; 2004. p. 227-233.
13. Petrini JC. Notas para uma nova antropologia
-
8 4
Rev Bras Crescimento Desenvolv Hum. 2006;16(1):68-84Sumaia Midlej Pimental S, et al.
da famlia In: Petrini JC, Moreira LVC, AlcntaraMAR. Famlia XXI: entre ps-modernidade ecristianismo. So Paulo: Companhia Ilimitada;2003. p. 71-105.
14. Piovesana AMSG. Encefalopatia crnica:paralisia cerebral: In: Fonseca OLF, Pianetti G,Xavier C, editores. Compndio de neurologiainfantil. Rio de Janeiro: Medsi; 2002. p. 825-38.
15. Goffman E. Estigma: notas sobre a manipulaoda identidade deteriorada. Rio de Janeiro:Guanabara Koogan; 1988.
16. Buscaglia L. Os deficientes e seus pais: umdesafio ao aconselhamento. So Paulo: Record;2002.
17. Guimares E. Famlia e dinmica da socializao.Veritati. 2002;2(2):55-64.
18. Berthoud CME. Formando e rompendovnculos: a grande aventura da vida: ensaiossobre a formao e rompimento de vnculosafetivos. In: Browberg GH, Borrego O,organizador. Ensaio sobre formao erompimento de vnculos afetivos. Taubat:Cabral; 1997. p. 12-42.
19. Marujo H. As prticas parentais e odesenvolvimento scio-emocional. In: MarujoH. Famlia: contributos da psicologia e dascincias da educao. Lisboa: Educa; 1997. p.129-41.
20. Bastos AC da S. O trabalho como estratgia desocializao na infncia. Veritati. 2002;2(2):19-38.
21. Minuchin P, Colapinto J, Minuchin S.Trabalhando com famlias pobres. Porto Alegre:Artmed; 1999.
22. Castro AE, Piccinini CA. Implicaes da doenaorgnica crnica na infncia para as relaesfamiliares: algumas questes tericas. PsicolReflex Crt. 2002;15(3):625-35.
23. Sprovieri MH, Assumpo Jnior F. Dinmicafamiliar de crianas autistas. ArqNeuropsiquiatr. 2001;59(2):230-7.
24. Minayo MCS. O desafio do conhecimento:pesquisa qualitativa em sade. So Paulo:Hucitec; 1994.
25. Canhestro MR. Doena que est na mente e nocorao da gente: um estudo etnogrfico doimpacto da doena crnica na famlia[dissertao]. Belo Horizonte (MG):
Universidade Federal de Minas Gerais; 1996.26. Petean E, Murata M. Paralisia cerebral:
conhecimento das mes sobre o diagnstico eo impacto deste na dinmica familiar. Paidia.2000;10(19):40-6.
27. Funck MA, Machado DM. Participao dapsicologia no atendimento ao portador dedeficincia auditiva. Temas Desenvolv.1996;5(27):27-32.
28. Guazzelli ME. O cenrio da orientao familiarna paralisia cerebral [dissertao]. So Paulo(SP): Faculdade de Sade Pblica daUniversidade de So Paulo; 2001.
29. Rosemberg J. Perda e luto. Temas Desenvolv.1996;5(27):14-7.
30. Barros A. Outras estrias que meu pesquerdo pode contar: uma etnografia dadeficincia fsica na paralisia cerebral do tipoatetide [dissertao]. Salvador (BA): Institutoem Sade Coletiva da Universidade Federal daBahia; 1998.
31. Silva NLP, Dessen MA. Deficincia mental efamlia: implicaes para o desenvolvimento dacriana. Psicol Teor Pesqui. 2001;17(2):133-41.
32. Souza E. Sentimentos e reaes de pais decrianas epilpticas. Arq Neuropsiquiatr.1998;56(1):39-44.
33. Brunhara F, Petean E. Mes e filhos especiais:reaes, sentimentos e explicaes deficinciada criana. Paidia. 1999;9(16):31-40.
34. Ribeiro MT. Psicologia da famlia: a emergnciade uma nova disciplina In: Ribeiro MT. Famlia:contributos da psicologia e das cincias daeducao. Lisboa: Educa; 1997. p. 29-39.
35. Brito A, Dessen MA. Crianas surdas e suasfamlias: um panorama geral. Psicol Reflex Crt.1999;12(2):429-45.
36. Silva CN. Como o cncer (des)estrutura afamlia. So Paulo: Anablume; 2000.
37. Dessen MA, Silva IN. Deficincia mental efamlia: uma anlise da produo cientfica.Paidia. 2000;10(19):12-23.
38. Robertson L. A pior lio: aprender a aceitar. In:Meyer D. Pais de crianas especiais:relacionamento e criao de filhos comnecessidades especiais. So Paulo: MakronBooks do Brasil; 2004. p. 29-39.
Recebido em 07/01/2006Aprovada em 08/02/2006