A UNIDADE DUAL: (Manoel de Barros e a poesia) 1 volume · Manoel de Barros poetry shows us the word...
Transcript of A UNIDADE DUAL: (Manoel de Barros e a poesia) 1 volume · Manoel de Barros poetry shows us the word...
José Carlos Pinheiro Prioste
A UNIDADE DUAL: (Manoel de Barros e a poesia)
1 volume
Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciência da Literatura (Semiologia), Faculdade de Letras, Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Doutor em Ciência da Literatura (Semiologia).
Orientador: Ronaldo Lima Lins.
Rio de Janeiro 2006
2
FOLHA DE APROVAÇÃO
José Carlos Pinheiro Prioste
A UNIDADE DUAL: (Manuel de Barros e a poesia) Rio de Janeiro, 28 de julho de 2006 ________________________
(Ronaldo Pereira Lima Lins, Professor-Doutor, UFRJ) ________________________
(Luiz Edmundo Bouças Coutinho, Professor-Doutor, UFRJ) ________________________
(Ronaldes de Melo e Souza, Professor-Doutor, UFRJ) ________________________
(Rita de Cássia Miranda Elias, Professora-Doutora, Centro Universitário da Cidade)
________________________ (Sônia Monnerat Barbosa Professora-Doutora, UFF)
________________________
(Antônio Jardim, Professor-Doutor,UFRJ)
________________________ (Victor Manuel Ramos Lemus,Professor-Doutor,UFRJ)
3
In memoriam
minha mãe
com quem aprendi a ser zelante da delicadeza,
de quem não aprendi a serenidade do jasmim
4
Lembramentos:
Amélia de Nóbrega
Ana de Jesus
João Vieira Publio
Joaquim Frias Pinheiro
Júlia de Freitas
5
RECONHECENÇA
A minha mãe pela SABEDORIA em seu ninhário de singelezas.
Ao pássaro que me privilegiou com seu canto enquanto escrevia a outra
parte.
Ao contribuinte brasileiro.
À Camila, Caio e Lucas e a todas crianças pela ensinança dos
desensinamentos.
À beleza do ilimitável da língua portuguesa.
A Ronaldo Lima Lins pela solicitude e fidedignidade.
A Antônio Jardim por uma ínvia diretriz que se fez quase exeqüível.
A Ronaldes de Melo e Souza pelas lições de equanimidade frente às
adversidades.
Aos alunos com quem preciso aprender a não perder o sabor na pretensão
do saber.
À passarada (bem-te-vis, beija-flores, garças, sanhaços,...), ao florejar de
jasmins, girassóis, brincos-de-princesa e muito mais: à vivificação da chuva
e do sol, à iridescência do arco, ao silencial e ao amanhecente.
Às pedras e espinhos no meio do caminho.
Ao eternífluo da vida que emana de DEUS.
6
ILUMINAMENTOS:
Cristo por ensinar através de parábolas o velar e o revelar.
Padre Vieira por molhar nossos lábios com a lábia de nossa língua.
Euclides da Cunha por derriscar o traçado limitâneo entre o histórico e o
literário, entre o poético e o documental, entre o factual e o estético.
Guimarães Rosa pela avessia da travessia de um linguajar na terceira
margem da língua.
Haroldo de Campos enxadrista interestelar da linguagem a iluminar as
galáxias da prosa com as rutilâncias da poesia.
Renina Katz por ter feito na USP provavelmente a primeira tese não verbal
no Brasil em cuja introdução a uma série de gravuras somente constava o
poema de Carlos Drummond de Andrade Paisagem: como se faz.
Walter Benjamin por ousar, frente às fronteiras, dizer coisas como “o tédio
é o passaro de sonho que choca os ovos da experiência”.
7
Será que os absurdos não são as maiores
virtudes da poesia?
Será que os despropósitos não são mais
carregados de poesia do que o bom senso?
Manoel de Barros,
Exercícios de ser criança
Tudo que os livros me ensinassem
os espinheiros já me ensinaram.
Tudo que nos livros
eu aprendesse
nas fontes eu aprendera.
O saber não vem das fontes?
Manoel de Barros,
Cantigas por um passarinho à toa
8
RESUMO
PRIOSTE, José Carlos Pinheiro. A unidade dual: (Manoel de Barros e a poesia). Rio de Janeiro, 2006. Tese (Doutorado em Ciência da Literatura)- Faculdade de Letras,Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2006.
A poesia de Manoel de Barros destaca a palavra como invenção
de um mundo no qual as oposições não constituem paradoxos, mas uma unidade complementar dos contrários. O conhecimento racional defende a separação entre o sentir e o pensar para estabelecer um método seguro e firme de uma avaliação exata da realidade e da verdade. A poesia prefere a contradição de um pensar em que os contrários, como clareza e obscuridade, se unam em uma integração indivisível. O pensar poético procura uma concepção diferente da análise linear e objetiva dos estudos literários. A linguagem deste outro pensar combina o imaginativo ao intuitivo como meio de apreensão de uma lógica próxima à condição originária do humano encoberta tanto pelo racionalismo calculador objetivo como pela linearidade objetiva.
9
ABSTRACT
PRIOSTE, José Carlos Pinheiro. A unidade dual: (Manoel de Barros e a poesia). Rio de Janeiro, 2006. Tese (Doutorado em Ciência da Literatura)- Faculdade de Letras,Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2006.
Manoel de Barros poetry shows us the word as an invention of
an universe that the oppositions don’t constitute paradoxes, but a complementary unit of contraries. The rational knowledge postulates a separation between the feeling and the thinking to establish an exact and secure method of evaluation about the reality and the truth. The poetry prefers the contradiction of a thinking that the contraries, like clarity and obscurity, gather themselves in an indivisible integration. The poetical thinking needs a different conception of linear and objective analysis of literary studies. The language of another thinking combines the imaginative and the intuitive as expression of apprehension of a logical similar to the human condition originary hidden into the rationalism as the objective linearity.
10
ILUSTRAÇÕES: Ilustração 1: Os valores pessoais, René Magritte, 1952, p. 105.
ABREVIATURAS
Foram utilizadas as seguintes referentes às obras de Manoel de Barros:
APA – Arranjos para assobio
CCAPSA – Concerto a céu aberto para solos de ave
CPT – Cantigas por um passarinho à toa
CUP – Compêndio para uso dos pássaros
EF – Ensaios fotográficos
ESC – Exercícios de ser criança
FA – O fazedor de amanhecer
FI – Face imóvel
GA – O guardador de águas
GEC – Gramática expositiva do chão
LI – O livro das ignorãças
LPC – Livro de pré-coisas
LSN – Livro sobre nada
MP – Matéria de poesia
MI(I) – Memórias inventadas – A infância
MI(SI) – Memórias inventadas – A segunda infância
P – Poesias
PCSP – Poemas concebidos sem pecado
PQT – Poesia quase toda
PR – Poemas rupestres
RAQC – Retrato do artista quando coisa
TGGI – Tratado geral das grandezas do ínfimo
11
SUMÁRIO
1- COMEÇAMENTO SEM CONCLUDÊNCIA..................................................1
UMA PARTE
TESE: ELEGIA À DIVINAÇÃO
2- HUMANO, CONSIGNADO HUMANO.........................................................21
2.1- POSTAIS DA CIDADE............................................................... .....................25
2.2- RETRATOS A CARVÃO.................................................................................32
2.3- BOCA.................................................................................................................34
2.4- COISAS DESÚTEIS..........................................................................................37
2.5- O HOMEM DE LATA.......................................................................................43
2.6- ENTRE O ÚTIL E O INÚTIL...........................................................................44
2.7- O ALICATE CREMOSO E O PARAFUSO DE VELUDO..............................49
2.8- SOB A VIGÊNCIA HEGEMÔNICA DA TÉCNICA.......................................52
2.9- A MÁQUINA.....................................................................................................55
2.10- A MÁQUINA DE CHILREAR.......................................................................57
2.11- A COISA..........................................................................................................60
2.12- LÍRICA E SOCIEDADE.................................................................................64
2.13- A TEOLOGIA DO TRASTE...........................................................................68
2.14- O DESSUJEITO...............................................................................................78
12
3- O PRIMADO DA CONTRADIÇÃO.................................................................82
3.1- UMA DIDÁTICA DA INVENÇÃO..................................................................89
3.2- OS DESLIMITES DA PALAVRA...................................................................104
3.3- A LÍRICA EM FRAGMENTOS......................................................................112
3.4- MUNDO PEQUENO.......................................................................................120
3.5- POESIA E VIDA.............................................................................................127
3.6- DA AGNOSIA À OUTRA AGNIÇÃO (RECAPITULATIVO).....................133
OUTRA PARTE
ANTI-TESE: ELOGIO AO DEVANEIO
4- PRINCÍPIOS....................................................................................................137
4.1- O EXTRAORDINÁRIO NO ORDINÁRIO....................................................140
4.2- OS LIMITES DA SUJEIÇÃO.........................................................................146
4.3- O DIZÍVEL DO POSSÍVEL E O CONCEBÍVEL DO IMAGINÁVEL.........150
4.4- AO ALINHAVAR DAS PALAVRAS....................................... ....................156
4.5- DIDÁTICA AO AVESSO...............................................................................162
4.6- NA FONTE DA INFÂNCIA...........................................................................168
4.7- O DELINQÜIR DO DELÍRIO........................................................................174
4.8- OS DESLIMITES DO SUJEITO......................................................................180
4.9- ENTRE O PERMANECENTE E O TRANSITIVO........................................186
4.10- FINS...............................................................................................................192
5- INCONCLUDÊNCIA DE UM COMEÇAMENTO.......................................193
6- BIBLIOGRAFIA...............................................................................................197
13
1 – COMEÇAMENTO SEM CONCLUDÊNCIA
HUMANO, onde reside o humano? O que qualifica o humano? Este se
apresenta como uma identidade unívoca, uniforme, legível e reconhecível de forma
imediata à percepção do senso comum? Ou se representa através de uma língua a
dissimular a mediação verbal a designar o que se denomina de realidade? A exatidão
das idéias claras e distintas que configuram a racionalidade hegemônica como meio
supostamente preciso de afastar o falseamento que as sensações proporcionam ao
observar dão conta da complexidade e multiplicidade que distinguem o humano? Como
precisar este que sempre se apresenta inapreensível às próprias representações que
sustentam a pretensão à univocidade?
Como ler POESIA? Pelo prisma de uma lógica verbal que se funda por
representações que evitam a equivocidade e instauram a determinação de certezas como
freio a imaginabilidade? Como pensar Poesia se esta não se ajusta ao paradigma da
razão decifradora que se disfarça sob os dogmas da exatidão e da clareza? Há que se
restringir o pensar poético ao cogitar lógico de um raciocinar que intenciona a
eliminação do fantasioso, do inimaginável e do imponderável? Estes não identificariam
também o humano em complementaridade com o inteligível de um exato conceituar?
A poesia de Manoel de Barros apresenta um corpus propício à
compreensão do humano em sua complexidade, pois por não se ajustar ao raciocinar
retilíneo clama por um retorno ao originário do pensar. Ou seja: um modo de
apresentação, mais que representação, a convergir o sentir e o pensar em um impartível
conjugar dos contrários.
14
No propósito desta tese estipula-se um avesso investigar do que subsiste no
versejar barrosiano que mesmo ao versar sobre a natureza ainda assim parece atinar
sempre para a instância problemática do humano. Este se apresenta intraduzível pela
conceitualidade racional que adjunta ao cogitar o estatuto do inteligível distinto da
inferioridade do sensível. O pensar dicotômico instaurado no Ocidente por Platão
concebe como valor de positividade apenas o pólo que se sobreponha às sensações para
instaurar uma razão fundada na certeza de um saber impermeável às ilusões da
experiência. A poesia desqualificar-se-ia ao estabelecimento absoluto da VERDADE
por se circunscrever à materialidade da sonoridade rítmico-métrica e da escrita. A partir
desta camada sensorial o poeta instaura o fingir, proveniente de fingère: modelar na
argila, dar forma a qualquer substância plástica, esculpir, e por extensão reproduzir os
traços, representar, imaginar, fingir, inventar. No entanto, o fazer poético não finge que
a relação instituída pelo de/signar entre as coisas e a representação não é um pacto
convencional alicerçado sobre o fingimento. O poeta mostra a verdade como fingimento
que se convenciona ao perspectivismo humano que se circunscreve a dogmas, crenças,
certezas e ideologias contingenciais ao que cada um pressupõe, acredita e defende. O
poeta ao vislumbrar na tragicomédia humana o esfacelamento de cada certeza que se
encena como asseveração do veraz prefere apresentar pela via do fingir a representação
verbal como um mascaramento a mascarar outras máscaras.
Sob o fingir da poesia a língua é colocada sob suspeição por substituir a
linguagem imaginativa originária pela conceitualidade inequívoca. O conhecimento
racional, entretanto, ao articular conceitos ainda se atém ao domínio da representação
verbal. A conceituação de um pensar estruturado na clareza das idéias postula uma
categórica determinação conceitual pelo afastamento e eliminação de toda fantasia e
devanear impediente de um esclarecimento de/finidor. O fingir poético que não finge
15
que é fingimento, no entanto, parece revelar pela re/presentação que se apresenta como
tal mais que a pretensão a uma clareza que quer esconder a obscuridade que se vela por
trás de qualquer designação representativa. O Poeta reconhece o fingimento da palavra e
apreende a realidade como um cenário construído a partir do alicerce verbal. Percebe
que a fronteira com o falseio é muito tênue para ousar referendar um discurso que se
pretende claro e distinto quanto tudo é muito mais complexo e indefinível do que supõe
qualquer filosofia. A obscuridade compartilha da clareza em um infinito enlace no qual
o humano se embate sem a certidão fidedigna de uma verdade imune ao contradito, ao
dubitável e ao oblíquo.
O método analítico tem como premissa a clareza das idéias distintas como
garantia de estatuir um conhecimento pautado em uma investigação rigorosa na
comprovação e evidência de um veredicto. A pretensão absolutizante de um
conhecimento pela via do inteligível, do racional e do lógico delegou ao poetizar o
estatuto do imaginativo, do devaneante, do imaginoso e do divagante por não se firmar
em uma fundamentação axiomática rigorosa. O raciocinar distinto do fantasiar
configura uma concepção divisionista na qual se credita a um dos pólos a positividade
plena em distinção à inferioridade da negatividade do que se institui como seu contrário.
Assim para se livrar do contingencial da condição humana, determinada pela percepção
sensível, portanto, ilusionista, o conhecimento racional deve-se alçar às altitudes do
inteligível. É concebível tal descondicionamento do condicionável? O separatismo
inconciliante dos contrários institui uma divisibilidade a pautar o modo de pensar
ocidental pelos princípios da identidade, da não contradição e do terceiro excluído para
impedir qualquer possibilidade da paradoxalidade. A não vigência do contraditório
firma-se como premissa ao estabelecimento determinante de um entendimento da
verdade. Kant reconhece dois troncos do conhecimento humano que talvez brotem de
16
uma raiz comum: a sensibilidade, a “matéria bruta das impressões sensíveis” 1, pela
qual os objetos nos são dados e o entendimento pelo qual são pensados. No entanto,
como se alçar à sapiência inteligível se é através da palavra, fenômeno auditivo e visual,
portanto, perceptivo, sensível que o conhecer se conceitua? Em concordância com tal
dicotomização a Lingüística concede ao conceitual a propriedade significativa opositiva
ao sensorial do significante. Este seria um mero invólucro a proteger a essencialidade do
conceito. Entretanto, no significar de uma palavra não se imiscuem várias palavras em
um torvelinho a remeter a outras ad infinitum? Como, então, determinar a verdade se a
língua é humana, logo, falível, defectível, variável, mutável e instável? Seria preciso
depurar as impurezas do contradizer na precisão de um exato dizer? É possível tal
assepsia sob a instância precária da condição humana?
O princípio da não contradição repousa na impossibilidade da
simultaneidade dos contrários, ou seja, a afirmação coexistir com a negação, a vigência
do Ser com o não ser, assim como do círculo da identidade exila-se o divergente da
homogenia na qual vige a similitude. Ao se privilegiar exclusivamente o que é
concordante, similar e congruente como então entender os seus contrários senão pelo
traço identitário outorgado à polaridade primeira que exclui o diferenciável? Todavia,
diversamente de um pensar instituidor de oposições separáveis e inconciliáveis seria
factível postular uma relação complementar entre os opostos?
O conhecimento que pretende aferir a certificação de identidades fixas
busca instituir a normatividade do que se constitui como inequívoco para indeferir o
equí/voco por este escapar à imperiosidade do que se impõe admissível como Certeza.
Daí não ser imputável ao poético a insígnia de insigne no que se refere à veridicidade
por subscrever o paradoxal, o contraditório e o alógico. Na qualificação de algo como
1 - KANT, Immanuel. Crítica da razão pura. Trad. V. Rohden e U. B. Moosburger. São Paulo: Nova Cultural, 1999. p. 53.
17
paradoxal tal distinção firma-se na supremacia da doxa legitimada pelo princípio da
identidade em que isto não pode ser aquilo simultaneamente, daí a partição inconciliável
dos contrários. Entretanto, tal qual um espelho, os antagonismos não comparticipariam
de uma unidade a complementar as polaridades de uma alteridade na qual se encontram
unidas em um MESMO apenas diferenciado pelo avesso? Inexistiria assim uma
contraposição separadora, mas a complementaridade dos contrários em uma unidade
que se funda pela dualidade.
Gaston Bachelard eleva o princípio da complementaridade como
fundamento do novo espírito científico da física moderna ao estatuto de uma operação
filosófica em que conceitos como contínuo e descontínuo, determinação e
indeterminação não possuem valor absoluto mas são, antes, complementares: “as noções
de onda e corpúsculo são duas objetivações complementares de uma mesma realidade
que se representa intuitiva e alternativamente” 2. O que antes se designava através de
antagonismos opositivos transforma-se em oposições complementares a determinar uma
apreensão do universo diferenciada das leis clássicas do entendimento. Ronaldes de
Melo e Souza assevera que o diálogo interdisciplinar com o novo espírito científico
efetuado por Bachelard proporciona a elaboração de uma crítica literária postulante de
uma nova doutrina da imaginação, uma arqueologia do imaginário a partir da “potência
poética da matéria, regida pela dialética ontológica das oposições complementares” 3.
Argumenta que
contrapondo-se ao postulado da unidade de composição do racionalismo literário e ao preceito de uniformidade metodológica do positivismo científico, a nova crítica bachelardiana se notabiliza, porque substitui o critério lógico da unicidade da retórica tradicional pelo princípio da interação dos contrários a fim de compreender e tornar compreensível a unidade dual, ambivalente e complexa das obras literárias da modernidade e, sobretudo, porque aplica a cada escritor o método que a originalidade de sua obra requer, enfatizando que um procedimento metodológico só se
2 - SOUZA, Ronaldes de Melo e. “Poesia filosofia e ciência”. Interfaces. Rio de Janeiro, 7: 2000, p.58. 3 - Id., ibid. p. 59.
18
afirma verdadeiro quando se confirma nos limites circunscritos pelo princípio dinâmico que rege a estrutura de cada obra de arte. A crítica literária se converte, portanto, numa perpétua aventura do conhecimento, continuamente devotada à tarefa poética de invencionar novos recursos metódicos para se haver com a singularidade dos novos discursos artísticos. Esta doutrina dialética da imaginação e o pluralismo coerente do método se harmonizam na formulação de um novo humanismo, solidamente vinculado a uma nova educação estética do homem. 4
O entendimento do mundo, e do humano, então poderia se divisar além da
tradição de um pensar divisionista impeditivo de uma outra compreensão do universo
postulante de uma perspectiva apreensível da dinâmica dos contrários a constituir uma
unidade indivisível, complementar e não contraditória. Postula-se, portanto, a noção de
uma unidade que se manifesta pela multiplicidade complementária, oscilatório-
integrativa dos contrários. Assim as distinções antitéticas entre o pensar e o sentir, o
inteligível e o sensível terminam por se transformar em ambivalências indissolúveis e
co-participantes do mesmo em diferença.
De modo diverso ao raciocinar que separa inconciliavelmente o
condicionado e o incondicionado, a poesia postula uma interação dialética das
dualidades antagônicas em uma “síntese antitética, uma conjunção disjuntiva ou uma
disjunção conjuntiva do ideal e do real” 5. À pretensão da sistematização de um saber
absoluto a poesia responde com um pensar que não somente se desvincula da aspiração
determinante de uma linearidade e clareza, distintivas da obscuridade ilegível de um
dis/curso enviesado, como busca transparecer o modo original, portanto caótico em que
se manifesta e aflora o pensamento. Ou seja, o pensar poético, na verdade o inaugural,
é refratário à concepção hegemônica dominante que somente concebe o linear como
determinação da clareza e esta como premissa à exatidão de uma expressão
compreensível impeditiva do dificultoso, do desordenado, do complexo, do intrincado,
4 - Id., ibid. p. 59. 5 - SOUZA, Ronaldes de Melo e. “Introdução à poética da ironia”. Linha de pesquisa, Rio de Janeiro, I (1): 35, out. 2000. p.34.
19
do emaranhado, do indefinido, do misturado e do inextricável. Esta outra linguagem em
desacordo com o normativo e que se funda na ambivalência paradoxal na verdade é a
linguagem originária que constitui o humano, ser complexo que não repousa sobre uma
idéia construída de clareza, mas em um indeterminável devir sempre a constituir um
caleidoscópio não aprisionável à conceituação idealizada de um pensar que se firma
sobre representações. Este outro pensar, que o racionalismo vitorioso denomina
poético, intenta restaurar a instância originária da linguagem ainda não destituída do
inventivo instituída pela conceitualidade de/finidora. Para retro/ceder ao procedente da
linguagem rei/vindica-se transparecer o irromper do pensamento que se dá pelo
prejudicar, intuir, inervar, antecipar e exagerar 6 e que se apresenta não sob o disfarce
de uma representação objetiva, mas em um propósito de presentar o próprio ato de
pensar ainda não aprisionável. Ou seja, em suas inervações e irrupções não modeladas
por uma linearidade objetiva, clara e inteligível, mas na própria pulsação do
pensamento a germinar, a brotar, a desabrochar, a despontar, a rebentar, a florescer, a
frutificar.
Estabeleçamos três desígnios a fundar esta tese: a primeira refere-se às
potencialidades que a língua nos proporciona. Ou seja, as veredas a serem viajadas tanto
no aspecto vocabular como sintático e semântico e que ainda podem ser aventuradas.
Deseja-se aventar possibilidades rítmicas e sonoras que se apresentem como alternativas
além da estruturação e ordenação lingüística circunscritas à normatividade
paradigmática determinante da objetividade de uma explanação nítida, acessível, direta
e entendível. Por reconhecer nestas propriedades expressivas apenas convenções
estabelecidas concernentes a um pensar pretenso à determinação do legível intenta-se
então um avesso dizer que não se intimide frente ao limitante quanto à prescrição do
6 - ADORNO, Theodor. Mínima moralia. Trad. L. E. Bicca. 2 ed. São Paulo: Ática, 1993. p. 63.
20
escrever. Que este possa ousar a avessidade do avezado, ou seja, diante do costumado
desabituar o perceptivo das lindes da gramaticidade, do normativo, da objetividade.
A segunda proposição é resultante da primeira: a partir da finidade da
língua divisar a infinitude da linguagem. No suceder desta deixar irromper o que lhe é
imanente: o substrato poético que há de se entender como fundamento do pensar e não
como um aparato dispensável à limpidez de uma tese. Antonio Candido assevera que no
Brasil o pensamento e a sensibilidade quase sempre assumiram, em suas melhores
expressões, a forma literária e que “esta linha de ensaio, – em que se combinam com
felicidade maior ou menor a imaginação e a observação, a ciência e a arte, – constitui o
traço mais característico e original do nosso pensamento” 7. Nossa tenção tem o intuito
de efetuar a juntura entre o pensar e a leitura poética a postular a emancipação da
clausura da leitura acadêmica ao modo analítico-discursivo como a única via de se
debater literatura. Ressalte-se ainda que se na vida social brasileira prevaleceu a
posição suprema de inteligência como ornamento e não instrumento de conhecimento
por não significar, no analisar de Sérgio Buarque de Holanda, apreço ao pensamento
especulativo e sim um apego à sonoridade ostentosa, à raridade da expressão e ao verbo
abundante 8, há que se questionar se nessa crítica não se insinua uma postulação do
pensamento permanecer restrito ao especular como fundamento único do pensar. A
refutação ao aspecto sonoroso da expressão brasileira não conteria uma aversão ao
barroquismo não cartesiano do nosso pensar mais sensitivo, intuitivo e imaginativo do
que um cogitar moldado na racionalidade ocidental? A consideração que esta tese
devota à sonoridade textual rege-se primordialmente pelo reconhecimento do dado
sensorial como uma fonte de conhecimento não desdenhável, posto que o realce à
7 - CANDIDO, Antonio. Literatura e cultura de 1900 a 1945. IN: ____. Literatura e sociedade. Estudos de teoria e história literária. 6 ed. São Paulo: Nacional, 1980. p. 130. 8 - HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. 22 ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1991. p. 50-51.
21
palpabilidade e materialidade das palavras seria fundamento da função poética 9 esta
não há por que ser desmerecida em uma acareação com o aspecto referencial dominante
na ensaística universitária. Portanto, o teor literário que esta tese possa comportar
funda-se em uma compreensão da dinâmica conjuntiva entre teoria e criação como
aspectos indissociáveis de uma leitura que recusa a prevalência do discursivo lógico e
analítico sobre o que se denomina como inventivo, intuitivo e imaginativo. O nosso
escrever se tece através da camada sonora como fundamento também propiciador do
pensar e não como figura ancilar e dispensável ao conhecer.
E, por fim, postulamos uma leitura que seja pertinente e atinente ao objeto.
Ou seja, frente à norma vigente no meio acadêmico de uma perspectiva objetiva de um
observador a se manter distanciado e afastado do objeto através do rigor investigativo,
opta-se aqui por uma proposição para-analítica (tanto aproximativa como opositiva) que
pressuponha a superação de tal dicotomizar por uma confluência entre as duas margens
a se equacionar em uma terceira na qual vija o dialogar integrativo e não separativo
entre o percebido e o perceptor. Desta forma, qualquer obra poética há que solicitar uma
atitude leitoral entranhável tanto na alteridade do poeta acessível através da escritura,
como na interioridade de si próprio em um enredamento entre a subjetivação do objeto e
a objetificação do sujeito. O que se questiona, portanto, refere-se não somente ao
estatuto da cognição a privilegiar o inteligível em detrimento do sensível, mas ao
próprio conceito de sujeito dissociado de um objeto a ser dissecado de modo asséptico.
Retomemos o fio da linguagem. Se a noção de poiesis postula um fazer que
implica um conhecer através da linguagem, a morada do ser, há que se entranhar
adentro o círculo linguageiro. Se o conhecer é suscetível à designação na qual os signos
representam as coisas em ausência através de uma distinção diferencial sonora, da
9 - JAKOBSON, Roman. Lingüística e comunicação. Trad. I. Blikstein e J. P. Paes. 12 ed. São Paulo: Cultrix, 1985.
22
camada significante, reconheça-se que a cognição tanto é partícipe da linguagem, pois
lida com a representação verbal, como repousa sobre uma lógica separativa
determinante do discernimento entre isto e aquilo. Como, então se determinar a
exatidão? Não seria esta partícipe inseparável do que se institui como a in/exatidão?
Impõe-se qualificar qualquer coisa pela finitude de um conceito conclusivo,
determinante e imune ao erradio de um designar? Que critério decisório e impositivo
exige-se como legitimação da universalidade de um saber se este principia por um
sujeito separado de um objeto, se “toda observação pressupõe uma instância de
observação que prefigura o horizonte do observável”? 10
Na dissertação A ordem dos ladrilhadores problematizávamos as
“dificuldades internas intrínsecas à apropriação do objeto poético por uma objetividade
que se quer plena, firme, estável, segura e lógica” 11 e questionávamos: como escrever
sobre poesia? Retornemos àquela indagação. Ao abordarmos uma tríade de poetas
brasileiros, Oswald de Andrade, João Cabral de Melo Neto e Augusto de Campos que
configurariam uma linha construtiva de uma poesia insubmissa ao acaso, puséramos em
confronto duas linhas teóricas: uma formalista a ressaltar os aspectos da linguagem a
partir da função poética de Roman Jakobson e outra atenta para as relações históricas e
sociais que permeariam a produção poética selecionada. A conclusão a que chegáramos
apontava para uma irresolução da leitura de poesia a partir da dissonância entre estas
duas vertentes teóricas. Postulava-se então um outro modo de ler poesia insubordinável
à linearidade de uma lógica discursivo-analítica e que o método correspondesse
isomorficamente ao objeto de estudo, ou seja, um modo ametódico pelo qual o leitor
responda criativamente à própria escritura poética a qual ele se depara e não por uma
premissa apriorística determinante da objetividade separativa do sujeito. 10 - SOUZA, Ronaldes de Melo e. op. cit. , p. 64. 11 - PRIOSTE, José Carlos Pinheiro. A ordem dos ladrilhadores. Dissertação de mestrado. Rio de Janeiro: UFRJ, 1999. p. 218.
23
Ao elegermos a obra de Manoel de Barros como foco de uma tese teríamos
de partir do seguinte impasse: escrever a respeito de uma poesia que não compartilha da
mediania da expressão aprisionada a um pensar incompatível com qualquer contradição.
Se a poesia escolhida insurge-se contrária aos princípios norteadores do que se
determina como pensar, impõe-se não somente um criticar da dominância desse modo
de entender como se exige uma leitura em consonância com o que é imanente a esse
poetar. Este solicita do leitor uma convergência com um outro pensar que se encontra
mais próximo da origem da linguagem, ou seja, do inventivo e do imaginativo e não
adestrado pela racionalidade excludente do intuitivo e do sensitivo. No entanto, o
percurso barrosiano principiou por uma escrita ainda restrita a uma perspectiva objetiva
como representativa do real. Nosso escrever haverá de partir desse ponto de vista para
per/seguir o trajeto do poeta. Entretanto, como se situar face à mudança ocorrida na
poesia de Barros que a certa altura inverte o nexo usual e assume o paradoxal como
constituinte do próprio pensar e não como um desvio da lógica? Encarar esta poesia por
uma ótica rejeitada pelo poeta seria traí-lo tal qual um estuprador 12 a referendar a
dominância da racionalidade analítica. Reivindica-se então um pensar dialógico com o
poetar barrosiano postulante de uma analogia com a linguagem. Esta, no entanto, não
mais cativa da representação linear da realidade, mas propositiva de uma presentação
multiangular do real.
O percurso do poeta de Arranjos para assobio será desdobrado em duas
partes a compor a estrutura geral da tese. Uma parte, referente à trajetória inicial de
Barros, que recusamos denominar de primeira fase, denominar-se-á Elegia à divinação
12 - BARROS, Manoel de. “Uma palavra amanhece entre aves”. Entrevista a Antônio Gonçalves Filho. Folha de São Paulo. APUD: ____. Gramática expositiva do chão. (Poesia quase toda). 3 ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1996. p. 318 : “Poesia está sempre no escuro das fontes. Sofro medo de análise. Ela enfraquece a escureza das fontes; seus arcanos. Desses grandes poetas, que admiro e leio com devoção, eu não faria análise nunca. Nem comparativa. Primeiro porque não sei decompor. Segundo: não tem segundo. A grande poesia há de passar virgem por todos os seus estupradores. Pode ser amada, nunca analisada”
24
e esquadrinhará o sentido do humano meio ao imperativo do raciocínio calculador e
adestrador do imaginativo que se tornou refém do produtivo e do quantitativo. Esta
parte ainda circunscreve o domínio analítico como forma convencional de leitura
interpretativa de poesia de acordo com o vigente no meio acadêmico. Denomina-se
Elegia à divinação não somente como crítica ao pensamento matematicístico e
produtivo vigente no mundo contemporâneo como também ao modo de pensar literatura
na universidades restrito ao raciocinar que se determina pela análise. Divinação é o
mesmo que adivinhação, ou seja, aquilo que é rejeitado pelo pensamento científico por
não se determinar ao conceitual elaborado pela razão desencantadora do instintivo e do
intuitivo. A poesia, no entanto, navega no impreciso e não no preciso de um asseverar
raciocinativo pela exatidão.
O enfoque da obra de Manoel de Barros privilegiará a questão do humano a
partir do confronto com uma civilização dominada pela técnica racional que delibera
sobre a utilidade da produção e transforma os sujeitos em sujeitados a um modo de
pensar delimitado ao objetivo, ao racional, ao exato, ao legível e ao inteligível. Barros
realça o avesso disso: o rejeitado desvalorizado por uma sociedade produtiva de bens
consumíveis tanto duráveis como descartáveis. A razão vitoriosa condena ao ostracismo
o poeta por de/clamar palavras sem sentido por serem contrárias tanto ao senso comum
como à distinção das idéias. Barros encara a titânica e tirânica racionalidade pelo desvio
da ironia a perpetrar a paradoxalidade da contradição como meio de inverter a lógica
apensa ao princípio da identidade. Tudo se reverte em riso pelo olhar poético a postular
uma outra didática que reverta até ao originário da linguagem não conceitual, mas
inventiva e divinatória a restituir ao humano, sujeitado ao cogitativo separado do
sensitivo, a instância de uma agnição fundada na imaginação e no devaneio.
25
A discordância em relação ao paradigma do pensar a poesia pelo regrar
analítico linear nos conduziu a uma tentativa de ousar uma outra proposição de
compreensão. Ou seja, que não se conformasse ao raciocinativo moldado pela clareza
das idéias distintas, mas por um fluxo verbal margeante ao poético como possibilidade
de manifestação de um pensar próximo ao inventivo do devaneio, do sensitivo e do
intuitivo. A Outra parte, Elogio ao devaneio, configurará o que denominamos como
uma anti-tese pois se organizará tanto estruturalmente como estilisticamente de modo
diverso à parte inicial. A estrutura será desenvolvida por alguns tópicos recorrentes na
poética barrosiana: a poesia, o ordinário, o delírio, a palavra, a gnose, a infância, a
natureza, o dessujeito e a sujeição. Esta outra parte põe em questão o pensamento
analítico-discursivo vigente nos estudos literários como única possibilidade de leitura de
poesia. Propomos uma escritura atinente ao objeto, ou seja, uma transcriação poética
do pensar a própria poesia enquanto um fazer indistinto entre teoria e criação. Não se
advoga aqui, entretanto, a eliminação da via analítica ou a transformação em seu oposto,
a leitura poética, em senda dominante, mas que cada objeto de estudo reivindique uma
leitura própria e particular pertinente a cada ótica pessoal e intransferível. O que se
postula primeiramente é uma discussão sobre a hegemonia do discurso analítico como
primazia dos estudos literários, assim como a urgência da insurgência de dicções
distintas da conceitualidade dominante para a auguração de um di/verso entendimento.
Não que tal propósito se apresente em sua inteireza nesta tese, mas que se lancem os
dados para a discussão da clausura dos estudos literários nas uni/versidades a cooptar o
conhecimento à unicidade de um pensar raciocinativo impediente de outras
possibilidades divergentes do padrão aceito e imposto como norma. A anti-tese não
propõe uma reflexão enquanto sinonímia de pensamento restrito à razão mas de um
flectir, curvar-se, dobrar, vergar: um desviar retrocessivo à primitiva, primeva e
26
originária condição da linguagem. Um recurvar sobre si próprio, um voltear que re-
conduz ao original do humano eclipsado pelo ideal de pensar por idéias claras e distintas
a separar o que é inerente à própria linguagem: uma obscuridade intrínseca que se
esconde na profundidade de cada palavra. Nada é tão simples como querem parecer os
guardiães da clareza, pois tudo remete a uma obscuridade do sentido da própria
existência que não se apresenta sob o império de uma razão unilateral, mas de uma
simbiose dialética entre os contrários a exigir uma compreensão além do divisionismo
conformador de uma percepção estática. Como então expor tal complexidade a se
apresentar ao homem e a se representar através do humano a não ser por uma escrita que
transponha pela pluralidade indefinita da palavra toda a complexidão envolvente em
cada circunstância a circundar nosso conhecer? A partir deste limite é que nossa
escritura há de proceder e não sob o esquadro do raciocinar diretivo e uniforme, mas
pelo circular e re/curvo de um pensar multifacetado a re/volver uma flexão até revirar o
enrolado do pensamento em um desenrolar que retorna a um novo enovelamento infindo
e infinito. Bachelard sustenta que é na região do ultra-racionalismo dialético que sonha
o espírito científico:
é aqui,(...), que nasce o sonho anagógico, aquele que se aventura pensando, que pensa aventurando-se, que procura uma iluminação do pensamento através do pensamento, que encontra uma intuição súbita no além do pensamento instruído. 13
A estranheza da escrita desta tese per/segue, portanto, não a redução
exclusiva ao pensar racional, mas ao enredamento infindo que se origina no labirinto
espiralado ao adentrar o pórtico do sentir/pensar poético. A inviabilidade da clareza, de
acordo com o exigível à objetividade e ao entendimento intelectual, reflete-se nesta tese
não como subsunção ao hermetismo indecifrável e enclausurado em uma concêntrica
dispersão do sentido, mas como consciência da problematicidade de transcrever para o 13 - BACHELARD, Gaston. A filosofia do não. Filosofia do novo espírito científico. Trad. J. J. M. Ramos. IN: ____. Os pensadores, XXXVIII. São Paulo: Abril, 1974. p. 180.
27
plano da precisão a precariedade de uma gnose que não se sustenta sob a valoração
unilateral de um aspecto do conhecer, mas que reconhece na vigência da claridade a
presença da obscuridade, pois que estas se dis/põem uniaxialmente e indissolvíveis.
Portanto, aceder a um ideal de clareza seria subsumir a um padrão de pensamento que
se postula como fundamentador de uma cognição presumível de definir a exatidão como
revelação da verdade. Esta, entretanto, conforma-se ao designar dos signos que simulam
uma nitidez sustentável somente como convenção de uma ordenação linear e construída.
Nossa presunção e desmesura problematizam a dificuldade do conhecimento que evita
aceder à quimérica clareza de uma ordenação quando esta exclui do pensar a
obscuridade do que é desordenado e desconexo. O pensamento poético não pode se ater
à fixação determinante de um padrão verificativo da inteligibilidade pela exclusão do
ininteligível que se apresenta simultaneamente como força correlata e vigente da
dinâmica do pensar. Contra o acorrentamento ao ideário de um pensamento idealizado
balizado em uma concepção do inteligível divergimos não por defesa da irracionalidade,
mas como proposição de um entendimento além do limitável que nos condiciona a uma
percepção aprisionada a padrões e valores que referendam uma fronteira divisional entre
o permissivo do pensável, enquanto escravo do ordenável, e o inviolável não excedível
pelo aceitável de acordo com as convenções do conhecido. A desmedida que se avizinha
ao nosso ousar postula um avançamento na percepção do objeto poético por uma
subjetividade que não se confranja ao opinativo como também recusa uma visão
analítica como via única determinante de um suposto preciso pensar. Que este possa
flexionar conjuntamente com o sentir uma outra possibilidade de dizer se não o
indizível, mas defender a manifestação da insurreição de vozes contrárias à expressão
dominante ainda refém de uma razão reverencial de uma lógica divisional e excludente
do diferenciado, do inortodoxo e do heteróclito.
28
A divisão entre uma parte primeira e a outra parte consecutiva,
entretanto, desimplica qualquer propósito linear causal-seqüencial, pois vigora antes
uma crítica que se faz ao modo divisionista de se conceber o real por oposições quando
o que se postula nesta tese é a complementaridade dos contrários. Daí as partes desta
tese se complementarem não como opostas, mas como uma unidade dual a configurar
aspectos diferentes do mesmo: a poesia, neste caso a de Manoel de Barros. A estrutura
geral da tese configura isomorficamente uma relação entre o que se defende, ou seja,
uma unidade dual complementar e não opositiva dos contrários, e a divisão em duas
partes que conformam uma unidade indissociável. Ambas as partes conjuminam um
mesmo aspecto indissociável: tanto o discursivo a problematizar o humano como a
leitura poético-retórica ao avesso da normatividade escritural das teses acadêmicas
apontam para uma revisão das cercaduras e extremidades a demarcar o conhecer a
perspectivas impedientes do exercício da liberdade da linguagem. Desta forma a
unidade entre leitura crítica e criação postula-se como co-participante da estrutura geral
análoga ao postulado central da tese. Portanto, não há como separar a problematicidade
da linguagem que se apresenta em sua materialidade sonora e poética, estranhável por
ser in/comum, e a crítica ao modo hegemônico de se estudar poesia nos bancos
universitários moldado em um racionalismo opositivo ao discurso poético.
Mais que a obra do poeta mato-grossense o que problematizaremos é a
própria poiesis, o fazer poético que não se dobra à dimensão do produzir enquanto
perfazimento de realizações reais. A Poesia instaura um discurso produtor de
inquietações quanto ao conceito de realidade, pois suplanta o condicionamento ao
contingencial através de uma permanente desestabilização das certezas moldadas por
perspectivas temporais e espaciais. Gaston Bachelard indaga: “os coeficientes de
realidade não diferirão consoante as noções, de acordo com a evolução dos conceitos,
29
de acordo com as concepções teóricas da época?” 14. Terry Eagleton, por sua vez,
afirma que a poesia é “entre todos os gêneros literários, o mais evidentemente desligado
da história, aquele em que a sensibilidade pode desenvolver a sua forma mais pura,
menos impregnada pelo aspecto social” 15. Não que a poesia esteja imune ao desenrolar
do pesadelo histórico, ou que negue o contingencial, pois o que ela suscita implica não
somente uma sobrelevação do conceito de história atinente ao registro do factual ao
levar em conta “a verdade de que nada do que um dia aconteceu pode ser considerado
perdido para a história” 16, mas uma compreensão não teleológica e sim caleidoscópica
em que tanto o cotidiano e o coloquial tenham a mesma importância que o não vivido, o
sonhado e o imaginado. Não se deduza, entretanto, um propósito filosófico subjacente
ao pretender desta tese nem um fazer desta um arremedo de poesia, mas uma
desconstrução das fronteiras para a instauração de um pensar poético, pois de acordo
com Heidegger “entre ambos, filosofar e poetar, impera um oculto parentesco porque
ambos, a serviço da linguagem, intervêm por ela e por ela se sacrificam. Entre ambos,
entretanto, se abre ao mesmo tempo um abismo, pois moram nas montanhas
separadas”17.
Esta tese, no entanto, sustenta que a faculdade de pensar, e não filosofar, se
instaura pela imisção com o poetar diversamente de um estabelecimento rígido de
margens separativas. A determinação de princípios a priori avessos ao devanear
demarca o rumo do pensar analítico pelo trilhar seguro de uma razão incólume às
influências de um sujeito instável e problemático quanto à objetividade de qualquer
conhecimento. Entretanto, tal partição polar entre o subjetivado e o objetivado contradiz
14 - BACHELARD, G. Op. Cit. p. 183. 15 - EAGLETON, Terry. Teoria da literatura: uma introdução. Trad. Waltensir Dutra. São Paulo: Martins Fontes, s.d. p. 55. 16 - BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política. Ensaios sobre literatura e história da cultura. Obras escolhidas. VOL. I. Trad. S. P. Rouanet. 6 ed. São Paulo: Brasiliense, 1993. p. 223. 17 - HEIDEGGER, Martim. Que é isto – a filosofia? Trad. Ernildo Stein. IN: ____. Conferências e escritos filosóficos. São Paulo: Abril, 1973. (Os pensadores, XLV) p. 221.
30
a lógica poética cúmplice do princípio da complementaridade dos opostos. No
paradoxismo inerente ao poético encontra-se a proposição do pensar originário
concernente ao humano ainda não agrilhoado às designações correntes na caverna do
saber na qual as conceituações definidoras e delimitadoras interditam o vôo devaneador.
Trata-se, portanto, de defender aqui uma prática do Pensar, poético, não somente
restrito a uma concepção teórica como crítica do pensamento hegemônico, mas revirar
este ao avesso para instaurar o integrativo entre os contrários dos pólos antípodas, como
o sentir não mais diferenciado do pensar.
Não se infira que se pretenda a cópia do idioleto manoelês archaico 18.
Vigora, sim, o desejo de um diálogo por uma filtragem interior e pessoal da escrita do
outro. Intentou-se a proximidade ao poetar como uma equivalência ao fundamento de
um pensar avesso ao analisar retilíneo que separa entre o poetar e a raciocinação.
Descarte-se também qualquer intencionalidade na direção da anulação do sentido, pois
se não se corrobora o pensar linear não se pretende a ruína do pensável e sim alentar o
advento de um reflexionar em conjunção com o pres/sentir. O labiríntico norteia nosso
diligenciar por uma analogia com os meandros da poética barrosiana a se fundar no
sensivo de um pensar infixo em um calcular, pois intenciona o desarraigamento da
linguagem submissiva a um cogitar impediente do imaginar. Se a linguagem para
Manoel de Barros é a genetriz, nutriz e diretriz primordial a instaurar um confabular
com a natureza, é conjecturável que tal mediação se enraíze em um pensar originário,
portanto, poético como condição de possibilidade de superar tal mediar. Se tal parece
ser irrealizável resta a tentativa de transcrever aqui nosso ínvio lutar com as palavras.
Daí nosso dizer se fazer nas fímbrias não propriamente do escrever de Barros, mas na
18 - BARROS, M. de. Livro sobre nada. 8 ed. Rio de Janeiro: Record, 2000. p. 43.
31
proximidade das propriedades intrínsecas ao poetar: o inventivo sem definidade, o
indefinito sem finidade, o infinito sem impossibilidade.
A cada um compete o seu possível...
33
2- HUMANO, CONSIGNADO HUMANO
A poética de Manoel de Barros se compõe de certas marcas constantes, que
ele designa como arquissemas, indicativas de um referencial à natureza que se traduz
em “sapo, lesma, antro, musgo, boca, rã, água, pedra, caracol” 19. Embora esta
constância conforme um feixe que tem por elemento aglutinador o mundo natural, no
entanto defendemos a hipótese de que ao versar sobre cada um destes, como sobre
outros signos, o poeta termina por remeter sempre a uma instância desencadeadora de
poesia: o homem seja sob a condição social ou naquilo que o revela, a linguagem. Este
nosso acolher, menos que uma análise, não se funda na determinação de esclarecer ou
desvendar com exatidão, mas em seguir o rastro do que antes é próprio da “obscura
verdade reprimida” 20 em que se pauta a escrita do poeta. Para tanto concebemos a obra
barrosiana não por fases, mas como um percurso que o poeta trilha e na qual pode ser
observada uma primeira etapa em que se configura uma poética a denunciar a condição
degradada do humano em confronto tanto com a dominância da técnica como com uma
concepção do divino afastada da concretude do mundo. Este é o nosso primeiro passo
de aproximação da obra.
19 - BARROS, Manoel de. “Pedras aprendem silêncio nele”. Entrevista a Turiba e João Borges. Revista Bric-a-brac. APUD: ____. Op. cit. p. 327. “Arquissema, aprendi de um filólogo, cujo nome não me lembro agora, são palavras logradas dos nossos armazenamentos ancestrais, e, que ao fim norteiam o sentido de nossa escrita. Arqui, derivado do grego archos, é aquele que comanda. Essas palavras chaves, portanto, orientam os nossos descaminhos. Orientam nossa obra a fim de que não fujamos de nós mesmos no escrever”. 20 - BARROS, M. de. Op.cit. p. 328.
34
Você é um homem ou um abridor de lata?21 Esta questão indaga sobre o
humano distinto de um mero artefato. Mas o que propõe tal indagar ao estabelecer uma
diferença entre um e outro? O segundo termo não compreende uma definição clara, pois
pode ter um duplo sentido. O vocábulo abridor pode ser entendido como o que abre ou
serve para abrir. Ao ser justaposta a outro sintagma, de lata, compreende-se como um
utensílio fabricado com o objetivo de servir ao homem ou este é que se reduziria a
sujeito de uma ação destituída de criação e invenção, repetidor de uma atividade
rotineira, habitual e naturalizada pelo uso? O postular alternativo da questão não
delineia inequivocamente o que seja um abridor: se o objeto fabricado com a função de
abrir latas ou se o próprio homem que seria assim reduzido a uma única atividade
configuradora de uma existência desprovida de possibilidades mais amplas. Se
pensarmos no abridor como um mero utensílio, produzido para fins práticos, a
comparação ao homem impõe ao interlocutor virtual um ato decisório que defina: você
é um homem ou uma coisa?
Deste modo a questão parece pressupor em seu perguntar uma outra: o que
é o homem? Se o homem para Aristóteles é zoon logon échon, “animal que tem por
dote a razão” no dizer de Heidegger 22, para Descartes é res cogitans, uma coisa
pensante. Ou seja, se o homem é aquele que cogita, um ser que pensa, que se pensa em
seu pensar, há que se perguntar, por sua vez, a relação da questão do ser com o pensar.
Heidegger entende a sentença de Parmênides tò gàr autò noein estìn te kaì einai como
21 - ____. Gramática expositiva do chão. Rio de Janeiro: Record, 1999. p.10. Esta frase remete a um dos títulos encontrados nas 29 folhas de caderno de um homem que fora preso. Tal episódio é narrado em “Protocolo vegetal”, a primeira parte do livro Gramática expositiva do chão, que corresponde a um dos títulos do caderno encontrado com o prisioneiro. Um dos outros títulos, “29 escritos para conhecimento do chão através de São Francisco de Assis”, configura-se em outra parte deste livro de Barros. “Retrato do artista quando coisa” transforma-se posteriormente, em 1988, no nome de um livro de Manoel de Barros. 22 - MICHELAZZO, José Carlos. Do um como princípio ao dois como unidade. Heidegger e a reconstrução ontológica do real. São Paulo: Annablume / FAPESP, 1999. p. 46.
35
“o mesmo, pois, tanto é aprender (pensar) como também ser” 23. Pensar e ser teriam
lugar no mesmo, ou seja, ser pertence com o pensar ao mesmo e formariam uma
unidade em um comum–pertencer:
se compreendermos o pensar como a característica do homem, então refletimos sobre um comum–pertencer, que se refere a homem e ser. No mesmo instante nos surge a questão: que significa ser? quem ou o que é o homem? 24
A questão barrosiana postula-se na problematicidade do ente, pois tanto o
homem como o abridor de latas se apresentam como entes. Heidegger afirma que o
homem é manifestamente um ente e faz parte da totalidade do ser como a pedra, a
árvore e a águia. Se homem e ser pertencem um ao outro seria possível a identidade
entre um abridor de lata, ou mais: entre o universo técnico e o ser? 25
Se, no entanto, a pergunta de Barros posta no proêmio deste nosso
acolhimento de sua poesia, clama menos por uma definição exata do que por uma
compreensão da diferença entre o ser do ente homem e um mero executor de tarefas
práticas e repetitivas, portanto mecanizadas e desumanizadas, a questão termina por
revestir-se de um teor ético mais que ontológico. Entretanto, no cerne do perguntar
sobre a alternativa entre um elemento e outro da questão insere-se um verbo: muito mais
do que buscar uma definição entre isto ou aquilo, instaura-se o problema do ser, pois o
que se pergunta é se o interlocutor É um homem ou um abridor de lata.
A indagação apresentada por Manoel de Barros torna possível uma
aproximação de sua obra tanto sob o ponto de vista ético como ontológico. Se vige, no
entanto, uma preocupação do poetar barrosiano com a condição humana, e se ao situar
esta em um mundo no qual vigora o domínio da técnica e da reificação implica em uma
23 - HEIDEGGER, Martin. O princípio da identidade. IN: ____ e SARTRE, Jean Paul. Conferências e escritos filosóficos. Trad. Ernildo Stein. São Paulo: Abril Cultural, 1973. p. 378. (Os pensadores, XLV). 24 - Id., ibid. p. 380. 25 - Id., ibid. p. 381.
36
preocupação ética e social, contudo, tal problematicidade não exclui uma atenção a
questão do ser. O percurso do poeta demonstra isto. Para tanto seguiremos o curso que o
próprio poeta traçou em sua obra que prima no início por uma atenção primeira ao
homem sob o prisma da condição social.
37
2.1- POSTAIS DA CIDADE
Já nos primeiros passos a poesia barrosiana prima por um palmear o chão
tendo por companhia os pés dos indigentes. Em Poemas concebidos sem pecado,
primeiro livro publicado pelo poeta expõem-se “Postais da cidade”. Dentro de um
horizonte de expectativas cristalizado o presumível de um postal qualquer subscreveria
um figurativismo representacional atinente ao pitoresco que retratasse a região mato-
grossense nos aspectos geográficos e turísticos imediatamente reconhecíveis pela
aprazibilidade da paisagem. Um postal constrói-se, portanto, a priori por um código
formal elaborado dentro de margens estreitas que restringem a composição da imagem a
determinados aspectos de um lugar representado de modo que se ressaltem unicamente
as características identificadoras das singularidades geográficas marcantes e
designadoras de uma identidade diferenciada do restante dos outros lugares. Entretanto,
tal singularidade geográfica termina por se restringir a uma formalização ideal
estipulada por um modo de representar paisagens, uma referência exemplar,
paradigmática que tem por premissa enquadrar exclusivamente o aspecto aprazível de
uma determinada localidade através do enfoque restrito de uma característica que a
identifique por traços reconhecíveis. Ao se esquivar de uma exposição dos aspectos
sociais problemáticos a paisagem torna-se, então, inumana, uma fachada, um cenário
ensolarado de tonalidades vibrantes cujo enquadramento previsível e convencional
condiciona e constrói um olhar asséptico e distanciado das entranhas do viver que
fervilha naquele espaço. Não pulsa aquilo que caracterizaria, segundo alguns, o homem:
o pensar. Todo postal evita tudo o que se considere como desagradável, que incomode
ou perturbe a recepção de um olhar que deseja a fruição prazerosa e desatenta de
38
aspectos instantaneamente identificáveis como belos, desinteressados. Os postais
barrosianos não subscrevem tal ordem de representação antes registram imagens através
de um enfoque que possa aflorar o pensar crítico frente ao desconforto do mirado. Para
isto ressalta os aspectos da degradação humana como no postal de Maria-pelego-preto,
de 18 anos, cujo pai entrevado cobrava entradas para homens espiarem o púbis
abundante de pelos da jovem. O poema visa arremessar o leitor na comoção para fazer
irromper a indignação, mas que, no entanto, não se traduz no moralismo da fala de um
“senhor respeitável” que bradava sobre o “desrespeito às instituições da família e da
Pátria” 26. O verso final desarma qualquer juízo moralizador ao assinalar que o humano
se degrada diante de condições que o ultrajem: “Mas parece que era fome” (51). Esta é a
tática de Barros: instaurar o abalo para comover e desencadear a consciência crítica.
Estes postais pelo avesso não são enviados por um viajante acidental, em
trânsito, passageiro fortuito a flanar interessado apenas na face imóvel, paralisada,
idealizada, inerte de uma cidade, mas por um homem que vive entre esses homens. E
pensa sobre estes homens. Interessa-lhe algo como “a estátua de Antonio Maria Coelho,
herói da Guerra do Paraguai” (39), não como uma representação de heroísmo, mas pelo
risível do inusitado a desconstruir a solene figuração, pois tal escultura está cheia de
besouros na orelha. Uma estátua não possui a propriedade da fala, da audição, da
locomoção, da respiração, do pensar, ou seja, não vive. É uma coisa. Importam ao poeta
antes os homens. Estes, entretanto, vivem em um plano diverso daquele em que transita
um poeta municipal que se relaciona com a realidade através das palavras com as quais
descreve a cidade como um escrínio, “coisa relacionada com jóia, cofre de bugigangas”
(39). Ao olhar de Barros a cidade, no entanto, inexiste somente na redução a uma mera
figura de linguagem, abstratamente constrita ao pensar poético, mas realiza-se na 26 - BARROS, Manuel de. Poemas concebidos sem pecado. 3 ed. Rio de Janeiro: Record, 1999. p. 51. Neste capítulo e no próximo as citações referentes às indicações entre parênteses apontarão para esta obra e edição.
39
existência de seres como Negra Margarida, “boa que nem mulher de santo casto” (40), e
que um dia foi embora com um negro risonho. Flagrantes humanos do agir cotidiano
como este, destituídos de heroísmo enaltecedor, é o que importa ao pensar
comprometido do poeta. Esta ótica desvia o foco não somente do postal como um
constructo a retocar cenários assépticos, mas da normalidade provinciana dominante
para atentar para seres que co-movam, que desencadeiem abalos como Mário-pega-
sapo, apreciador de velórios e jias, e que na companhia de dementes e embriagados
ocupam uma draga abandonada. Esta quando passa a designar uma condição
degradante, não se institui, no entanto, pela via oficial do léxico, mas surge, floresce e
viceja a partir da fala regional, da boca dos seres humanos que manifestam o seu modo
de ser: “estar na draga, viver na draga por estar sem dinheiro, viver na miséria” (44). Se
qualquer postal induz à imobilidade do pensamento pelo embevecimento estético,
portanto, desinteressado, porém, ilusório diante do construído idealmente, a poética
construída por Barros postula um agir comprometido que pro-voque, que faça o leitor
observar a vida concreta pela ótica crítica da condição humana como desumana, ou seja,
um mundo no qual não floresce o ser em sua plenitude.
Este pensar crítico para se fundar necessita fundamentar a própria
linguagem. Ralph Waldo Emerson concebe que toda palavra foi algum dia poema e que
a linguagem é poesia fóssil 27. Barros ao escrever um livro que versa sobre as
reminiscências referentes à infância compara o fazer poético ao trabalho do arqueólogo:
Porque eu havia lido em algum lugar que as palavras eram conchas de clamores antigos. Eu queria ir atrás dos clamores antigos que estariam guardados dentro das palavras. Eu já sabia também que as palavras possuem no corpo muitas oralidades remontadas e muitas significâncias remontadas. Eu queria então escovar as palavras para escutar o primeiro esgar de cada uma. 28
27 - EMERSON, Ralph Waldo. Ensaios. Trad. José Paulo Paes. São Paulo: Cultrix, 1976. p. 133. 28 - BARROS, M. de. Memórias inventadas. Minha infância. São Paulo: Planeta, 2003.
40
O poeta parece exemplificar a tese do filósofo americano sobre a linguagem
que se constituiria “de imagens ou tropos, que hoje, em uso secundário, de há muito
deixaram de fazer-nos lembrar sua origem poética” 29. O poema sobre a draga coloca-
nos diante desta origem. Se a poesia, para Manoel de Barros, devolver-nos-ia a origem
poética das palavras gastas pelo uso 30, no entanto, no percurso inicial de sua trajetória
poética a condição criadora se origina da palavra corrente a circular no cotidiano das
pessoas. A palavra usual instaura uma condição de possibilidade de poesia a partir da
função básica de criar elos, fazer irromper clareiras, disseminar entendimento entre os
homens. A poesia origina-se, a seu ver, como criação oriunda da vivência humana
através da palavra confeiçoada pelo palato humano e não em estado de dicionário ou
fórmulas poéticas. Emerson afirma ainda que o “vocabulário de um homem onisciente
deveria incluir palavras e imagens que são excluídas da conversação polida. O que seria
vil, ou mesmo obsceno, para o obsceno torna-se ilustre quando usado numa nova
conexão de pensamento” 31. A pré-ocupação do poeta com uma linguagem proveniente
do registro informal, impregnado das incrustações e sedimentações cotidianas da
existência, demarca um território no qual vigora o ímpeto da palavra sempre como
instauradora de significações firmadas por um acordo social e não apenas um jogo
formal de significantes esvaziados.
Retornemos ao poema que se refere à draga e o que ele pode despertar. O
processo de transformação da coisa em signo se efetiva pela relação social que se efetua
entre os homens. A palavra é um instrumento de troca entre os seres humanos e ao
poeta, neste ponto de seu caminhar, importam as palavras relacionadas ao existir diário,
ao agir poético como uma possibilidade de suscitar um outro pensar. A coisa, o objeto
draga precede a expressão “estar, viver na draga”, que conota outro sentido à coisa 29 - EMERSON, R. W. Op.cit. p. 133. 30 - BARROS, M. de. Op.cit. p. 310: “Só os poetas podem salvar o idioma da esclerose”. 31 - EMERSON, R. W. Op. cit. p. 130.
41
designada. A palavra pro-voca então, a partir de sua relação com o agir, uma revelação
da condição humana atrelada aos limites espaciotemporais. No entanto, tal expressão
não é acolhida pela normatividade do registro de um léxico, apenas circula oralmente
entre os falantes. Ou seja, é algo que vige à margem da norma culta dos salões oficiais.
O poeta, então, oferece “ao filólogo Aurélio Buarque de Holanda / Para que as registre
em seus léxicos / Pois que o povo já as registrou” (44). A palavra draga, assim, ao não
subscrever a poeticidade de um léxico nobre e emplumado, pois se contamina com o
que é próprio aos viventes, é carreadora de rastros e ranhuras humanas. Roland Barthes
afirma que “sob cada Palavra da poesia moderna, jaz uma espécie de geologia
existencial, onde se reúne o conteúdo total do Nome, e não mais seu conteúdo eletivo
como na prosa e poesia clássica” 32. No entanto, esta palavra da poesia moderna seria
enciclopédica, genérica, uma categoria a configurar um estado de dicionário reduzido a
um grau zero. Não é o que ocorre na etapa inicial da travessia barrosiana, e em toda a
sua obra, pois nos primeiros livros a palavra é dirigida de antemão, ou seja, decorre da
intencionalidade geral de um comprometimento que se norteia pela intervenção crítica.
De modo diverso ao da poesia moderna que concede à palavra uma instância absoluta
de possibilidades infinitas, Barros articula nos primeiros livros um conteúdo eletivo
guiado por relações seletivas determinadas pelo contexto social da realidade vivenciada.
Para evitar que a poesia transforme-se em uma fala terrível e inumana o poeta de Face
imóvel pretere uma escrita regida por ausências que se oponha ao que se concebe como
uma função social da linguagem. Se a linguagem se caracteriza por uma determinação
do encontro, do entendimento com o outro, portanto, subsistindo como um fenômeno
social que se realiza pela troca verbal, há que se entender não apenas a poesia inaugural
de Manoel de Barros por esse prisma, mas todo o seu percurso que se orientará por uma
32 - BARTHES, Roland. O grau zero da escritura. Trad. A. Arnichand. e A. Lorencini. São Paulo: Cultrix, 1971. p. 61.
42
convergência com a fala como o traço que busca distinguir o que constitui o humano.
Este percorrer, no entanto, toma rumos distintos ao longo do caminho.
No despontar desse trajeto não vige ainda a desconstrução das relações de
linguagem que submeterá a escrita a um descontínuo que obscurece a lógica sintática
configuradora da representação da realidade. Entretanto, a poesia barrosiana, desde o
seu iniciar, não se filia a um veio da poesia moderna que, no modo de dizer barthesiano,
seleciona
palavras-objetos sem ligação, ornadas de toda a violência de sua explosão, cuja vibração puramente mecânica toca de maneira estranha a palavra seguinte, mas logo se extingue – estas palavras poéticas excluem os homens: não existe humanismo poético na modernidade: esse discurso de pé é um discurso cheio de terror, vale dizer, que põe o homem em ligação não com os outros homens, mas com as imagens mais inumanas da Natureza. 33
Contrariamente a essa poesia que ao se desprender da fala reivindica uma
autonomia por um corte profundo 34, Manoel de Barros, seja nas primeiras obras, em
que efetua uma articulação entre representação e realidade, ou em todo o seu percurso,
não abandona o domínio da significação pela redução do significante à camada da
materialidade. Antes, desvia-se da linguagem funcional, pragmática e instrumental não
para debilitar os significados, mas para recuperar o estado anterior às conceituações
inequívocas das idéias claras e distintas. Se no início da trajetória Barros delineia uma
poética para censurar as desigualdades sociais, no entanto, o impasse diante da palavra
como a instância que funda o humano, mas que se despe de sua humanidade ao intentar
uma supremacia da exatidão, impõe, então, ao poeta um redimensionar o fazer poético.
Se os primeiros versos do poeta primam por uma atenção à fala dos excluídos do
registro oficial, isto traduz uma priorização do homem como cerne do fazer poético e
33 - Id., ibid. p. 63. 34 - FOCAULT, Michel. As palavras e as coisas. Uma arqueologia das ciências humanas. Trad. Salma Tannus Muchail. São Paulo: Martins Fontes, 1999. p.60.
43
que resultará em uma etapa posterior na recusa ao discurso matematicístico, calculador
e operacionalizador. Porém, observe-se que o inicial enfoque crítico da realidade é
distorcido por um enquadramento a enviesar a representação que se postula como
denúncia. Que distorção proposital é esta? É a ironia que se infiltra no postal de Seu
Zezinho-margens-plácidas: “célebre fazedor de discursos patrióticos, agora aposentado,
morava em seu sítio denominado A Abóbora Celeste (...)” (47). Ora a representação
desse brasileiro alcunhado com uma designação retirada de um trecho do hino nacional,
portanto um signo referente aos valores pátrios, entretanto, é um negociante de sabiás,
um pássaro designador no Romantismo brasileiro de um traço identitário da
nacionalidade. Assim, instaura-se um desfiguramento que se funda na transfiguração da
realidade, porém, não por um falseamento seja de uma representação direta da realidade
ou por uma idealização, mas por uma escrita não descritiva ou reprodutiva, mas irônica.
44
2.2- RETRATOS A CARVÃO
A necessidade de pro-vocar um pensar crítico que não seja anulado pela
convenção representacional do figurativismo paisagístico conduz o poeta a criar retratos
que tenham por centro a figura humana. Daí a recusa ao postal. Ao evitar uma
representação não-oficial e embelezadora da cidade que elimina a presença dos homens,
o poeta opta, então, por “retratos a carvão”, título de uma das partes constituintes do
primeiro livro. No entanto, tais retratos não se conformam ao que é exigido como
condição de figuralidade clássica, ou seja, atributos superiores que devem ser
representados de maneira enaltecedora e enobrecedora. Os retratos barrosianos
esquivam-se dos contornos convencionais da representação ao ressaltar justamente o
que o olhar clássico estipularia como traço indesejável. Daí o título destes poemas
referir-se a uma técnica artística que não configura a representação clássica de um
registro asséptico e aparentemente fiel de uma máquina fotográfica. Projeta-se, assim,
um fazer artístico que re-faz o vivenciado pelo riscar não preciso dos dedos a flagrar
instantâneos como um esboço em que o negror macula a brancura do suporte. O carvão
constitui-se, então, como elemento isomórfico a unir a representação ao representado,
posto que os miseráveis de Barros não se enquadram na luminosidade da paleta à óleo
pois exigem uma aproximação vital e não uma figuração nobre e polida.
Barros ressalta que sua escrita é uma fala a flagrar os habitantes que não
mostram a face no cenário de fachada de um postal: “falo da vida de um menino do
mato sem importância” (PCSP,68). No entanto, não é uma fala desinteressada, mas
desencadeadora tanto de um pensar como de um co-mover que reflita sobre a condição
humana no limite. Polina, uma menina de oito anos, “rolava na terra com os bichos /
tempo todo o nariz escorrendo” (63). A relação homem e animal é o que funda este
45
existir: “de tão sós e sujos, Cláudio/ e esse jacaré se irmanavam” (63). Nesta simbiose
entre o humano e o mundo natural, em que “todos eram iguais perante a lua” (65) uns,
entretanto, não se atrelam mais ao limite do racional: “desencostado da terra/ Sabastião /
meu amigo / um pouco louco” (65). Deste modo, neste mundo a realidade não se
apresenta ao olhar pelas lentes e objetivas de uma razão desencantada em que
predominem a clareza das idéias, mas ainda sob o prisma do imaginário popular
fundado no mítico: “à noite vinha uma cobra diz-que / botava o rabo na boca do anjo / e
mamava no peito de Petrônia” (68). Porém, a condição humana no Pantanal ao se
imiscuir com a animalidade circundante de um meio no qual não vigem as leis da
racionalidade calculadora, mas do imaginário mítico, termina vez ou outra por se
degradar na luta pela sobrevivência. É o caso de Antonina-me-leva, uma prostituta que
recebe, por vezes, três e até quatro comitivas de vaqueiros. A ética barrosiana, contudo,
mais uma vez não subscreve o moralismo provinciano condenatório, pois procura, antes,
compreender as razões humanas sempre sob uma perspectiva crítica: “a fome não é
invenção de comunistas, titio. / Experimente receber três ou quatro comitivas de
boiadeiros por dia!” (73).
46
2.3- BOCA
A contrapelo da poesia moderna, ou seja, procurando restaurar o elo entre
significante e significado como representação crítica da realidade, Barros inicia um
percurso que se funda a partir da fala. Assim, um dos arquissemas arrolados por Manoel
de Barros como fundadores de sua poética é boca. Esta palavra pode ser entendida
como um traço indicial da presença humana que pode indicar tanto o aspecto sensorial
referente ao paladar como ao prazer, portanto ao desejo, e mais ainda: implica em uma
dualidade que tanto aponta para fala como para o silêncio. A boca para o poeta, no
entanto, funda-se na fala. E esta se manifesta em uma intervenção que recusa silenciar-
se diante da desigualdade, da injustiça e da exploração dos homens por outros homens.
Como observamos, a boca do poeta frente a um mundo desigual não se
permite compactuar com uma estética subscritora do vazio da neutralidade asséptica de
um postal, mas vira a construção cenográfica pelo avesso para denunciar o humano que
ainda pulsa. Tudo aquilo que transforma o homem em inumano, em um ente destituído
de vontade e autonomia é matéria da poesia inicial de Barros. Frente à degradação
humana o poeta não silencia e afronta o moralismo provinciano por uma intervenção
que sobrevém através da palavra:
- O que você fazia lá? Que rastejava tatu. Voltava correndo avisar o padrasto: lá no brenha tem uma! Tornasse pra casa sem rasto apanhava no sesso. Eras sesso mesmo que empregava. (PCSP,61).
Se nesta poética inaugural não vigora um projeto estetizante, no entanto, a
mera exposição verbal do aviltamento do ser humano não parece ser suficiente, e sim o
propósito ético de provocar uma re-ação modificadora das condições da existência: “É
47
preciso AÇÃO AÇÃO AÇÃO / Levante desse torpor poético, bugre velho.” (PCSP,35).
Reconhece, no entanto, que o mundo somente se traduz no poema através do advento e
da mediação da palavra. Se esta é urdida nos primeiros livros de Barros como elemento
desencadeador de possibilidades de pensamento crítico e transformação, a função social
que o poeta busca conferir ao fazer poético fundamenta-se na própria linguagem, ou
mais especificamente, na língua. Assim como para T.S.Eliot o dever do poeta é
preservar, ampliar e melhorar sua língua 35, Manoel de Barros busca “promover o
arejamento das palavras, inventando para elas novos relacionamentos, para que os
idiomas não morram a morte por fórmulas, por lugares comuns”. 36
No passo seguinte da poesia barrosiana o livro Face imóvel a fala
impossibilita-se, pois o homem encontra-se diante de contingências históricas graves:
uma guerra mundial. Como então reagir diante do pesadelo da história? Frente ao ecoar
de sirenes e explosões distantes, prevalece o silêncio:
Tudo permaneceu sem um grito, Um pedido de socorro sequer. Ele passou sem calúnias E é possível que sem corpos que o chamassem. (FI,70)
A instância primordial da poesia de Barros, no entanto, preserva-se intacta,
pois tanto ao valorizar a fala dos segmentos marginalizados da sociedade como ao
enunciar o emudecimento e a consternação diante de um mundo em conflito, a
preocupação fundamental é com o outro. Este traço, o desdobramento em alteridade,
será uma característica constante na ética barrosiana. Ser humano implica em saber ser
o outro, perceber, sentir, conhecer, entender, aceitar, pensar e viver a dor dos relegados
ao escárnio, ao desprezo e ao infortúnio, seja uma prostituta da Lapa, de Curitiba ou
35 - ELIOT, T.S. A essência da poesia. Trad. Maria Luiza Nogueira. Rio de Janeiro: Artenova, 1972. p. 35. 36 - BARROS, Manoel de. “Sobreviver pela palavra”. Entrevista a José Otávio Guizzo. Revista Grifo. Campo Grande, MS. IN: ____. Op. cit. p. 310.
48
ainda um menino inglês cuja rua foi bombardeada: “Ontem de tarde eu vi o pai de Katy
voltando do trabalho – e nunca mais o verei // Porque por onde ele passou agora as
ruínas fumam silenciosamente...” (FI,62). Diante de um momento histórico de
gravidade mundial como o conflito de uma guerra distante as bocas nada mais dizem,
assim, não há mais a transcrição das falas: “Eles estão esperando um grande
acontecimento. / E estão silenciosos diante do mundo, silenciosos. // Ah, mas como eles
entendem as verdades / De seus infinitos segundos” (FI,65). O não-dito ao se fundar
pela negatividade, no entanto, conforma uma fala que, embora, não se efetive na
materialidade da palavra, pois a experiência da dor é indizível, problematiza o dizer e o
fazer poético. O entendimento ultrapassa, então, a mera emissão sensorial da palavra: o
silêncio também traduz sentido. Captar esse dizer que não se expressa sob a sombra e
sobra da palavra, mas espreita em surdina o silêncio, é o estro de um poeta que pensa
sobre o próximo embora desprezado ainda assim não desprezível. O silêncio paralisante
que se imprime no mundo circundante, entretanto, não induz ao emudecimento da
palavra poética, antes ensina ao poeta seguir em direção ao outro, a tentar apreender
nessa silencialidade o sentido da existência. A auscultação do outro, mesmo no
silenciar, instila no poeta, por vezes, outras falas como a de uma persona feminina que
exalta o prazer conceptivo da criação:
(...) Aberta Estou, como pétalas noturnas, Para os astros. Minha boca silenciosa. Ficarei inclinada levemente para ele Como torre. Inclinada para sua violência. Ele me fará frutificar como as árvores na chuva. Florescer entre pedras, aves e astros. Abrir-me Como rosas da noite, ao luar. (P,79)
49
2.4- COISAS DESÚTEIS
Como se dá, então, a resistência do humano em um mundo destituído de
humanidade que silencia a palavra, envilece o ser e o converte em coisa, em um abridor
de latas? Se a racionalidade matematicista avaliza uma expressão que determina à
linguagem científica a eliminação de sentidos equívocos, ou seja, afiança a eficácia de
um discurso da exatidão designado não ao pensar crítico, mas ao produzir, então resta
ao poeta ativar aquilo que constitui o humano em sua propriedade diferencial não
somente em relação aos outros entes mas também aos próprios homens desumanizados:
a linguagem poética. Os sentidos do poeta passam a atentar, assim, para aqueles que não
se renderam ao jugo de uma sociedade regulada pelo lucro e que repeliram a posição
cômoda que designa o homem à produção e ao consumo. Os andarilhos em andrajos,
então, serão seus guias em um périplo cujo télos não se determina pelo desígnio da
conquista, da posse e do ganhar, mas por um outro dizer: o avesso da razão calculista e
calculadora.
Se a vida moderna designa ao ser humano a função de meros abridores de
lata ela é recusada por vagamundos que flanam margeando a liberdade: “Seria homem
ou pássaro? / Não tinha mãos. / Vestígios de sua boca iam para flor. / Havia uns sonhos
/ Dependurados como roupa” (P,84). O modo de ser dos andarilhos sem eira nem beira
conforma uma ética da qual o poeta sente-se semelhante e próximo tal qual um novo Jó
que se submete ao escárnio para provar sua fé poética, assim como não se sujeita aos
mandos e comandos de um mundo que se ordena pela noção de objetividade:
Bom era ser bicho que rasteja nas pedras; ser raiz de vegetal ser água. Bom era caminhar sem dono
50
na tarde com pássaros em torno e os ventos nas vestes amarelas. Não ter nunca chegada nunca optar por nada. Ir andando pequeno sob a chuva Torto como um pé de maçãs. (CPUP,52) A liberdade do ser que pode ir e vir sem a interferência de um imperativo
que determine seu partir e chegar é o princípio que rege um agir cujo leme direciona-se
por uma vontade não subserviente e servil. À pergunta sobre o que é um homem o poeta
principia a responder através das lições que os rejeitados e destituídos de posses lhe dão.
E destas lições a liberdade constitui-se como um valor maior. Desta forma o poeta não
se sente mais na obrigação programática de denunciar diretamente seja a exploração do
homem ou mesmo a questão da liberdade, pois não explicita o que se pode esquadrinhar
nas entrelinhas: o desacordo com o todo de uma sociedade37 que coisifica o ser, aniquila
a vontade em prol de um pragmatismo funcionalista e induz a um viver cujo fim seja o
de abrir latas. Caminhar sem dono implica em uma vontade e autonomia de um pensar
que se ponha em desacordo com a ética do trabalho voltada para a produção de coisas
úteis sob a forma de utensílios ou de meros objetos descartáveis. O exercício da
liberdade começa a se constituir em Manoel de Barros ao assumir a persona de um novo
Jó que se recusa, entretanto, a se prostrar diante do Deus transformado agora em uma
máquina. Ao postular um caminho sem o direcionamento de alguém, sem obedecer a
uma precisão e exatidão como meta ou sequer a submissão a qualquer atividade
obrigatória, o poeta aspira revelar o homem não mais por um registro direto de sua
observação e experiência, como realizara nos primeiros livros, quando tudo se dava a
conhecer por uma exposição denunciativa, mas presentar de viés o ser aprisionado à
condição da produtividade funcional na engrenagem de um mundo no qual urgem 37 - ADORNO, Theodor. Conferência sobre lírica e sociedade. In: BENJAMIN, Walter et alii. Textos escolhidos. São Paulo: Abril Cultural, 1975. p.202. (Os pensadores, XLVIII).
51
negócios, contas, compras, compromissos, obrigações, necessidades, afazeres, deveres e
haveres a serem cumpridos rotineiramente, constantemente, obrigatoriamente. A
consciência crítica do poeta não põe mais o dedo na fratura exposta de um mundo
injusto. Isto, entretanto, não decorre devido à desistência de um posicionamento
contrário ao desregrar dominante, mas por conceber que intervir criticamente na
sociedade não implica em uma poética que se funde na denúncia direta e explícita, mas
sim em revelar a contrapelo, através de uma linguagem de viés os tentáculos de um
mundo que impedem o florescimento pleno do ser. Postula, então, um linguajar
circunjacente ao mundo animal, vegetal e da mineralidade que se, por um lado, têm por
propriedade a impossibilidade da expressão verbal, por outro não sofrem a coação do
imperativo de uma linguagem que se determine por conceituações inequívocas: “ser
como as coisas que não têm boca!” (CPUP,53). Não que o poeta intencione uma
quietude silencial frente à sociedade oprimente, mas que a não-fala das pedras, animais
e plantas possa ensinar aos homens lições de coisas a resgatar aquilo que lhes concerne
como humanos, ou seja, a própria linguagem e não um mero ecoar mecânico de
sentenças, pensamentos e saberes que lhes modelam a língua e os desumanizam, pois
retiram do ser a liberdade da palavra em sua plenitude.
Como se expressam, então, estes seres à margem do arrazoado
hegemônico? Aproximemo-nos de um dos viandantes a vaguear, um que fora detido
arbitrariamente sem qualquer esclarecimento. Dentre os pertences de uso pessoal deste
preso que “entrara na prática do limo” (GEC,9), encontra-se um caderno de poemas ao
lado de objetos como: o retrato da esposa na jaula, uma corda de enforcar, um sapo
seco e um sabugo meio a outras coisas como pneu, pente, chapéu, muleta, relógio de
pulso, caneta, suspensório, capote, bicicleta, garfo, abridor de lata, escapulário, anel,
travesseiro, bengala, botão. Esta lista incongruente, no entanto, articula um sentido
52
crítico. A inclusão de objetos como uma corda de enforcar dentro da série de utilidades
funcionais como relógio e caneta, instala um ruído, um abalo e estremecimento na
aparente normalidade destes objetos denominados úteis. Todos estes signos podem ser
lidos como traços indiciais que conformam uma espécie de repositório das ruínas e
fragmentos da civilização do bem-estar. Dentre os objetos há aqueles que designam
proteção e conforto como capote e travesseiro, outros apontam para uma noção de
elegância configurada nas imagens da bengala, do chapéu e suspensório e há aqueles
que indicam uma relação com o mundo prático tais como relógio de pulso, caneta,
abridor de lata, botão. Qual a razão, então, de um homem que não vive mais sob o
regrar controlador de um mundo determinado por normas e convenções carrear consigo
todo um aparato de referências deste universo do qual ele renunciou ao convívio? A
transcrição da realidade por Manoel de Barros, então, passa a se dar pelo primado da
ironia que instaura um olhar crítico e avesso. Somente por este prisma pode se entender
o sentido de uma corda de enforcar, o retrato da esposa na jaula, um sapo seco e um
sabugo. A tensão que se estabelece entre um sabugo, por exemplo, e o restante das
coisas úteis é exatamente a de pôr em questão o valor de utilidade que vigora em um
mundo que se firma através de costumes e práticas naturalizadas como civilizadas tais
como o ato de alimentar-se munido de talheres, o hábito de pentear-se, trajar chapéu ou
a cronometragem precisa do tempo. Tais práticas, entretanto, não evitam que se relegue
um enorme contingente de outros homens à indigência inumana e incivilizada. Sob a
noção de utilidade, ou da imposição forçosa de se compor uma persona social designada
a representar uma civilidade de fachada, imiscui-se a problematicidade da existência em
uma sociedade na qual o jogo de aparências aniquila o ser: “Saber o que tem da pessoa
na máscara é que são!” (MDP,32). O que resta do homem por detrás do mascaramento
social? A pergunta posta pelo bom senso, no entanto, seria: qual a função, a utilidade de
53
coisas sem função? A anormalidade de um conjunto de coisas estranhas põe em xeque
a normalidade das existências que vivem comodamente a adquirir e acumular objetos
que são funcionalmente úteis, pois têm serventia prática. Os homens terminam, no
entanto, por emudecer e se equiparar às coisas funcionais, aos objetos sem fala. O
retrato da esposa na jaula, não mais um retrato a carvão dos marginalizados, ressalta
uma visão irônica que denuncia a existência rotineira e normal como aprisionadora e
enclausurada às normas, regras, ditames, convenções, obrigações e deveres que sufocam
o ser. A corda de enforcar estabelece uma tensão entre a praticidade de um mundo
confortável, estável e seguro e um objeto que tem por desígnio a extinção da vida por
vontade própria. Entrevê-se nas entrelinhas o mal-estar da civilização. Freud afirma que
a liberdade do indivíduo não constitui um dom da civilização pois
ela foi maior antes da existência de qualquer civilização, muito embora, é verdade, naquele então não possuísse, na maior parte, valor, já que dificilmente o indivíduo se achava em posição de defendê-la. O desenvolvimento da civilização impõe restrições a ela, e a justiça exige que ninguém fuja a essas restrições. O que se faz sentir numa comunidade humana como desejo de liberdade pode ser sua revolta contra alguma injustiça existente, e desse modo esse desejo pode mostrar-se favorável a um maior desenvolvimento da civilização; pode permanecer compatível com a civilização. 38
Um homem livre ao se tornar um prisioneiro, como relatado no poema de
Barros, transforma-se em uma coisa que não possui mais a liberdade tal como antes
exercida no escritório a jogar bilboquê ao invés de se determinar ao trabalho diário
ordenado e produtivo. A aversão a se constituir como peça funcional na estrutura
produtiva opera neste homem uma transfiguração aproximativa do estado natural das
coisas que germinam. De acordo com as palavras do compadre, um professor de física
de São Paulo, o preso “quase sempre nos intervalos para o almoço era acometido de
lodo” (GEC,13). Este homem que não mais se dispõe a prosseguir no trilho do senso 38- FREUD, Sigmund. O mal-estar na civilização. IN: ____. O futuro de uma ilusão. E outros trabalhos. Trad. José O. A. Abreu. Rio de Janeiro: Imago, 1974. p.116. VOL. XXI.
54
comum passa a ler Marx, portanto, adquire uma consciência crítica da sociedade de
classes, da exploração do homem e do processo de alienação. Para o filósofo alemão o
valor da força de trabalho
se determina pela quantidade de trabalho necessário para produzi-la. A força de trabalho de um homem consiste, pura e simplesmente, na sua individualidade viva. Para poder crescer e manter-se um homem precisa consumir uma determinada quantidade de meios de subsistência, o homem, como a máquina, se gasta e tem que ser substituído por outro homem. 39
O processo de libertação deste homem como uma máquina que se gasta
implica tanto em uma atitude pessoal, individual, existencial como política em que
ambas condigam com uma prática resistente ao domínio da técnica. No entanto, a ação
deste homem, no parecer barrosiano, não se converte em ativismo engajado que objetiva
uma modificação radical das condições do modo de viver, mas do modo de ser, pois o
prisioneiro é definido como encantador de palavras, ou seja, desafia o domínio da
técnica e a práxis utilitária vigente ao instaurar a supremacia da poiesis, da criação e
seleção de objetos desúteis através de uma linguagem diversa da usual. O inexplicável
da detenção desse homem põe em questão o razoamento de uma sociedade arbitrária e
impeditiva da liberdade do homem em um mundo destinado à produção e ao lucro. Este
desherói é o primeiro passo rumo a um dessujeito: aquele que não está mais sob
sujeição ou prisão, mas que está desimpedido, liberto e solto.
39 - MARX, Karl. Salário, preço e lucro. IN: ____. Manuscritos econômico-filosóficos e outros textos escolhidos. Sel. José Arthur Giannotti. São Paulo: Abril Cultural, 1974. p.87.
55
2.5- O HOMEM DE LATA
A condição do civilizado que o poeta configura não mais se conforma,
portanto, ao humano, mas à objetificação de um ser de lata, “armado de pregos”, que
“está na boca de espera de enferrujar” e “morre de não ter um pássaro em seus joelhos”
(GEC,23-8). Embora a conotação referente à lata aponte para a reificação, para a
destituição de qualquer elemento humano, para Manoel de Barros permanece uma força
resistente que busca ativar a natureza do homem que teima em se insurgir contra a
mecanização e automatização do ser. O homem de lata, assim, arboriza, tem natureza de
enguia, ou seja, algo de próximo a um animal que irradia voltagens, que carreia dentro
de si uma potência que resiste à maquinalidade. O enferrujar que pode advir ao ente de
lata há de vingar, entretanto, se o homem aniquilar de seu ser o que lhe é imanente, a
linguagem. Desta forma há de morrer, murchar por não fazer brotar o que há de mais
vital em seu ser como o cantar de um pássaro, pois “o homem de lata / é um passarinho /
de viseira: / não gorjeia” (GEC,25). A ancestralidade telúrica emerge, então, como
resistência ao desumano e insiste como força vital contrária ao enferrujamento do ser. A
condição de lata, desumana, não é imanente ao homem, não é uma propriedade natural,
mas um atributo que lhe é imposto devido às condições inumanas da civilização
técnico-industrial. A mineralidade, a animalidade e o mundo vegetal são condições
naturais que podem restituir ao ente mecanizado a sua condição originária: a de ser
livre.
56
2.6- ENTRE O ÚTIL E O INÚTIL
A poesia barrosiana martela, assim, insistentemente nas mesmas teclas a
soar notas de dissonância em relação à mercancia dominante: “Tudo aquilo que nos leva
a coisa nenhuma / e que você não pode vender no mercado / como, por exemplo, o
coração verde / dos pássaros, / serve para poesia” (MP,12). As regras do mercado, no
entanto, não consentem um caminhar que conduza à coisa nenhuma, pois tudo teria, de
acordo com esses pressupostos, um valor que pode ser negociado, um fim definido, um
objetivo prático e realizável. Para a poesia barrosiana, entretanto, o coração verde dos
pássaros, “coisa nenhuma” na perspectiva mercadológica, é algo de valor exatamente
por resultar em coisa nenhuma. O coração verde dos pássaros, por não existir, é
engendrado pelo poeta como um valor da imaginação que não se comercia, não se
vende ou se compra, pois “as coisas sem importância são bens de poesia” (MP,15).
A meditação permanecente em Manoel de Barros sobre a não utilidade das
coisas, “só me preocupo com as coisas inúteis” (APA,9), em um mundo em que domina
o tecnicismo solicita uma ética que reaja ante a aniquilação do ser. O poema, então, sob
este princípio, há de se constituir não como um objeto destinado a uma função utilitária,
tal qual a práxis mercadológica regra a produção de bens duráveis, mas como um
inutensílio. A anteposição prefixal in-, por indicar o sentido de negação, relativiza a
positividade central da designação sobre o que se sentencie como útil. O conceito de
utilidade, de acordo com noções do discurso pragmático–utilitário–instrumental,
determina o que é inútil a partir de um centro de definição de valor em que prevalece
apenas a positividade do que seja ÚTIL, funcional, prático, proveitoso, profícuo,
rendoso e lucrativo. INútil é o que NÃO se legitima pelo estatuto normativo do que seja
considerado como útil. Ao afirmar que “o poema é antes de tudo um inutensílio”
57
(APA,25) Barros parece refutar não apenas a utilidade das coisas, mas implantar uma
crítica ao modo de pensar que se institui por polarizações quando nesses pressupostos
determina-se a um dos pólos um valor absolutizante. A vigência de uma noção a priori,
como a que designa que uma coisa seja primeiramente útil, implica em uma instância de
poder que dissemina hegemonicamente a idéia de funcionalidade como um valor em si e
não como um valor de mercado. O conceito derridiano de différance nos auxilia a
entender esta questão como uma relação com a linguagem. O neologismo criado pelo
filósofo franco-argelino concebe um jogo sem fim que não se instaura mais por um
começo, um ponto de partida definidor do significado, pois “designa a causalidade
constituinte, produtora e originária, o processo de cisão e de divisão do qual os
diferentes ou as diferenças seriam os produtos ou os efeitos constituídos” 40. No
entanto a linguagem se funda através do estabelecimento da diferenciabilidade e não por
termos positivos, plenos e estanques. Se na linguagem todo signo remete a um sistema
que se institui por um jogo de diferenciação, portanto, o significado não é em si mesmo
uma presença auto-suficiente. Segundo Derrida “a diferança é a origem não-plena, não-
simples, a origem estruturada e diferente das diferenças. O nome de origem, portanto, já
não lhe convém” 41. Se todo signo pertence a uma cadeia, a um jogo sistemático
diferenciável em que um conceito remete para outro, nesse jogo infinito a diferença
“não é mais, portanto, um conceito, mas a possibilidade da conceitualidade, do processo
e dos sistemas conceituais em geral” 42. O que se recusa desse modo é um significado
transcendental, a priori, pois todo elemento no jogo de significação não ocupa mais um
ponto hierárquico definido, mas um posicionamento sempre passível de deslocamento,
um incerto descentramento que não se conforma mais a um centro absoluto, definidor e
40 - DERRIDA, Jacques. A diferença. IN: ____. Margens da filosofia. Trad. J. T.Costa e A. M. Magalhães. Campinas: Papirus, 1991. p. 39. 41 - Id., ibid. p. 43. 42 - Id., ibid. p. 42.
58
definitivo. De acordo com as dicotomias clássicas que fundam o pensamento da
metafísica ocidental
para que esses valores contrários (bem/mal, verdadeiro/falso, essência/aparência, dentro/fora etc.) possam se opor, é preciso que cada um dos termos seja simplesmente exterior ao outro, isto é, que uma das oposições (dentro/fora) seja desde logo creditada como matriz de toda oposição possível. É preciso que um dos elementos do sistema (ou da série) valha também como possibilidade geral da sistematicidade ou do serialismo. 43
Desse modo o modelo de pensamento que se institui por dualidades
opositivas é corolário da metafísica ocidental, em que se concede ao plano inteligível a
supremacia hierárquica. Sendo assim, então, a noção de positividade concedida à
utilidade das coisas por concernir a bens materiais opor-se-ia a este paradigma que
estipula ao pólo inteligível e hipersensível um valor essencial prioritário? O fato de se
creditar a um objeto fabricado um valor de utilidade em oposição a uma coisa que não
seja estipulada como útil, demonstra que tais noções ainda são devedoras de um pensar
dicotômico. Portanto, a questão referente ao valor das coisas como mercadorias
subordina-se ao modo de pensar.
O pensar barrosiano, se assim pudermos aventar, instaura, então, uma
inversão: se a noção de inútil somente se determina devido a hegemonia de poder de um
discurso que impõe o valor de útil como sendo positivo, e do qual tudo o que se
diferencie deste centro se marcará com o traço da negatividade, ou seja, da inutilidade,
então em uma sociedade na qual vige a dominância destes valores determinantes de
sentidos plenos e absolutos, competiria ao artista, ao poeta e ao filósofo desconstruir tal
modelo de pensar que nomeia o certo, o exato, o bem, o belo, o útil, o superior, o
perfeito, o essencial, etc. Barros ao pôr sob o crivo da dúvida a primazia de um valor
incondicional que é determinado por uma sociedade de mercado que impõe como
43 - ____. A farmácia de Platão. 2 ed. Trad. Rogério Costa. São Paulo: Iluminuras, 1997. p. 50.
59
suprema a positividade de um pólo que exclui tudo o que não esteja concordante com o
padrão preponderante problematiza também o pensar que se institui por dicotomias.
Pensemos, então, sobre o que seja considerado como inútil:
num mundo para o qual não vale senão o imediatamente útil e que não procura mais que o crescimento das necessidades e do consumo, uma referência ao inútil fala sem dúvida, num primeiro momento, no vazio. Um sociólogo americano reconhecido, David Reisman, em A multidão solitária verifica que na sociedade industrial moderna o potencial de consumo deve, para assegurar o seu fundo (Bestand), tomar a dianteira sobre o potencial de tratamento das matérias-primas e sobre o potencial de trabalho. Contudo, as necessidades definem-se a partir daquilo que é tido por imediatamente útil. 44
Heidegger afirma que o inútil tem sua própria grandeza, pois com ele
exatamente NADA se pode fazer 45. Assim é um parafuso de veludo, um inutensílio,
“artefato inventado no Maranhão, por volta de 1908, por um PORTA-ESTANDARTE
que, após anunciar os seus inventos em praça pública, enrolava-se na Bandeira
Nacional” (APA,31-2). Ao declarar que o poema é antes de TUDO um inutensílio
Manoel de Barros parece divergir de Marx e Engels que afirmaram que “a burguesia
desnudou de sua auréola toda ocupação até agora honrada e admirada com respeito
reverente. Converteu o médico, o advogado, o padre, o poeta e o cientista em seus
operários assalariados” 46. Octavio Paz, no entanto, chama a atenção para o fato de que
aos poetas a burguesia fechou seus cofres, pois não seriam nem criados ou bufões, mas
párias, fantasmas, vadios errantes, já que a “poesia não tem cotações, não é um valor
que pode transformar-se em dinheiro, como a pintura” 47. Walter Benjamin, por sua vez,
aproxima Baudelaire da figura do trapeiro, aquele que tenta sobreviver com restos e
44 - HEIDEGGER, Martin. Língua de tradição e língua técnica. Trad. Mário Botas. Lisboa: Vega, 1995. p. 9. 45 - Id., ibid. p. 12. 46 - ENGELS, Friedrich e MARX, Karl. O manifesto comunista. 4 ed. Trad. Maria Lúcia Como. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1998. p. 13. 47 - PAZ, Octavio. O verbo desencarnado. IN: ____. Signos em rotação. Trad. Sebastião Uchoa Leite. São Paulo: Perspectiva, 1972. p. 77.
60
tanto o literato como o conspirador profissional reencontrariam neste catador de lixo um
pedaço de si mesmo, pois “cada um deles se encontrava, num protesto mais ou menos
surdo contra a sociedade, diante de um amanhã mais ou menos precário” 48. Embora o
poeta possa ser situado dentre os deserdados na sociedade, a sua situação seria mais
problemática do que a do próprio proletariado pois há que se ressaltar que os proletários
são aqueles que “não possuem outro bem que não a sua força de trabalho” 49, enquanto
a palavra poética não se institui como moeda de troca. O poeta torna-se então um
fazedor de inutilidades sem valor em um mundo cuja norma é ditada pela associação
entre saber e poder. Se um saber não se presta ao exercício do poder a ele não se delega
sequer o conceito de saber. Daí a diligência de Barros em atrever-se na via de um fazer
que opera um outro vínculo entre saber e poder, ou seja, através do exercício livre da
imaginação que conjectura objetos sem qualquer utilidade.
48 - BENJAMIN, Walter. Charles Baudelaire um lírico no auge do capitalismo. Obras escolhidas. VOL III. 3 ed. Trad. J. C. Martins Barbosa e H. Alves Baptista. São Paulo: Brasiliense, 1994. p. 17. 49 - Id., ibid. p. 19.
61
2.7- O ALICATE CREMOSO E O PARAFUSO DE VELUDO
Há duas instâncias em que podem ser lidas estas invenções de inutilidades
pelo poeta. A primeira aponta para uma crítica ao domínio de uma civilização da técnica
em que vige a produção de objetos que primam pela utilidade. Sob este prisma é
possível entender a criação de um alicate cremoso ou de um parafuso de veludo. Tanto
um objeto quanto outro, ou seja, o alicate e o parafuso, são destituídos de suas
propriedades intrínsecas: a dureza, a impenetrabilidade da matéria e o aspecto funcional
para o qual eles são fabricados. Imaginar um objeto que não tenha por atributo qualquer
utilidade é agir contrariamente ao bom senso que se funda em concepções que se
impõem como necessárias e objetivas. Assim, criar, produzir pela imaginação um
objeto que inexiste no cotidiano implica em pôr uma questão sobre a utilidade da vida
que essas pessoas levam em uma rotina esvaziada de sentido. Um alicate não tem a
propriedade de ser algo comestível, portanto, não poderia ser associado logicamente a
uma característica que contrarie sua constituição material, ou mais ainda, ser destituído
de sua função primeira de utensílio prático. Um objeto desfuncional é algo impensável
em uma sociedade dominada pelo determinismo da produção, do lucro e da
funcionalidade pragmática. Contrariar a norma da fabricação em série de objetos úteis,
então, torna-se condição de possibilidade de aflorar à imaginação o devaneio que
instaura uma outra ordem de associação entre um instrumento prático e utilitário e uma
adjetivação que o caracteriza como degustável. Cultivar tal modo de expressão é
possibilitar à linguagem o exercício da liberdade do homem diante da civilização da
máquina e do capital. A invencionice de um objeto inútil não pode ser compreendida
sem se atentar para a intencionalidade crítica que se faz a uma sociedade dominada pela
62
preeminência do utilitarismo e da eficiência determinantes do pensar, do agir, do existir,
portanto, do ser.
A outra instância em que pode se entender a invenção de inutilidades diz
respeito ao modo dessa crítica a um mundo em que o homem não é mais humano.
Manoel de Barros para evitar reincidir em uma denunciação frontal articula uma outra
frente de ataque: o humor. Não se pode compreender a poesia barrosiana sem este
enfoque. A estratégia poética muda de tática ao desfigurar o processo de mimesis que,
anteriormente, se pautava pelo registro das contradições de uma sociedade desigual
através de um abalo desencadeador da consciência crítica. A estratégia do abalo
permanece ao articular uma escrita que inverte a ordem normal das associações por uma
desarticulação das conexões lógicas e previsíveis. O efeito de espanto provocado por
um parafuso de veludo mobiliza o leitor a estranhar a realidade dos objetos e utensílios
que conformam uma sociedade de consumo determinada pelas noções de
funcionalidade, utilidade, praticidade e objetividade. Primeiramente o questionamento
advém pela via do senso comum que se pergunta instantaneamente pela razão de um
objeto cuja lógica não se firma na prática usual da produção de artefatos e utensílios
destinados aos afazeres humanos. A seguir irrompe o espanto do estranhamento que
desencadeia uma interrogação sobre o conceito de normalidade. Esta passa a ser
divisada, então, como indiferenciável do absurdo. Ao forjar um objeto irreal o poeta
mobiliza o riso que põe, então, sob o signo da controvérsia o conceito de realidade ao
traduzir esta pelo prisma do inusual. O riso barrosiano, portanto, motiva-se a partir de
uma observação crítica da realidade e se instaura através da ironia que pode ser
conceituada como:
uma síntese antitética, uma conjunção disjuntiva ou uma disjunção conjuntiva do ideal e do real. Pensar ou poetar ironicamente significa intercambiar incessantemente os extremos complementares da idealidade e da realidade. A síntese antitética é a condição a priori essencialmente
63
irônica da possibilidade de autoconhecimento do sujeito humano. Que é o homem? Que significa o saber acerca de si mesmo? É digno de riso quem crê que seu olhar revertido para dentro de si alcança o que ele é ou que em si há algo que lhe reflete a imagem.50
O indagar que se instala diante de um objeto estranhável, irreconhecível ao
olhar comum, parte de um procedimento que observa tudo sob o viés do risível como
meio de questionar o que é real. O âmbito em que o poeta age, portanto, tange a utopia,
ou seja, fora de qualquer lugar em que legisle o princípio da realidade. Sérgio Paulo
Rouanet em relação a uma sentença proferida por Ernst Bloch que afirma que a utopia é
o ponto de vista de onde julgamos o que fazemos à luz do que deveríamos fazer prefere
citar outra passagem de Bloch, em que ele diz que o princípio regulador da consciência utópica é a esperança, mas uma docta spes, uma esperança sábia, instruída por tendências já presentes na realidade, sem o que a esperança seria uma simples fantasmagoria subjetiva. 51 A poesia barrosiana, entretanto, não investe em uma esperança sábia, mas
na fantasmagoria subjetiva da poiesis que ao propiciar o riso possa abalar a segurança, a
estabilidade, a firmeza e a rigidez de uma estrutura que impede a afloração do humano.
O que se parece apreender pelo riso é o ato de neutralizar as certezas absolutas por uma
interrogação irônica que ponha sob o duvidar um mundo construído para alijar e
aprisionar o homem, um ser que ri de si próprio.
50 - SOUZA, Ronaldes de Melo e. op. cit. p. 27-48. v. nota 2. 51 - ROUANET, Sérgio Paulo. “Em nome de uma nova utopia”. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 8 nov. 2003. Idéias.
64
2.8- SOB A VIGÊNCIA HEGEMÔNICA DA TÉCNICA.
A indagação relativa ao conceito de utilidade sucede em um mundo no qual
a supremacia da técnica designa ao homem um estatuto que o equipare à produtividade
da máquina. De acordo com Heidegger caracterizar o domínio técnico por uma atenção
exclusiva ao maquinário industrial seria inexato, pois se em um primeiro momento
ocorreu a passagem do artesanal e do manufaturado à motorização a segunda revolução
consistiu em uma automatização definida “pela técnica da regulação e da direção, a
cibernética” 52. Segundo o filósofo alemão as representações da técnica moderna
resumir-se-iam no primeiro momento a uma coisa criada pelo homem e para o homem.
O segundo momento aponta para o caráter instrumental da técnica:
o verbo latino instruere significa: dispor em camadas sobre – e justapostas, construir, ordenar, instalar de maneira coerente. O instrumentum é o aparelho ou o utensílio, o instrumento de trabalho, o meio de transporte, o meio em geral. A técnica passa por qualquer coisa que o homem manipula, da qual ele se serve na perspectiva de uma utilidade. 53
Entretanto, o termo técnica deriva de technikon, ou seja, o que pertence à
techné, cujo significado é conhecer-se em qualquer coisa, produzir qualquer coisa,
conhecer-se no ato de produzir e a mesma significação de epistemè que quer dizer velar
sobre uma coisa, compreendê-la:
o fundamento do conhecer repousa, na experiência grega, sobre o fato de abrir, de tornar manifesto o que é dado como presente. No entanto, o produzir pensado à maneira grega não significa tanto fabricar, manipular e operar, mas mais o que o termo alemão herstellen quer dizer literalmente: stellen pôr, fazer levantar, her, fazendo vir para aqui, para o manifesto, aquilo que anteriormente não era dado como presente. 54
52 - HEIDEGGER, Martin. A origem da obra de arte. Trad. Maria da Conceição Costa. Lisboa: Edições 70, s.d. p. 14. 53 - Id., ibid. p. 19. 54 - Id., ibid. p. 21.
65
Heidegger concebe que techné é um conceito do saber e não do fazer. A
técnica moderna relaciona-se à aplicabilidade prática da ciência da natureza. A
calculabilidade do real, em que tudo pode ser reduzido a medidas, e o primado do
método que investiga o objeto pela determinação de certezas a partir da eliminação de
contradições têm por fundamento uma noção de natureza abalizada por uma
objetividade calculável. O problema abrange o controle da técnica sobre o homem, à
perplexidade e impotência diante do caráter de dominação da tecnologia:
quando se acena, antes de mais, nesta submissão ao inevitável, a concepção corrente da técnica, adere-se então nos fatos ao triunfo de um processo que se reduz a preparar continuamente os meios, sem nunca se preocupar com uma determinação dos fins. 55
Se a questão da técnica implica em um conhecer-se no ato de produzir, este,
entretanto, a rigor não se realiza, pois se opera apenas um processo que visa aos meios e
não aos fins, o que evidencia uma questão ética. Sartre ao afirmar que a existência
precede a essência argumenta com o exemplo de um objeto, um corta-papel, fabricado
por um artífice amparado por um determinado conceito, ou seja, a uma técnica prévia,
uma receita que faz parte deste conceito:
assim, o corta-papel é ao mesmo tempo um objeto que se produz de uma certa maneira e que, por outro lado, tem uma utilidade definida, e não é possível imaginar um homem que produzisse um corta-papel sem saber para que há de servir tal objeto. Diremos, pois, que, para o corta-papel, a essência – quer dizer, o conjunto de receitas e de características que permitem produzi-lo e defini-lo – precede a existência: e assim a presença, frente a mim, de tal corta-papel ou de tal livro está bem determinada. Temos, pois, uma visão técnica do mundo, na qual se pode dizer que a produção precede a existência. 56
De acordo com a visão sartreana a técnica na modernidade, como a
essência de um determinado receituário paradigmático que se configura na produção,
principalmente de utensílios, objetos úteis, práticos e eficientes, precederia a existência. 55 - Id., ibid. p. 29. 56 - SARTRE, Jean Paul. O existencialismo é um humanismo. Trad. Vergílio Ferreira. São Paulo: Abril Cultural, 1973. p. 11.
66
Do mesmo modo proceder-se-ia ao conceber Deus, ou seja, imputar-se-ia a um artífice
superior a causa da criação. Assim a criatura humana assemelhar-se-ia a um corta-papel
na técnica industrial, ou seja, se a criação resulta de técnicas, o homem também seria o
produto de uma certa idéia situada na inteligência divina. No século XVIII suprime-se a
noção divina como fonte originaria da criação, mas não a idéia de que a essência
precederia a existência, pois a natureza humana encontrar-se-ia em todos os homens,
portanto, cada um seria um exemplário de um conceito universal. No entanto, para
Sartre “há pelo menos um ser no qual a existência precede a essência, um ser que existe
antes de poder ser definido por qualquer conceito, e que este ser é o homem ou, como
diz Heidegger, a realidade humana” 57. Desta forma pressupõe-se no homem uma
precedência da existência anterior ao conceito de essência e a qualquer conceitualidade
que somente se consubstancia a posteriori:
assim, não há natureza humana, visto que não há Deus para a conceber. O homem é, não apenas como ele se concebe, mas como ele quer que seja, como ele se concebe depois da existência, como ele se deseja após este impulso para a existência; o homem não é mais que o que ele faz. 58
Se o homem é o que ele faz, então, como diferenciá-lo daquilo que ele
fabrica? Como reconhecer o humano na civilização da técnica e da máquina?
57 - Id., ibid. p. 12. 58 - Id., ibid. p. 12.
67
2.9- A MÁQUINA
Manoel de Barros depara-se em dois momentos com a máquina. No poema
“A Máquina: a Máquina segundo H.V., o jornalista” os homens se caracterizam como
meros simulacros em uma engrenagem cujo intuito é a exploração da força de trabalho
por um condicionamento repetitivo e reprodutor: “A Máquina mói carne /(...)/ atrai
braços para a lavoura /(...)//cria pessoas à sua imagem e semelhança (...)” (GEC,45). A
inversão da cosmogênese genesíaca que preconiza a origem humana sob a ordem da
similitude com o divino, portanto, de uma essência que precederia a existência
apresenta-se sob o prisma da inversão irônica que assemelha na modernidade o homem
à máquina e não mais à supremacia de uma perfeição superior. A poética barrosiana,
então, resvala da ironia para o humor ao subverter o pragmatismo produtivo desse
mecanismo rentável: “A Máquina / (...) incrementa a produção do vômito espacial / e da
farinha de mandioca / influi na Bolsa / faz encostamento de espáduas / e menstrua
pardais” (45). Quando o poeta refere-se a uma entidade abstrata como A Máquina, um
sintagma formado por um substantivo concreto precedido de um artigo definido,
portanto definidor termina por excluir uma máquina qualquer, pois, a maiusculização
aponta para uma amplitude de sentido generalizante e simbólico. O sentido do sintagma
refere-se não somente ao maquinário advindo com a industrialização, mas ao sistema
capitalista que se funda no aproveitamento da força de trabalho dos homens manejados
como ferramentas substituíveis. Este sistema funda-se na injustiça, na desigualdade e
exploração do homem pelo próprio homem: “(a máquina) ajuda os mais fracos a
passarem fome / e dá as crianças o direito inalienável ao / sofrimento na forma e de
acordo com / a lei e as possibilidades de cada uma” (46). Se o homem torna-se um
68
instrumento, portanto, uma peça no mecanismo dessa máquina desumanizadora há que
se atentar para o fato de que se trata de um grupo reduzido situado em determinados
setores da sociedade que equacionam a relação entre saber e poder ao objetivarem um
maquinário como meio de prover eficiência e rentabilidade à produção e não a
humanização. Contra estes a poesia barrosiana estila o contraveneno da ironia: “A
Máquina (...) // condecora / é guiada por pessoas de honorabilidade consagrada, / que
não defecam na roupa!” (46). A dominação do homem pelo processo maquinal não se
determina pelo estabelecimento de fins, pois se institui pelo aprimoramento dos meios
mecânicos de produção que visam à aniquilação de tudo o que afete o humano, ou seja,
tudo aquilo que tange ao sensível, ao delicado e ao lírico: “A Máquina tritura anêmonas
/ não é fonte de pássaros / etc. / etc.” (47).
69
2.10- A MÁQUINA DE CHILREAR
Se no poema comentado anteriormente o homem sucumbe diante da
engrenagem de uma estrutura tirânica e titânica, Barros parece procurar no dialogar com
a Natureza um resgate do humano. No poema “A Máquina de Chilrear e seu uso
doméstico”, título que remete a uma pintura de Paul Klee, o autor de Arranjos para
assobio compõe uma encenação dialogada entre um poeta e alguns elementos da
natureza como a lua, o pássaro, o córrego, o mar, o sol, a estrela, o caramujo, a árvore, a
rã e a formiga. Esse poeta almeja como princípio para sua poética tudo o que se
constitua pela leveza: “– Só quisera trazer pra meu canto o que pode ser / carregado
como papel pelo vento” (GEC,37). No entanto há que se entender que tal levez camufla
uma inquietude diante da rigidez maquinal. Este resistir se constitui ao auscultar a
natureza falar: “O dia todo ele vinha na pedra do rio escutar a / terra com a boca e ficava
impregnado de árvores” (37). O córrego, ao configurar o que sempre flui e ao mesmo
tempo permanece fixo em um constante mudar, assinala a corrente que jorra e escorre a
correr, a manar em um caudal. Tal auscultação do que mana rememora ao humano não
uma essência de onde tudo emana, mas a própria existência que precede aquela por se
qualificar primordialmente como matéria. Embora o poeta incline-se para o mirrar
permanente da vida, sente-se impotente diante de um mundo gerenciado para a serventia
das coisas: “Meu corpo não serve mais nem para o amor nem para o canto” (38). No
entanto, a estrutura desumanizadora não é impediente do cantar poético. A poesia se
insurge no trinar de um pássaro, o chilrear, como a traduzir o ressurgimento da efusão
lírica a emanar o devaneio que Barros associa, entretanto, à máquina. Esta não configura
mais a propriedade funcional de um mecanismo fabricante, portanto inumano, mas lhe é
70
conferida um atributo vivificador ao se justapor o lírico ao mecânico. Contudo, a
potência da natureza a irromper ininterruptamente o jorro de transbordamento da vida,
figurada na imagem de uma engrenagem vivificante, depara-se ante a resistência e as
contingências do tempo: “A Máquina de Chilrear está enferrujada e o limo apodreceu a
voz do poeta” (39). Se o vigor vivificativo parece impotente diante do domínio da
técnica, entretanto, isto não impede que o fazer que distingue o homem se configure
plenamente no sentido que se entende a poesia, ou seja: produzir um sentir / pensar via
linguagem. Esta é a semente na qual ainda sobrevive a vigência do humano. Se a
máquina não escuta os humanos o ser poético se notabiliza pela contaminação, ou seja,
pelo re-colher, re-unir, apanhar, juntar em um feixe que unifica o eu lírico e os homens.
Tudo o que convirja para o homem é passível de acolhimento poético. Para tanto o
poeta desconhece o distanciamento objetivo da metodologia científica, pois intrínseco
ao poetar é antes de tudo dar guarida a tudo mediante a alteridade e imiscuição com os
outros seres: “– O poeta é promíscuo dos bichos, dos vegetais, das pedras. Sua
gramática se apóia em contaminações sintáticas. Ele está contaminado de pássaros, de
arvores, de rãs” 59 (39). Resultante disto, a linguagem poética, aquilo que distingue o
humano em profundidade, se manifesta em plenitude na integração entre o eu lírico e os
outros através da superação das margens, fronteiras e limites. O percurso de recuperação
do humano através da alteridade da linguagem poética que ausculta a natureza, no
entanto, é penoso. Para atingir o estado de arborescência da linguagem em que as
palavras despontem pela irrupção da superveniência, por um sobrevir que escape ao
controle da previsibilidade calculadora, “muitos anos o poeta se empassarou de escuros,
até ser atacado de árvore” (40). Tudo, então, que remeta ao âmbito do mundo
mecanizado, do cálculo, da exatidão e que desvie o ser da imisção e desbordamento com
59 - Estas palavras sobre o poeta são pronunciadas por Chico Miranda até então não presente ao diálogo.
71
o rebentar e irromper do imprevisível é repudiado por uma escrita que em seu rastro
consigna outra concepção de tempo: o arraste vagarento de lesmas “comendo seus
cadernos relógios telefones” (40). O caramujo, outro rastejante a lecionar a lenta
absorção de um tempo qualitativo frente à vertiginosa imposição do fabricar em série,
por sua vez, denuncia em sua fala a degradação do homem fragmentado e
desumanizado: “–restos de pessoas saindo de dentro delas mesmas aos tropeços, aos
esgotos, cheias de orelhas enormes como folhas de mamona” (40). A condição humana
desvirtuada, ainda assim, se qualifica como matéria de poesia a revelar o que ainda resta
de humano: “–Os indícios de pessoas encontrados nos homens eram apenas uma tristeza
nos olhos que empedravam” (40).
72
2.11-A COISA.
Se a primazia da técnica adultera a condição humana o que resta, então,
próprio ao ser humano? Este na sociedade capitalista converte-se em um mero
componente da cadeia produtiva, mas não se afirma como um ser criativo, pensante e
livre. Transfigura-se neste sistema em uma quase coisa que sobrevive sob a égide de um
tempo que é cronometrado sob a lei absoluta da lucratividade:
o tempo é o campo do desenvolvimento humano. O homem que não dispõe de nenhum tempo livre, cuja vida, afora as interrupções puramente físicas do sono, das refeições, etc., está toda ela absorvida pelo seu trabalho para o capitalista, é menos que uma besta de carga. É uma simples máquina, fisicamente destroçada e espiritualmente animalizada, para produzir riqueza alheia. E, no entanto, toda a história da moderna indústria demonstra que o capital, se não lhe põe um freio, lutará sempre, implacavelmente, e sem contemplações, para conduzir toda a classe operária a este nível de extrema degradação. 60
Tal argumentação aponta para o fato de que a degradação resulta das
condições de trabalho e ainda assim esta não atinge a todos os homens indiferentemente,
mas a uma determinada classe. Se essa observação procede pela análise referir-se à
estrutura econômica, entretanto, escapa-lhe a dimensão totalizadora de uma civilização
na qual o homem foi destituído de suas qualidades e investido de uma uniformidade
reificante. Como, então, salvaguardar o humano? Na ficção kafkiana o humano avilta-se
sob a aparência de um inseto a se arrastar por infindáveis labirintos burocráticos. O
procedimento técnico resulta na desumanização, ou seja, impossibilita no homem um
pensar e uma linguagem fora das fronteiras da calculabilidade produtiva caracterizando-
o como uma coisa. No entanto o que é uma coisa? Heidegger afirma que
quando assim perguntamos, queremos conhecer o ser-coisa (Dingsein), a coisidade da coisa (die Dingheit). Importa experienciar o caráter coisal (das
60 - MARX, K. op.cit. p. 98-9
73
Dinghaft) da coisa. Para tanto, temos de conhecer o âmbito a que pertencem os entes a que, desde há muito, chamamos com o nome coisa. 61
De acordo com o filósofo alemão a pedra no caminho, o outeiro no campo,
o cântaro, a fonte, a nuvem no céu, a folha no vento de outono tudo isto deve ser
chamado de coisa. Entretanto, aviões e aparelhos de rádio pertenceriam hoje às coisas
mais próximas, o que seria diferente se falássemos das coisas mais derradeiras como
morte e Juízo. A obra de arte também seria uma coisa, pois é algo que É, já que a
palavra coisa designaria o que quer que seja que, em absoluto, é não-nada. De acordo
com o autor de Ser e tempo hesitamos em denominar de coisa tanto Deus, o cabrito
montês na clareira da floresta, o escaravelho na relva, o talo de erva, o camponês, o
professor na escola como o homem, pois este não é uma coisa:
uma coisa seria antes o martelo e o sapato, o machado e o relógio. Mas estas também não são simplesmente coisas. Para nós, as verdadeiras coisas são a pedra, o outeiro, o pedaço de madeira. As coisas inanimadas da Natureza e do uso. As coisas da Natureza e do uso são, portanto, aquilo a que chamamos habitualmente coisas. 62
Então parece que já se insinua um prenúncio de resposta à questão sobre o
homem: este NÃO é uma coisa. Se sob o domínio da técnica e do capital o homem se
assemelha a uma coisa, que ele NÃO é, então o que É o homem? Parece que estamos
circulando dentro de uma teologia negativa que se firma por negações, pois a única
coisa que podemos afirmar pondera que o homem NÃO é uma coisa.
Se a vigência da técnica como um saber que se relaciona ao poder retira do
homem o que lhe é intrínseco, a própria humanidade, como reconhecer, então o
humano? Manoel de Barros ao invocar o vigor da linguagem como condição de
possibilidade de restaurar o originário parece fornecer uma pista. Se o homem não é
uma coisa isto se deve à propriedade da linguagem que lhe confere o estatuto humano, 61 - HEIDEGGER, M. Op.cit. p. 15. 62 - Id., ibid. p. 15.
74
ou seja, de se abrir ao outro no esforço do entendimento. Deste modo, o poeta não
parece diferir o pensamento da ação sob a instância da palavra poética que irrompe
como desencadeadora da liberdade e profunda aspiração do ser. O hiato entre o pensar,
o dizer e o agir, então, equaciona-se na palavra poética como um círculo que recolhe,
reúne e enfeixa o humano por um feixe de contradições, paradoxos e contrários e não
pela exatidão das conceituações inequívocas.
O poeta ao interpelar a natureza empenha-se em reatiçar o humano através
do diálogo com a coisidade do mundo mineral, vegetal e animal. Sobre Bernardo
considera que “esse homem / Teria, sim / O que um poeta falta para árvore” (GA,22).
Este viajante estradeiro que “tira ardor de pétalas” (GA,22) é o exemplário do homem
que ao passarinhar, no sentido de vadiar, devolve ao ser o agir que se traduz em
liberdade.
A condição, então, a que parece aspirar o poeta não solicita o simplesmente
humano, mas o sobre-humano a retornar ao estado originário do ser. Se este reside na
linguagem, no entanto como lhe restituir sua condição inaugural se a palavra também se
contamina do contingencial e do suscetível? O estado imaculado de palavras não
crismadas pelas nomenclaturas de uma denominação conceitual inequívoca, ou seja, de
uma racionalidade que se funda na calculabilidade matematicística não seria, no
entanto, irrealizável?
Barros ao se entremear às coisas da natureza não pleiteia proscrever o que é
inerente ao humano, ou seja, a linguagem, mas reanimar a sensibilidade que o domínio
da técnica dissipou. Reaproximar o homem da natureza não sugere uma evasão ao
processo de reificação degradadora, mas antes, em restituir ao humano a sensibilidade
recuperativa da propriedade que lhe é específica, a linguagem que o diferencia de um
utensílio mecânico e destituído de ser. Para se des-vendar e re-velar a condição humana
75
em pleno vigor há que se aguçar a sensibilidade através da linguagem. Retornemos ao
mesmo indagar ainda não respondido: como, então, se dá isto se o homem articula não
somente a moeda concreta da fala do senso comum, mas pensa sob a vigência e
vigilância do discurso hegemônico que exige a exatidão dos conceitos?
76
2.12- LÍRICA E SOCIEDADE
Adorno afirma que “o eu que se manifesta na lírica é um eu que se
determina e se exprime como oposto ao coletivo, à objetividade” 63. Como então a
poesia de Manoel de Barros se manifesta em oposição à dominância do coletivo e da
objetividade? Pelo desapreço aos valores de um mundo no qual o conhecimento e a
técnica direcionam-se à produção de coisas úteis e funcionais. Atente-se, no entanto que
na equação de Francis Bacon saber É poder 64. A Aufklärung se fundamentava no
desvendamento do mundo, pela dissolução dos mitos e superstições para que o homem
se livrasse do medo, imperasse sobre a natureza desencantada e atingisse a maioridade,
ou seja, ficasse de pé através de seu próprio “entendimento sem a direção de outrem” 65.
A imaginação foi então substituída por um saber, essência da técnica que já não visa
mais “conceitos e imagens, nem o prazer do discernimento, mas o método, a utilização
do trabalho dos outros, o capital” 66, ou seja, o procedimento eficaz, a operation. O
princípio que se efetiva na modernidade funda-se na substituição do conceito pela
fórmula, da causa pela regra e probabilidade em que tudo se submeta ao critério da
calculabilidade e da utilidade 67. A hegemonia burguesa tornou-se avalista de um saber
que elimina qualquer possibilidade de um indagar que resulte em considerações inócuas
ou que não sejam profícuas, rendosas e lucrativas.
Giambattista Vico ao estabelecer uma analogia do processo histórico com a
linguagem relaciona o desenvolvimento desta a três eras distintas. Assim a era dos
deuses teria se caracterizado por uma expressão mimética através de sinais e gestos, na
63 - ADORNO, T.op.cit. p. 204. 64 - ADORNO, T. E HORKHEIMER, Max. Dialética do esclarecimento. 2 ed. Trad. Guido Antônio de Almeida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1986. p. 20. 65 - KANT, Immanuel. APUD: ADORNO, T. e HORKHEIMER, M. op.cit. p. 81. 66 - Id., ibid. p. 20. 67 - Id., ibid. p. 21.
77
era dos heróis teria predominado um metaforismo por imagens, similitudes,
comparações e representações simbólicas, enquanto na era denominada civil, dos
homens, os conceitos tornaram-se, por fim, uma mediação segura, uma representação
por signos inequívocos e unificados 68. Este último estágio concerniria à linguagem
instrumentalizadora e operacionalizadora a estabelecer um valor de exatidão e certeza
ao conhecimento.
Se Vico esboça uma história cíclica Adorno aponta, no entanto, para a
proeminência dialética: frente à dominância da técnica produtiva irrompe a expressão
das mais altas formações líricas, ou seja, aquelas em que o auto-esquecimento do sujeito
abandonado à linguagem e ao imediatismo involuntário de sua expressão tornam-se o
mesmo, ou seja,
a linguagem mediatiza, da forma mais íntima, lírica e sociedade. Por isto a lírica se mostra comprometida socialmente do modo mais profundo justamente onde não se manifesta em tudo conforme com a sociedade, onde nada comunica, mas onde o sujeito, bem sucedido em sua expressão, se situa em igualdade com a própria linguagem (...). 69
A reação à coisificação do mundo, à degradação do humano e à
tecnicização do saber pode se dar, então, através do retorno poético à palavra inaugural,
virginal, ainda não condicionada pelos conceitos exatos e legitimadores de uma prática
que se pauta pela produtividade e eficiência: “esta exigência à lírica, a da palavra
virginal, em si mesma já é social. Ela envolve o protesto contra uma situação social,
experimentada por cada um em particular como hostil, estranha, fria, opressora em
relação a si (...)”. 70
68- VICO, Giambattista. Princípios de (uma) ciência nova. Acerca da natureza comum das nações. Trad. Antonio Lázaro de Almeida Prado. São Paulo: Abril, 1974. p. 105-7 69 - ADORNO, T. op.cit. p. 206. 70 - Id., ibid. p. 203.
78
No entanto, na poesia de Manoel de Barros vige esta exigência à palavra
virginal? Ao ser perguntado sobre as funções da poesia no mundo atual o poeta
respondeu que “os governos mais sábios deveriam contratar os poetas para esse trabalho
de restituir a virgindade a certas palavras ou expressões, que estão morrendo cariadas,
corroídas pelo uso em clichês”. 71
Tanto o filósofo quanto o poeta apontam para a restituição de um estado
virginal à palavra, ou seja, a uma condição original não desgastada ainda pelo uso, para
algo que não foi tocado ou violado, que permanece puro, imaculado, sem mancha.
Reside neste retorno uma concepção utópica, pois a palavra como instância
comunicativa é depositária de sedimentos carreados ao longo de seu percurso. Regressar
ao estado originário da palavra seria inverter a seta do processo histórico idealizado
como direcionado ao futuro e retroceder, assim, ao princípio no qual vigeria
primordialmente o verbo? Seria esta a concepção de linguagem adâmica admitida pelo
próprio poeta?
Nas Metamorfoses, em duzentas e quarenta fábulas, Ovídio mostra seres humanos transformados em pedras, vegetais, bichos, coisas. Um novo estágio seria que os entes já transformados falassem um dialeto coisal, larval, pedral etc. Nasceria uma linguagem madruguenta, adâmica, edênica, inaugural – Que os poetas aprenderiam – desde que voltassem às crianças que foram Às rãs que foram Às pedras que foram. (GA,64) O que o poeta parece pretender é restituir ao homem o estado anterior a
qualquer conceitualidade. Isto se torna factível ao olhar poético através da inebriação e
arrebatamento sensorial a impregnar-se do vigor da terra, da mineralidade, do
vegetacional e da animalidade. A recuperação do humano tornar-se-ia exeqüível por
uma tornada à linguagem em sua instância originária enquanto atinente ao sensorial,
71 - BARROS, M. de. Op.cit. p. 310
79
encantatório e simbólico. Assim o que Barros denomina de adâmico e edênico não
poderia ser entendido como um retrocedimento a uma concepção genesíaca, enquanto
determinada por uma visão religiosa, mas sim, ao que é primitivo, primevo, originário,
fundador, inaugurador, pré-religioso e arcaico. Embora Manoel de Barros utilize o
termo adâmico observamos neste “significante hebraico” 72 menos uma referência à
cultura judaico-cristã do que uma volta ao estado primordial de onde emanaria o
humano.
Ora se o que parece revelar o homem é a linguagem que se constitui por
camadas de sentidos que se incrustaram através da ação do tempo e da troca verbal,
como então resgatar o humano por um regresso a um ponto no qual ainda não
vigoravam as relações de linguagem? Reiteremos que o discurso hegemônico da
modernidade aniquila o humano em proveito da técnica, do lucro e da exploração do
homem pelo próprio homem. Assim, o poeta ao intentar reconduzir ao que pertence ao
humano através da ativação da palavra em seu estado originário, portanto, não submisso
à calculabilidade do mundo, atua de forma interveniente no todo de uma sociedade.
Entretanto, ao pretender restaurar a linguagem em seus pressupostos arcaicos por uma
retomada da palavra em uma dimensão encantatória não ocasionaria, então, a própria
obliteração do humano?
72 - BARBOSA, Luiz Henrique. Palavras do chão. Um olhar sobre a linguagem adâmica em Manoel de Barros. São Paulo: Annablume / Belo Horizonte: Fumec, 2003. p. 21.
80
2.13- A TEOLOGIA DO TRASTE
Embora na poesia barrosiana haja uma referência constante a Deus e a
signos atinentes à doutrina judaico-cristã, no entanto, tais indícios revelam traços que
ainda assim afiguram o homem. A alusão à concepção imaculada no título do primeiro
livro publicado pelo poeta Poemas concebidos sem pecado advém sob o primado da
ironia, dado que a menção ao dogma enforma-se pelo avesso, pois não delega a uma
pureza virginal a matriz da poesia. Esta, na convicção barrosiana que se observa no
percurso inicial, ao se fecundar infensa à noção de pecado invalidaria qualquer desígnio
divino, pois não se fundaria sob a égide do tom sacramental, posto que o percurso
inaugural do autor de Matéria de poesia não comungava ainda da fé em uma criação
sobrenatural. Em “Cabeludinho” Nhanhá se aborrece “com o neto que foi estudar no
Rio / e voltou de ateu” (PCSP,31). A poética de Barros em seus primeiros passos
prezava exclusivamente a materialidade sensório-carnal como constitutiva do humano:
“O que eu preciso e quanto! Nesta mísera tarde / É daquela mulher com as coxas
entreabertas na minha frente. / E isso não tem mandamentos nem ofende a disciplina
militar” (FI,71). Se qualquer preceito religioso exige uma complacência aos ditames
divinos, sujeitar-se a isto seria sucumbir o humano diante do não humano. Ora, se o
poeta recusou-se, posteriormente, a reduzir-se à condição de coisa não parecia, àquela
época, seduzido a enveredar rumo ao etéreo como solução ao pesadelo da história.
Proclamava, antes, a crença na plenitude humana pela insurreição a toda e qualquer
submissão:
Ela me encontrará sadio, apolítico, antiapocalíptico Anticristão e, talvez, campeão de xadrez. Ela me encontrará forte, primitivo, animal Como planta, cavalo, como água mineral. (P,94).
81
Essa insubmissão reflete pelo avesso a sujeição de Jó, ao qual o poeta se
refere para, contudo, não aquiescer a qualquer desígnio imperativo que ponha à prova
sua fé, pois esta se traduz de outro modo, em comunhão com a existência concreta:
Ser como as coisas que não têm boca! Comunicando-me apenas por infusão por aderências por incrustações...Ser bicho, crianças, folhas secas! (CPUP,53).
Subsumir no mundo físico, no entanto, não implica em ser submisso a uma
condição servil, mas em assumir e tomar para si a condução do próprio existir. A
proeminência da materialidade revela-se no inventário das palavras re-colhidas e re-
unidas na poesia de Barros: chão, árvore, rã, pedra, caracol, boca, homem, etc. Tal feixe
empilhado pelo poeta não reverencia o sacralizado relativo ao incorpóreo e intangível,
mas sagra o ordinário e o sensível como passíveis de adoração: “Quem salvar a sua vida
perdê-la-á / com árvores e lagartixas” 73 (MDP,23). Assim, sob o signo da ironia, ou
seja, pela imisção dos contrários, postula-se o sacrário para as coisas ordinárias
enquanto o sacramentado pelo dogma, e não pelo evangelho em sua mensagem
vivificante, é destituído da aura impositiva pelo crivo de um duvidar que não busca a
exatidão dos conceitos: “Só as dúvidas santificam / O chão tem altares e lagartos”
(MDP,31).
A partir do ato de cisão, irônico, que se recusa a acolher o sacramental
enquanto algo apartado do mundo, o poeta articula, então, uma teologia do traste que se
trata de um
manuscrito do mesmo nome, con- tendo 29 páginas, que foi encontrado nas ruínas de um coreto, na cidade de Corumbá, por certo ancião
73 - cf. MATEUS. Novo testamento. 16,25: “pois, quem quiser salvar a sua vida por amor de mim perdê-la-á; mas quem perder a sua vida por amor de mim, acha- la- á”.
82
adaptado a pedras. Contou-nos o referido ancião, pessoa saudavelmente insana de poesia, que sobre as ruínas do coreto BROTAVAM ÁRVORES / OBRAVAM POBRES / MORAVAM SAPOS / TREPAVAM ERVAS / CANTAVAM PÁSSAROS (...) (APA,31). Ao estipularmos uma teologia barrosiana no que esta se diferenciaria de
uma doutrina? Os ensinamentos de Cristo foram recolhidos sob a forma de evangelhos
(euaggélion: boa notícia) como meio formador de uma comunidade (ekklesía) dirigida
pelos apóstolos 74. Historicamente somente no século IV esse grupo alcançou o estatuto
de igreja universal (kathólou) com a instituição de uma doutrina que cogita interpretar a
realidade, a verdade e o homem por meio de preceitos e sanções. A partir deste ponto
institui-se a teologia. Como se diferenciam evangelho e teologia?
O primeiro (...) refere-se a um conjunto de ensinamentos que traz em seu bojo uma interpretação da vida do homem sob uma perspectiva fáctica, onde o tempo da existência humana é tomado no seu sentido kairológico, isto é, ele se desdobra dentro de um acontecer histórico humano que possui os traços de imprevisibilidade e subtaneidade. A teologia, por seu turno, é a interpretação dos evangelhos à luz do saber metafísico que procura lhe assegurar justificação filosófica, atribuir validade aos seus ensinamentos e onde o tempo histórico é interpretado no sentido cronológico, isto é, a existência humana acontece e se desenvolve dentro de um âmbito de certeza e previsibilidade. 75
O caminho percorrido pelo pensamento medieval prosseguiu na via
metafísica através da estruturação de dogmas que conformaram uma teologia. Se a
patrística, seja sob o caráter doutrinário ou apologético, interpreta a realidade a partir do
modelo platônico de uma concepção dual da realidade entre corpo e alma, a escolástica
especula a respeito de Deus e da criação, sob a influência do pensamento aristotélico. A
74 - MICHELAZZO, J. C. Op.cit. p. 49. 75 - Id., ibid. p. 49-50. Essa imprevisibilidade e subtaneidade são definidas por Heidegger ao analisar a epístola de S. Paulo (Tess. 4,13 ss) “onde o apóstolo exorta aos cristãos que a segunda vinda de Cristo não virá dentro de um tempo com dia e hora marcados (previsibilidade), mas como o ladrão na noite (subtaneidade)”.
83
natureza humana tanto na concepção patrística como escolástica, no entanto, situa-se
como intermediária pois
o homem como todas as demais criaturas, também é interpretado como ens creatum, mas colocado numa posição especial, uma vez que está situado entre Deus e as demais criaturas. Entretanto, como possuidor de um corpo perecível, pertence, como qualquer outro ente criado, ao âmbito do sensível, mas porque lhe pertence também uma alma racional perene, está também vinculado ao mundo supra-sensível, o que faz com que esteja acima das criaturas, numa condição especial: a de ser filho de Deus. 76
A interpretação da realidade pelo conceito da dualidade conserva-se ainda
no pensamento de Descartes ao estabelecer para o mundo sensível a denominação de res
extensa e à esfera supra-sensível res cogitans, ou seja, o ens creatum caracteriza-se por
possuir a faculdade de pensar: “ser coisa pensante é, para Descartes, o que constitui a
essência do homem” 77. Assim, tal essência encerraria apenas o pensar e excluiria a
corporeidade material, pois esta tange ao plano do sensível e do instintual, portanto,
distinto do ser cogitante.
A doutrina teológica barrosiana tem por princípio restituir ao homem sua
condição de res extensa e assim, portanto, não se curvar ao cogitans como uma esfera
situada em um plano supra-sensível. Essa teologia por brotar da terra bruta da matéria
onde germina a vida aproxima-se do conceito grego de phýsis que “evoca o que sai ou
brota de dentro de si mesmo (por exemplo, o brotar de uma rosa), o desabrochar, que se
abre, o que nesse despregar-se se manifesta e nele se retém e permanece” 78. A phýsis se
manifesta tanto na irrupção daquilo que se manifesta pelo movimento como naquilo que
permanece e se retém em repouso, conformando assim uma unidade dialética e não uma
dualidade opositiva entre o sensível e o inteligível.
76 - Id., ibid. p. 56. 77 - Id., ibid. p. 58. 78 - HEIDEGGER, M. Introdução à metafísica. APUD: MICHELAZZO, J.C. op.cit. p. 28-9
84
O conceito de teologia de Barros há de se entender não como uma doutrina
dentro do âmbito da certeza e previsibilidade, mas por seus opostos, pela
imprevisibilidade e subtaneidade. Ou seja, se nos evangelhos vigorava uma confiança
pura no criador, nas concepções doutrinárias transformadas posteriormente em teologia
o Deus creator torna-se a causa primeira universal, traduzida em exatidão. A teologia
barrosiana não mais subscreve a orthótes, mas a incerteza do porvir, do devir e de um
criar que se manifesta em uma irrupção perene, constante e imprevisível.
Mas porque uma teologia conjurada ao traste? A palavra traste provém de
tra(n)strum que significava originariamente banco utilizado por remeiros, que
posteriormente reduziu-se a banco em geral, e daí, estendeu-se o significado para
qualquer móvel velho. Também designa um pedaço de arame atravessado no braço do
violão e outros instrumentos de corda, provavelmente por comparação com a série de
bancos de uma galera. Observa-se, portanto, que o termo traste abarca na acepção
originária um objeto destinado ao uso ordinário e que provavelmente adquiriu uma
conotação de coisa de pouco valor. Entretanto refere-se também a um componente de
instrumentos musicais. A teologia do traste teria, então, uma dupla acepção em que
tanto aponta para o ordinário como se relaciona ao atributo material da condição da
criação artística.
Para fundar essa teologia Barros intenciona o avesso do dogma de uma
criação divina irretocável de acordo com as prescrições doutrinais, pois para ele, ao
contrário “o mundo não é perfeito como um cavalo” (APA,67). Se o mundo
diversamente da convicção teológica tem por propriedade a perfectibilidade, portanto, é
suscetível de ser aperfeiçoado e não subscreve o primado da perfeição, a materialidade
não se subsume à instância perficiente do empíreo exatamente por se apresentar na
condição da falibilidade que é o que constitui o terreno e o humano. A atividade artística
85
nessa concepção teológica termina, então, por desassemelhar-se ao divino, pois se neste
vigora o incondicional que institui à criação o estatuto da perfeição, na arte o processo
criador decorreria da insubmissão ao designado como perfeito devido a
imperfectibilidade do mundo:
Deus deu a forma. Os artistas desformam. É preciso desformar o mundo: Tirar da natureza as naturalidades. (LSN,75).
Daí a valoração do ordinarismo como uma distinção indissociável da
natureza defectível do homem. Se a condição humana sob o prisma da eminência é algo
da ordem da imperfeição, entretanto, ao olhar lúdicro do poeta o sublime, o excelso e o
elevado consubstanciam-se ao soez, ao alarve e ao sólito. No poema “Dos veios
escatológicos” Barros tece uma narrativa que descreve a ausência de latrinas na Vila e
como os homens sujavam-se nos matos ao serem arrastados pelos porcos enquanto
defecavam: “De forma que sujos de suas obras como se lê no Eclesiastes” (LPC,73).
Dentre as virtudes teologais barrosianas avigora-se o imperativo do desejo
como constitutivo do humano não maculado pelo anátema da condenação divina:
O sacristão apareceu (puxava um cavalo). Aquela chapoleta do cavalo na égua por detrás Adentro, eu vi de perto. Meu olho crepusculou-se. Uma aranha espirrou pessoalmente. Deu para aprender concepção sem ler o Pentateuco. (CCAPSA,20).
Na teologia barrosiana vige um crer que se funda, entretanto, pelo duvidar,
pois ambos conformam uma fé no que é concreto sem, entretanto se ater aos domínios
do lógico: “Quem ama exerce Deus – a mãe disse. Uma açucena me ama. Uma açucena
exerce Deus?” (LSN,29). Para este poetar o questionar instaura-se na medida em que
86
tudo o que se esquive à racionalidade lógica torna-se condição de possibilidade de
indagação sem a imperiosidade de um esclarecimento de–finidor.
Se a trastaria não se sustenta em doutrinas religiosas nem comunga a
concepção do divino cultuada pelo senso comum, contudo, por vezes, aproxima-se da
idéia corrente de Deus pela mesma figuração metafórica que se propaga através de
ditados populares: “Prefiro as linhas tortas, como Deus” (LSN,39). A recusa a trilhar a
exatidão retilínea por eleger o oblíquo como legítimo implica em uma decisão que
privilegia o acaso como divisa do livre arbítrio. A apropriação de um ditado popular que
designa à divindade soberana a estrita correição de uma escrita através da tortuosidade
linear serve de norteamento para estipular um percurso sinuoso diferenciado tanto da
lógica linear vigente na civilização técnica como da moral de uma retidão imaculada. Se
qualquer ação divina sobre os desígnios humanos resulta como certificante de uma
vontade supernal acima da desvirtude, do defectível e da erronia, portanto
pronunciamento da legitimidade de uma voz providencial que prima pela insuspeição,
por sua vez, o gauche, o retorto pantaneiro palmeia o sinuado pois o sentimento do
dissímil avizinha-o de tudo o que é designado à tortuosidade não pela dileção ao
ardiloso, mas por reverência ao adverso. O enleio e enlevo com a trastaria, ou seja, o
apreço pelo ordinário e pelo indigente, torna-se o ponto de sutura, de religamento a uma
espécie de sagrado que se manifesta através da miserabilidade das coisas imprestáveis,
desvalorizadas e diminuídas: “Todas as coisas apropriadas ao abandono me religam/ a
Deus. // Senhor, eu tenho orgulho do imprestável!” (LSN,57).
Se Manoel de Barros não celebra um altar e uma liturgia para o culto de
divindades súperas e adversas à materialidade perfectível cultua, por conseguinte, o
supremo no insignificante e no que não é insigne: “O cisco tem agora para mim uma
importância / de Catedral” (RAQC,23). A santidade, no entanto, somente se manifesta
87
naquilo que margeia o humano: “Há nos santos grandes margens de antro”
(CCAPSA,62). Deus na concepção barrosiana abrange o universo em sua concretude e
palpabilidade, pois do ínfimo ao infinito tudo é requisito de adoração enquanto
manifestação da existência: “Coisa de Deus! A breve espera do rio para a passagem dos
patos”(CCAPSA,62). Tal visão aproxima-se de “O guardador de rebanhos” do
heterônimo pessoano Alberto Caeiro, mestre do paganismo:
Mas se Deus é as flores e as árvores E os montes e o sol e o luar, Então acredito nele, Então acredito nele a toda hora, E a minha vida é toda uma oração e uma missa, E uma comunhão com os olhos e os ouvidos Mas se Deus é as árvores e as flores E os montes e o luar e o sol, Para que lhe chamo eu Deus? Chamo-lhe flores e árvores e montes e sol e luar; Porque, se ele se fez, para eu o ver, Sol e luar e flores e árvores e montes, Se ele me aparece como sendo árvores e montes E luar e sol e flores, É que ele quer que eu o conheça Como árvores e montes e flores e luar e sol. 79
A reverência ao ordinário clama uma leitura dos evangelhos pela ótica dos
desvalidos. Para o poeta tudo aquilo que condiga ao existir, mesmo que desprezível, é
próximo e partícipe do homem, portanto, de si mesmo: “já posso amar as moscas como
a mim mesmo” (RAQC,11). Ao postular o amor aos insetos consagra a divisa cristã
além do dogma que determina amar ao próximo enquanto este circunscrever apenas o
humano. Barros concebe o próximo como todo e qualquer ser, especialmente os
desapercebidos, os desprezados e os desvalorizados como os lunáticos, andarilhos e
vagabundos. Daí ter como seus guias espirituais não uma entidade divina, mas um
desses seres da indigência que tinha “uma voz de oratórios perdidos” (RAQC,25): “Pote
79 - PESSOA, Fernando. O guardador de rebanhos V. Obra poética. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2003.p. 208.
88
Cru é meu pastor. Ele me guiará” (RAQC,25). Outro andrajoso a quem Manoel de
Barros também atribui a função de guia pastoral é Passo-Triste, perseguido por uma
“espécie de ascese moscal” (RAQC,43).
Essa teologia, entretanto, se não prescreve doutrinas intenta o possível: a
transubstanciação do cediço no inaudito. O sacramento da eucaristia barrosiana tem por
fundamento a própria origem da palavra kharízomai: agradar, dar gosto, como algo que
se funda em um sabor que estatui outro saber e que se dá pela inversão de sentidos. Se a
comunhão com o próximo articula-se pela linguagem usual, a fala transubstanciada pelo
poeta quer atingir o estágio da despersonalização, do desnudamento e deslindamento
para fazer brotar um outro dizer. Somente despindo-se das personas sociais, do
mascaramento do ser, então, atinge-se o ponto em que não se é mais ALGUÉM, mas o
nada de um Zé-ninguém:
Falar a partir de ninguém Faz comunhão com os seres que incidem por andrajos (...). Falar a partir de ninguém Faz comunhão com o começo do verbo. (EF,25).
Observamos que a poesia de Manoel de Barros desde o seu pronunciamento
inaugural excomunga a noção de pecado ao conceber o humano pela imisção na
concretude do contingencial. Solicita, então, um retorno à condição originária, ou seja, à
vigência de uma consciência anterior ao cisma que determinou a condenação ao
homem. Entretanto é possível tal retrocedência após a cicatriz do cristianismo ter
marcado fundamente a epiderme, a alma e a mente humanas assim como também a
revolução francesa assinalou irreversivelmente nossa consciência com a possibilidade
da fraternidade, da igualdade e da liberdade? Barros reconhece a supremacia do pêndulo
da história a vibrar na cavidade do tempo e a acorrentar o homem ao fluxo contínuo do
irretroativo. O poeta enfrenta os tentáculos da razão hegemônica com o seu contra-
89
veneno: não a irracionalidade do ilogismo, enquanto designado pelo senso comum como
força não produtiva, mas pela instauração do que é mais caro ao humano, ou seja, a
capacidade do imaginar, do poetar, de um fazer que instaura a liberdade de um pleno e
múltiplo pensar como poiesis.
Como ressaltamos Barros credita à concretude de tudo que medra uma
qualidade que não se situa nem como inferior nem como superior. Na concepção
teológica barrosiana o mundo como irrupção pelo velar e desvelar constante instaura a
criação não por uma essência que precede a existência, mas pelo seu inverso: “Se diz
que no início eram somente elas (as águas) / depois é que veio o murmúrio dos corgos
para dar testemunho de Deus” (APA,44). Para o poeta postular uma teologia do traste
não implica em abjurar a concepção divina, pois esta é sempre invocada: “Deus é quem
mostra os veios” (MDP,26). Entretanto a noção do divino somente se manifesta na
concretude do criado como já demonstramos. Assim, um simples pássaro como um
quero-quero “cumpre Jesus” (LPC,85). A igualança com o outro se consubstancia no
finito perecível do mundo fenomênico seja sob a instância mineral, vegetal, animal ou
humana e não adstrita à veneração do intáctil. Neste conflito entre o divino e o humano
os loucos configuram uma espécie de mediação: “Roupa-grande (...) Com as mãos
endireita Deus para ele” (GDA,17).
Em um mundo desumano Manoel de Barros não afiança uma alergia ao
divino, mas aliança uma elegia à divinação à teologia do traste que se não nega
totalmente a divindade, no entanto, não a afirma por uma idealização abstrata e supra-
sensível, mas pelo realce do plano substantivo, complexo e paradoxal, no qual existe o
homem. Se o que o definiria prezaria tanto o cogitar quanto o sentir, tal condição
confere ao humano uma característica dual que conflui entre o entendimento pelo
inteligível e a experiência empírica do sensível qual uma unidade indissociável.
90
2.14- O DESSUJEITO
Retornemos à questão: o que é um homem? Este na civilização industrial
conformou-se ao simulacro de uma coisa não pensante forçada à produção maquinal e
ao consumo de objetos úteis. A meta do indivíduo pauta-se, então, pela vontade
direcionada de ser ALGUÉM. Mas qual o sentido de tal intenção? O SER já não implica
em ser alguém? Ou este ALGUÉM situado em uma sociedade de mercado tem por
sentido alcançar o status de uma posição destacada acima dos outros através da
ascensão social em que se releve a posse de determinados signos indicadores de
reconhecimento e elevação?
A poesia barrosiana, como mostramos, no início pauta-se pelo tom
denunciativo a acusar a opressão do indivíduo em uma sociedade desumana sob a forma
da expressão direta da indignação. Após este primeiro passo, no entanto, parece mudar
de rumo e enveredar por uma linguagem alógica similar a de andarilhos, dementes e
errantes. Se não lhe parece que o intento da denúncia não se traduz em eficácia isto se
deve ao fato de que poesia concerne à linguagem, ou seja, àquilo que conforma o
homem. Daí a esquivez à normalidade hegemônica por um outro enfoque que visa ao
enviesado e não mais ao direto: “Usado por uma fivela, o homem tinha sido escolhido, /
desde criança, para ser ninguém e nem nunca” (APA,17). Se Manoel de Barros nega-se
a referendar a soberania da técnica e do capital em que triunfa somente o rentável e o
vantajoso, afirma então uma entronização do reles, do rasteiro e de tudo aquilo que é
abjeto aos olhos do mundo como resposta à práxis desumanizadora: “Arcado ser – eu
sou o apogeu do chão” (APA,69).
91
Ao se negar a prostrar-se diante da engrenagem maquinal produtiva assim
como também se submeter a um desígnio supremo distanciado das tragédias humanas, o
caminhar barrosiano ruma direção àquilo que lhe revele o humano. Daí embrenhar-se
por uma errância que atravessa pelo avesso a sensaboria da razão calculadora em
vigência no mundo. O mundo dos errantes, destes ninguéns não se pauta pela conquista
de bens nem se nutre de uma esperança post-mortem, mas de uma negatividade que
abole qualquer princípio de posse, pois tudo é transitório. Barros ao ressaltar a figura do
caminhante, da desfigura errante, parece, entretanto, enveredar pelo rumo da alienação
desobrigada de compromissos com a sociedade, quando o que quer revelar a contrapelo
é o caos em que o mundo se encontra. A figura do erradio é um outro modo de tocar nas
mesmas questões circunscritivas ao humano. Contudo, o que está em questão não é a
figura do andarilho como um degradado, pois, este antes possibilita visionar de viés o
que não é mais relatado sob a forma da denúncia explícita de uma poética que se
postulava como interventiva, mas a situação aviltante do ser reificado por uma estrutura
maquinal contra a qual se insurge em busca da conquista do humano: a liberdade. O
errante revela pelo avesso a desumanização de um mundo onde se atordoam os sentidos,
não se entende o próximo e nem se consegue definir o que seja ainda humano.
O poeta de Livro sobre nada, como ressaltamos, a partir de um ponto do
percurso não mais utiliza uma enunciação direta no registro das contradições sociais,
mas inverte o sinal de igualdade entre representação e realidade pelo traço de subtração
em que amplia a mediação entre os dois pólos para fazer ver menos diretamente os
dados. O vagamundo configuraria o dessujeito, ou seja, o humano em posse de seu
prosseguir a não se sujeitar ao comando da técnica e do lucro. A questão do dessujeito
subsume-se na condição do homem coisificado no esforço de lutar pela liberdade. No
vaguear o multívago exerce a liberdade através de uma errância que ruma norteado pelo
92
livre-arbítrio sem se submeter à tirania de um tempo cronometrado a determinar
compromissos que sujeitam o indivíduo a uma ordem pragmática hegemônica.
O que seria então o dessujeito?
Não se trata de um sujeito que não É, mas de um ser que não mais se
sujeita. Mas não se sujeita a que? Disto o poeta não enuncia de maneira clara, mas de
forma velada como um desvelamento que acoberta e revela. A sujeição significa
submissão, obediência, ação de pôr debaixo. Não se sujeitar diz respeito ao repúdio a
qualquer anuência passiva aos acontecimentos. Se o sujeito, na acepção latina é o
subjectus 80, o que está posto debaixo, colocado abaixo, submetido, subordinado e
dependente, a negativa a estes imperativos exige uma vontade resultante de uma
consciência inquieta diante da ordem conformadora das coisas. O não consentimento
passivo frente às contingências requer uma autonomia vigorosa que se determine a um
caminhar ereto, porém solitário, pois cada vez mais distanciado da manada
encabrestada. O pôr-se de pé é o passo inicial em direção ao dessujeito, aquele que não
está mais sob o jugo, sob rédeas, sob o comando de fios invisíveis a frear sua vontade e
autonomia. Tomar a condução da existência sob suas próprias mãos implica em uma
plena soberania que não admite mais a gerência, a gestão, a regência e administração do
que compete à plenitude do ser. O vagante assim configura o humano sob a figura do
dessujeito, ou seja, insubmisso à resignação diante do pesadelo da história. Se esta
oprime e nos arrasta em seus trilhos, o ser tem a possibilidade de resistir pela vontade
insubordinada aos ditames subjugantes. O dessujeito é o ser insurgente que após
80 - A palavra latina sujeito seria uma “tradução literal de hypokeímenon que, para os gregos, significava aquilo que ‘no fundo e sempre, estava já presente’ no âmago dos entes. (...) Assim, sujeito, como tradução reducionista de hypokeímenon, passa a designar dentro da estrutura gramatical a primeira parte da proposição enunciativa simples, como aquilo de quem ou do que se fala, seguida do predicado que lhe postula atributos. Sujeito, contudo, ganha o significado que hoje conhecemos só a partir da Idade Média, isto é, com uma referência precisa ao homem, na forma de um eu ou de uma consciência, pessoa ou razão, espírito ou personalidade”. MICHELAZZO, J.C. op.cit. p. 60-1.
93
libertar-se dos grilhões que o acorrentavam à caverna ao mirar o sol da existência
enxerga somente um clarão que o enceguece.
Ao final desta etapa Barros parece chegar a um impasse: se a condição
humana não se revela por uma transcrição direta, ou seja, pela representação da
realidade como, então, entrever a verdade através do imperativo de uma língua que
sequer se apresenta como um espelho em absoluta transparência do real? Se o humano é
passível de se revelar através da linguagem onde reside o ser, restaria, então, ao poeta
rumar em direção a uma poesia que pusesse em jogo a lógica da linguagem.
94
3- O PRIMADO DA CONTRADIÇÃO
A poética barrosiana busca fundar o humano naquilo que lhe constitui
como tal, ou seja, a linguagem. Esta, no entanto, sob o prisma de certezas absolutas se
constitui como uma prisão onde somente medra a precisão, quando o liame que sutura
as significâncias aos significantes é de uma delicada e imprecisa qualidade que não se
sustenta sob a luz de uma depuração do inverídico. Mas é precisamente isto que torna a
linguagem passível de uma qualidade que se intenta cultivar à sombra do impreciso tal
qual postula o discurso poético. A condição humana se desumanizou em um mundo no
qual a imperiosidade de certificabilidade sustenta as relações degradadas e em
decomposição. Seria a fragmentação que se contempla na poesia barrosiana explicada
pela depauperação do existir em uma sociedade fundada na livre concorrência, na
lucratividade e no acúmulo? Não somente isto, porém, pois a linguagem que se grava
sob o crivo do estilhaçamento sintático-frasal e gramatical constitui-se como tal se
acatamos a noção fragmentista como um valor menor em relação a um centro de
verdade que estabelece a hierarquia superior na concepção de unidade e inteireza. Não
haveria na lírica moderna uma postulação de resgatar na escrita poética aquilo que a
funda, ou seja, uma linguagem que não somente não sirva como redução do real a
quantificações precisas e nomeações exatas mas instaure uma outra concepção em que a
noção de preciso se complete com o impreciso em uma dualidade a compor uma
unidade indissolúvel? O humano se constitui dessa mescla entre o definido e o
indefinido e em todas as oposições a dialogar em um permanente e indissolúvel
movimento. Portanto, argumentar a fragmentação de um discurso poético é realçar o
estatuto qualificador na unidade como absoluto quando este se compõe com a
desintegração em uma indissociável ligação.
95
Na obra de Manoel de Barros tida como fragmentária 81 haveria algum
princípio construtivo? De acordo com Ronaldes de Melo e Souza o princípio de
construção que fundamenta a obra de arte literária seria a ironia. Esta não se confinaria
ao tropo retórico como figura do discurso, pois de acordo com Schlegel qualificar-se-ia
muito mais como uma parábase permanente 82 que se funda na comédia Ática em que o
coro interrompia o desenrolar dos acontecimentos e dirigia interpelações ao público a
instaurar um momento crítico e reflexivo sobre a própria representação. Esse processo
de auto-reflexão crítica do próprio atuar que se mostra como representação e não como
forma especular da realidade configura-se como ironia, eironeia, questionamento. A
poesia moderna ao mostrar-se como um construto que se expõe ao olhar do leitor
interpõe uma visada crítica que se funda pela ironia como “uma nova forma de
conhecimento, em que a contradição é consentida” 83. A oposição dos contrários deixa
de se constituir, então, como antagonismo conflitante para instituir-se pela
complementaridade de uma unidade dual, pois em “consonância com o caráter
contraditório do homem e da natureza, a unidade da obra irônica é a unidade paradoxal
do orgânico e do não-orgânico, do formado e do não-formado, do ser e do nada, do
cosmos e do caos”. 84
No entanto o que é ironia? Instaurar qualquer questão que implique no ser
de alguma coisa determina-lhe a unidade de uma resposta? Ou seja, há a imposição de
se asseverar a qualidade da singularidade do que seja definido como alguma coisa e não
outra? Pois se em um perguntar postula-se desvendar o É de alguma cosia pondera-se
que este encaminhar a pergunta conclua por um de-finir que estabeleça as
particularidades caracterizadoras de algo como sendo isto ou aquilo, mas jamais isto E
81 - A tese de doutorado de Goiandira Camargo sobre Manoel de Barros denomina-se A poética do fragmentário. 82 - SOUZA, Ronaldes de Melo e. “Introdução à poética da ironia”. V. nota 2. 83 - Id., ibid. p. 32. 84 - Id., ibid. p. 36.
96
aquilo. Portanto, uma resposta atinente ao bom senso deveria proceder por uma
determinação conclusiva sobre isto ou aquilo, mas que evitasse a ambigüidade de se
dizer que ao mesmo tempo tanto é uma coisa como seu reverso. Asseverar desta
maneira seria contrariar o bom senso e cair no paradoxo. Segundo Deleuze o “bom
senso é a afirmação de que, em todas as coisas, há um sentido determinável; mas o
paradoxo é a afirmação dos dois sentidos ao mesmo tempo” 85. O paradoxo postula o
avesso do princípio da não contradição firmado pela lógica que não comporta que uma
coisa seja isto e aquilo simultaneamente. Assim, qualquer proposição firmada pela
linguagem usual estrutura-se a partir dos fundamentos lógicos, ou seja, que uma coisa
não pode simultaneamente ser outra. Se a linguagem, portanto, fixa os limites
definidores, como afirma o filósofo francês, “é ela também que ultrapassa os limites e
os restitui à equivalência infinita de um devir ilimitado”. 86
A ironia configura-se em um dizer que estipula em uma afirmativa a
ocultação implícita de uma correspondente negativa assim como o inverso. A
denominação usual que repousa na convencionalidade conforma um significado a um
determinado significante e ao se imiscuírem as diferenças em único feixe significativo
deixa de se constituir como um atributo de veracidade ao signo para se revestir de um
sentido que prima pela dubiedade. Assim a duplicidade e simultaneidade fundam a
ironia pelo primado da contradição em que algo se insinua na aparência de um
enunciado como proposição determinada a designar corretamente alguma coisa, mas
desloca a significação corrente para uma similaridade ao avesso em que isto não tem
mais por identidade isto em si mesmo, mas assume a propriedade inversa ao pretendido.
Deste modo a ironia se firma pela afirmação simultânea dos contrários em que isto e
aquilo conformam uma unidade dual. Assim o conceito de ironia funda-se na
85 - DELEUZE, Gilles. Lógica do sentido. Trad. L.R. Salinas Fortes. São Paulo: Perspectiva, 2000. p. 1. 86 - Id., ibid. p. 2.
97
ambigüidade da linguagem e não na fundação de certezas da ortótes ou da doxa. Vige
assim o paradoxismo de uma coisa que não é, mas que parece ser e que na verdade é
uma outra que não se afirma a não ser pela negação. Situa-se então na fímbria entre um
ser e um parecer, entre um ser e não ser. Deste modo ao se nomear algo como
verdadeiro, no entanto tal coisa termina por revelar-se como falseamento e simulação. O
poeta não dissimula que o escrever não comporta a realidade na sua determinação de
aparente redução à representação da facticidade, mas é uma apresentação do representar
que como tal não se finge como realidade, mas que instaura a realidade do escrever
como um dissimular.
À coexistência bifacial de algo que não é, mas que, parece ou finge ser, ou
o inverso, de algo que é, mas aparenta não ser, impõe-se um indagar sobre a fixidade da
linguagem. Embora esta se institua pela infinidade polissêmica dos diversos contextos
em que os signos são articulados há uma convenção contratual que não possibilita em
cada contexto determinado uma pluralidade indefinida de significações diversas a
permitir a floração de equívocos. Se em uma placa informativa interpõe-se qualquer
dado que instaure a profusão de sentidos, o bom senso impõe a eliminação do elemento
propiciador de equivocidade para se evitar aquilo que em teoria da comunicação
denomina-se de ruído, ou seja, qualquer vocábulo ou sintagma condutor de dubiedade
que induza ao duplo sentido, portanto à anulação de uma identidade fixa 87. Se vigora na
margem cotidiana, informal e rotineira da linguagem a impossibilidade de um navegar
além das linhas limítrofes dos significados estritos costurados aos signos, há também
uma outra que cerceia nosso compreender e dizer e que se postula como a fidedignidade
87 - Terry Eagleton exemplifica a ambigüidade da linguagem usual com um aviso encontrável no metrô, “cachorros devem ser carregados na escada rolante”: “Isso talvez não seja tão claro quanto pode parecer à primeira vista: significará que nós temos de carregar um cachorro na escada rolante? Seremos impedidos de usá-la se não encontrarmos algum vira-lata para tomarmos nos braços, antes de subirmos ou descermos? Muitos avisos, aparentemente claros, encerram ambigüidades semelhantes (...)”. EAGLETON, Terry. Teoria da literatura: uma introdução. Trad. Waltensir Dutra. São Paulo: Martins Fontes, s.d. p. 7.
98
dos conceitos que fundam o estatuto de qualquer saber. Em ambas determina-se a
fixidez da certidão autentificativa da verdade a qualquer enunciado, pois se tal não
condizer com a normatividade vigente revelar-se-á como farsa, portanto, inverdade.
Esta lógica é excludente e se funda no princípio da contradição em que algo não pode se
constituir como verdadeiro e falso simultaneamente. Porém, parece haver uma outra
margem em que vige um linguajar que instaura uma aporia ininterrupta que não
acorrenta definitivamente o nome a uma determinada coisa. Roland Barthes postula que
duas margens são traçadas: uma margem sensata, conforme, plagiária (trata-se de copiar a língua em seu estado canônico, tal como foi fixada pela escola, pelo uso correto, pela literatura, pela cultura), e uma outra margem, móvel, vazia (apta a tomar não importa quais contornos). 88
A ironia, entretanto, instaura o fluir ininterrupto de uma terceira margem,
pois destitui o estatuto firmado na convenção da certeza para revelar na conformidade
de um enunciado uma ambi/valência em que uma determinada afirmativa termina por se
constituir como sua própria negação. A simultaneidade da interpenetração dos
significados em uma tessitura ambivalente funda-se em uma dialética entre a verdade e
a mentira, o afirmar e o negar que não permite a conformidade do sentido à mansidão de
um porto seguro. A seguridade, no entanto, é o fundamento da linguagem atinente ao
senso comum da fala cotidiana ou da objetividade conceitual das nomenclaturas de
determinados saberes regidos pelo rigor e precisão classificatórios. De acordo com as
premissas do princípio da não contradição isto e aquilo não se conformam a um mesmo
aspecto, mas distanciam-se por margens seguras que não permitem a promiscuidade
difusa e profusa de um variar de sentidos. Assim, a ironia ao postular que um afirmar
pode repousar sobre a indeterminação significativa põe de sobressalto a seguridade da
linguagem assentada sobre alicerces definidores e definitivos a se guardar da
88 - BARTHES, Roland. O prazer do texto. Trad. J. Guinsburg. São Paulo: Perspectiva, 1977. p. 12.
99
infirmidade. A instabilidade da relação entre os signos e as coisas vem à tona com a
instauração da ironia, pois esta termina por interpor um desacordo incômodo no
contrato oficial que firma a linguagem.
Embora toda poesia se funde na instauração de uma infinitude significativa
a postulação de uma ambivalência pela simultaneidade antitética estipula uma
consciência diversa da uniformidade unívoca e unificadora da linguagem que estrutura o
pensamento ocidental. A complexidade do humano não se firma pela afirmação
irrevogável de distinções inequívocas, mas por uma imisção dos contrários que funda o
que há de mais fundo no ser que se firma pela linguagem que em si mesma não prima
pela identidade fixa mas por uma condicionalidade que impõe uma convencionalidade
outorgada por um contrato firmado em nome da univocidade, da unidade e do
identitário. A postulação de uma linguagem dúbia que se conforma na ironia clama por
uma concepção diversa da redução da multiplicidade à uniformização e anulação dos
contrários. A concepção irônica se pauta na compreensão da complexidade do ser
humano que não deve se ater a uma representação que finja uma identidade fixa quando
repousa a instabilidade não somente do estatuto significativo, mas da própria
constituição do ser que articula a linguagem, pois este não se limita ao nivelamento e
aplainamento da redução do real mas se constitui em uma diversidade de camadas que
compõem um compósito variegado e multifacetado. Isto, no entanto não nega a
preeminência da coerção social a vigiar o dizer como a determiná-lo por um regrar que
a mera violação encarcera no exílio da demência todo aquele que ousar divergir do bom
senso...
Assim, articular uma expressão que não referende a linguagem em sua
pretensão de univocidade é postular uma outra compreensão, e para esta se instaurar há
100
que se arregimentar um outro dizer, que requer um outro pensar, que postula uma outra
didática avessa ao assentido.
101
3.1- UMA DIDÁTICA DA INVENÇÃO
Na obra de Manoel de Barros há uma constância de tratados, compêndios,
gramáticas, protocolos, glossários, livros, cadernos, lições, exercícios que conformam
um dessaber para o aprendizado de uma outra didática. A primeira parte d`O livro da
ignorãças denomina-se “Uma didática da invenção”. A palavra didática provém de
didaskó, ensinar, instruir e refere-se à pedagogia que intenta uma eficácia maior na
aplicação da atividade educacional através de preceitos. Tal termo utilizado em um livro
de poesia termina por revestir-se de tom irônico por retirar do aspecto educativo o
compromisso com a eficácia pedagógica de um saber atinente aos conhecimentos
determinados por regras e prescrições. Ao invés de subsumir-se no modelo pedagógico
ditado pelo bom senso aventa-se um outro trilhar que investe no avesso da repetição: o
inventar. Este induz a descobertas imaginativas e criadoras e não se resume ao
repositório de saber convencional firmado sob normas.
A epígrafe creditada a um certo Felisdônio afirma que “as coisas que não
existem são mais bonitas” 89. O autor do enunciado é um dos seres próximos ao poeta
que navegam nas outras margens da razão e por isso contam com a adesão incondicional
de alguém que não comunga do senso comum. Com esta sentença o poeta demarca que
seu suporte didático convergirá para uma concepção literária que postula uma outra
medida além do que se determina como realidade. Antonio Candido aponta que este é
um problema da tradição literária brasileira pois
89 - BARROS, Manoel de. O livro das ignorãças. Rio de Janeiro: Record, 1993. p. 7. Todas as referências a versos de Manoel de Barros relacionados nos capítulos subseqüentes referir-se-ão a esta obra.
102
como não há literatura sem fuga ao real, e tentativas de transcendê-lo pela imaginação, os escritores se sentiram freqüentemente tolhidos no vôo, prejudicados no exercício da fantasia pelo peso do sentimento de missão, que acarretava a obrigação tácita de descrever a realidade imediata, ou exprimir determinados sentimentos de alcance geral. 90
Assim há que se pensar a poesia a partir de fundamentos que são inerentes à
constituição literária como elaboração verbal imaginativa: a capacidade de articular
textualmente uma outra realidade que recusa a noção de mimesis como cópia. Daí que a
literatura se configura não pela obediência a uma transcrição fiel e exata do real, mas no
plano da invenção, da própria constituição do que se denomina como poiesis, o inventar,
o engendrar, o criar.
A conformação irônica da poesia barrosiana se constitui não pela
representação figurativa, mas estruturalmente pela utilização de fundamentos do
discurso lógico e hegemônico, mas para reverter-lhe as propriedades. Na Didática da
invenção há uma organização seqüencial enumerativa que pressupõe uma ordenação
metódica, mas que, no entanto implica em um desacordo com o enunciado poético-
inventivo. O poeta de O guardador de águas estrutura de forma ordenada o poema
como a mimetizar um saber sistematizado que, porém, não se coaduna com o discurso
poético, pois este não se determina por uma seqüencialidade metódica em um
desenvolvimento linear por etapas. Essa didática se organiza em vinte e uma partes não
tituladas, mas enumeradas seqüencialmente em algarismos romanos. O primado do
método desconstrói-se assim ironicamente por uma didática que mimetiza formalmente
um ensino moldado no conhecimento acumulativo de um registro de fatos, dados,
números e nomenclaturas taxonômicas generalizadoras e definidoras.
90 - CANDIDO, Antonio. Formação da literatura brasileira. (Momentos decisivos). VOL I. (1750-1836). 2 ed. São Paulo: Martins Editora, 1964. p. 29. Lembremos que Terry Eagleton, um teórico que postula a determinação histórica, afirma que a poesia é “entre todos os gêneros literários, o mais evidentemente desligado da história, aquele em que a sensibilidade pode desenvolver a sua forma mais pura, menos impregnada pelo aspecto social”. IN: EAGLETON,Terry. Teoria da literatura: uma introdução. Trad. Waltensir Dutra. São Paulo: Martins Fontes, s.d. p. 55.
103
O poema I estabelece premissas para o conhecimento, mas que, no entanto
não se limitam a uma metodologia científica, pois o que interessa à observação poética
são “as intimidades do mundo” (I) e não o desvendamento objetivo das leis que
determinam a natureza. Este outro saber se divide em itens organizados de forma
alfabética que parecem intentar um paulatino desenvolvimento de uma investigação
acurada. No entanto, a leitura seqüencial denota um discurso fragmentário se, e somente
se, comparado com a ordenação textual convencional amparada em uma organização
linear das idéias claras e distintas. A noção de fragmento, instaurada principalmente por
Schlegel 91, decorre de um confronto com a convenção discursiva estabelecida por uma
ordenação linear das idéias. A poesia barrosiana, continuadora da tradição moderna,
parece procurar devolver à poiesis o fluxo dinâmico interno de um fazer verbal que não
se conforme aos rigores tanto da norma culta da língua como da estruturação de
pensamento lógico.
Aristóteles argumenta que a poesia contém um teor mais filosófico do que o
discurso histórico, pois narra imaginativamente o que poderia ter ocorrido e não se atém
a um relato pretensamente fidedigno dos acontecimentos 92. Desta forma pode-se
entender que o “esplendor da manhã não se abre com faca” (I), pois o que concerne à
poesia não remete ao dado evidenciado na observação imparcial dos fatos, mas a uma
instância criadora que não se restringe às regras do senso comum. O aspecto utilitário de
um objeto como uma faca anula-se frente ao encantamento com a fulguração de um
amanhecer. O juízo estético ultrapassa o sentido de utilidade ou de interesse e
propulsiona uma comoção subjetiva que anula o distanciamento estabelecido entre
sujeito e objeto.
91 - SCHLEGEL, Friedrich. O dialeto dos fragmentos. Trad. M. Suzuki. São Paulo, Iluminuras, 1997. 92 - ARISTÓTELES. Poética. Trad. Eudoro de Souza. São Paulo: Abril,1973. (Os pensadores, IV).
104
O verso final do poema afirma que “desaprender oito horas por dia ensina
os princípios” (I). Na pedagogia do avesso de Barros o aprender tem por princípio não a
retenção de conhecimentos, mas a desconstrução de todos os fundamentos incutidos
pela instrução oficial que adestra o ser não para a liberdade, mas para se submeter
incondicionalmente às normas e regras. Há que se retirar o entulho da educação
tradicional e mais ainda desacostumar a mente aos hábitos convencionais do já sabido e
então auscultar e vislumbrar o não retido pelo hábito, mas pelo ainda não descoberto e
pelo inventivo.
Qual o método desta didática? Se esta se autonomeia pelo prisma da
invenção há que se compreender o processo pedagógico por este postulado. Assim não
há que se con-formar ao dito, ao sabido, ao conhecido e repetido, mas ao que foge a
tudo isso e instaura um outro aprender. Portanto, faz-se necessária, ao poeta, uma re-
fundação do saber a partir de suas condições elementares como o ato de designar as
coisas. Se cada coisa se apresenta “ela mesma consigo mesma a mesma” 93 não carreia
em si qualquer designação. Esta, antes se deve a um acordo em que se convenciona que
a cada coisa consigna-se um signo que a representa como sendo esta coisa. Então o
designativo é um rótulo que sobrepõe uma outra identidade sobre a unidade consigo
mesma.
Deste modo esta didática se funda sobre a desinvenção dos signos. Se no
poema antecedente postulava-se um desaprendizado como premissa de um abrir-se para
a sabença das intimidades do mundo, faz-se necessária uma outra educação em que o
des/aprender não se determine pelo a/prender mas por um a/preender não determinado
pela convenção do que se legitima como saber. A educação somente se promoverá ao
estatuto de uma pedagogia que invente um novo saber, ou ainda o próprio SABER, no
93 - HEIDEGGER, Martin. O princípio da identidade. Trad. Ernildo Stein. São Paulo:Abril, 1973. p. 378.
105
sentido de sabor, se ocorrer um refazimento da percepção embotada no contrato
efetivado nas trocas lingüísticas em que os objetos são denominados por nomes, ou
melhor, substituídos e representados por signos. Ou seja, na poesia de Manoel de Barros
os signos não correspondem mais à convenção firmada entre significante e significado,
pois “os nomes já vêm com unha?” (1.2). Desmonta-se não somente o vínculo instituído
socialmente assim como se desapropria a condição funcional de qualquer coisa. Desta é
retirada a convencionalidade de uso firmada no senso comum para revesti-la de um
estranhamento inicial que postule não uma percepção exata, mas uma consciência
ampliada para além da utilidade das coisas. Barros ao pôr em questão a serventia usual
das coisas embaralha não apenas as peças do tabuleiro, mas as próprias regras que
determinam o jogo. Desta forma ao pente são dadas “funções de não pentear” (II), em
que a percepção poética desvincula da coisa o atributo que a con-forma em objeto
reconhecível pelo uso rotineiro para arrancá-lo de sua redoma impermeável à
invencionice e inocular através do estranhável o inabitual. Instaura-se então o inaugural
da presença da unidade consigo mesma.
Tal procedimento des/construtor aproxima-se do efetuado pela pintura de
Magritte que desloca um objeto usual não somente de suas associações habituais, mas o
posiciona fora de uma representação delimitada por regras que se conformem tanto a
uma perspectiva convencional como à escala em desacordo com a percepção sensorial.
Veja-se, por exemplo, o quadro “Os valores pessoais” de 1952 em que a representação
figurativa de um quarto de dormir mobiliado com uma cama e um armário é contrariada
logicamente pela configuração de objetos fora de sua escala usual, como por exemplo, a
desproporcionalidade do tamanho de um pente em cima de uma mesa, ao lado de outros
objetos comuns, que conforma uma dimensão gigantesca e irreal. 94
94 - MAGRITTE, René. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1995. Entretanto não se defende aqui qualquer proximidade da poesia de Barros com o Surealismo.
106
Ilustração 1: Os valores pessoais, René Magritte, 1952.
Na poesia de Barros não somente os signos deixam de representar o
conhecimento oficializado, mas perdem a aura de representantes das coisas para pôr na
balança a própria percepção da realidade que passa a ser vista como um jogo aparente
que não revela o que seja REALIDADE. Para isso a didática barrosiana utiliza-se não
do sentido consensual da fala cotidiana ou até mesmo do léxico dicionarizado, pois este
está sedimentado no limo das convenções que não permitem apreender o real das coisas,
mas de um dizer que contraria as fórmulas da mesmice. Há que se “usar algumas
palavras que ainda não tenham idioma” (II), pois antes de ser qualquer coisa ela consigo
mesma, a mesma assume em nossa percepção imediata a condição representacional de
uma outra coisa que a substitui na ausência de sua presença.
A condição de possibilidade de uma outra percepção é estimulada por um
processo pedagógico de desaprendizado constante, e para isto a repetição irônica da
mesmice se faz necessária como parte desta deseducação. Ao expor a repetição
108
mesmas coisas não foram ainda apropriadas e cerceadas por um batismo oficial. Por
isso “as coisas que não têm nome são as mais pronunciadas por crianças” (VI). Estas
ainda não se adestraram no contrato oficial que une a coisa ao signo e que se usa
consensualmente para definir e delimitar a noção de realidade. Há que, então,
descosturar as coisas aprisionadas ao signo para que se atinja o estado ainda não
contaminado que vige no universo infantil. Neste vigora o criar imaginativo que maneja
uma língua que ainda não se firma na designação de/finidora das coisas, mas por uma
constante invenção. A didática barrosiana postula uma educação poética que se equipara
à visão livre oswaldiana: “nenhuma fórmula para a contemporânea expressão do mundo.
Ver com olhos livres” 96. Barros por sua vez afiança: “quero enxergar as coisas sem
feitio” (3.2).
Essa visão desenferrujada do mundo que o poeta reconhece na infância, ou
seja no in-fans, no que ainda não tem o atributo da fala mas possui a propriedade virtual
da linguagem, se conforma como delírio do verbo, ou seja, “lá onde a criança diz: Eu
escuto a cor dos passarinhos” (VII)97. Assim como Rimbaud em um procedimento
sinestésico associava a sonoridade das vogais à experiência sensorial das cores, o poeta
de Gramática expositiva do chão se apóia na pré-lógica do infans para postular uma
outra concepção de lógica que desacorda com a norma do bom senso que estipula como
convicção errônea tudo que se estabeleça como interpretação delirante da realidade, pois
“se a criança muda a função de um verbo, ele delira”. (VII). A poética barrosiana busca
esta instância inaugural da palavra em seu estado germinal de poiesis, ou seja, da
invenção e da criação. Assim como Benedito Nunes aproxima Graciliano Ramos de
96 - ANDRADE, Oswald de. Manifesto da poesia Pau-Brasil. IN: ____. Do pau-Brasil à antropofagia e às utopias. Manifestos, teses de concursos e ensaios. Obras completas VI. 2 ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1978. p. 9. 97 - Na segunda parte do livro, “Os deslimites da palavra”, no fragmento 2.3 o narrador Apuleio assevera: “escuto a cor dos peixes”. E no fragmento 2.5: "ouço o tamanho oblíquo de uma folha”.
109
Guimarães Rosa pela “linguagem em estado nascente” 98 poderíamos conjeturar o
mesmo sobre Barros que estatui que “em poesia que é voz de poeta, que é a voz de fazer
nascimentos – o verbo tem que pegar delírio” (VII).
A poesia, entendida como toda causa de qualquer coisa passar do não-ser
ao ser no dizer platônico 99, vige não somente no modo verbal, mas em outras instâncias
estéticas como a pintura. E uma das mais delirantes, se a situarmos em relação ao pintar
que se conforma às convenções normais da visão correta, é a de Van Gogh 100. O pintor
holandês não procede a uma representação de acordo com as normas técnicas atinentes
a um observador distanciado do objeto, mas introjeta nele o estado emocional que lhe
afeta. Tem-se então a visão não da coisa em si, de acordo com a perfeição estética de
uma pintura que imponha uma mimesis especular do observado, mas uma interpretação
emocional que anula a separação objetiva entre sujeito e objeto. Para Manoel de Barros
“um girassol se apropriou de Deus: foi em Van Gogh” (VIII). O girassol de Van Gogh
não se amolda aos parâmetros da mimesis especular, da cópia fiel do olhar adestrado
nas convenções estéticas ou de uma grafia do visto, mas do vivenciado emocionalmente.
Esta também é a visada barrosiana: uma poesia feita menos de regras do que de
instantes poéticos fragmentários traduzidos emocionalmente. O poema seria o espaço
privilegiado onde esta reflexão alógica aconteceria.
O processo de deseducação subtrai-se à lógica matematística pelo
aprendizado permanente de um estado de absorção das coisas pela via da experiência
emocional. Desenhar o cheiro das árvores, como propõe o poeta, é tarefa que somente
98 - NUNES, Benedito. “No limite da transcendência”. Folha de São Paulo. São paulo, 9 mar. 2003. p. 9. 99 - PLATÃO. O banquete. Trad. José C. de Souza. São Paulo: Abril, 1973. p. 43. (Os pensadores, III). 100 - Vincent Van Gogh foi internado no hospital psiquiátrico de Saint-Remy de onde escreveu ao irmão Théo conjeturando sobre sua doença sob o ponto de vista dos médicos que não apontavam para uma doença mental: "pour autant que je sache, le médecin d´ici est inclin à considerer ce que j´ai eu comme une attaque de nature épileptique”. GOGH, Vincent Van. Lettres de Vincent Van Gogh à son frère Théo. Paris: Gasset, 1986. p. 278.
110
se permite aquele que desobedece à didática da lógica que decreta impedimento racional
onde se perpetre o delírio do verbo.
Para a poesia “não tem altura o silêncio das pedras” (X), pois o estado
poético não se determina pela dimensão como mensuração101 já que vigora antes o
espanto, o espasmo, a vertigem. Na mineralidade material da bruteza das pedras há que
se induzir não ao domínio de suas leis físicas e propriedades, mas ao procedimento
estético que revela a aproximação do homem ao divino pela recriação. “Botar aflição
nas pedras (Como fez Rodin)” (XI) implica na não submissão incondicional ao natural,
mas na reinvenção deste por um modelar estético que recria o criado pela intervenção da
criatura. O estado sólido da pedra não se modifica em sua propriedade, mas reveste-se
de outro sentido pelo re-fazer humano.
Barros constrói dialeticamente uma des/construção que problematiza a
lógica racional. Descostura todos os pontos que estruturam não apenas a língua, mas a
linguagem poética. O poeta define a poesia como voar fora da asa (XIV). Esta
in/definição não se pauta pelo procedimento de uma conceituação amparada
metodologicamente em uma investigação sistemática e organizada, pois não somente
recusa este saber como tal definição re-vela o estatuto poético que se funda na in-
exatidão taxonômica. Não ser exato, entretanto, não significa subsumir no erro mas na
errância de um devir que recusa reduzir o real a qualquer designação de-finidora. Daí a
preferência pelos insanos, marginais, loucos e dementes. Voar fora da asa significa estar
além/aquém do conhecível e adentrar a imaginação liberta das dicotomias
contraditórias: “as coisas não querem mais ser vistas por pessoas razoáveis: / elas
desejam ser olhadas de azul / Que nem uma criança que você olha de ave”(XIII). Tal
poética avessa à razão dominante não tem por desígnio a destruição da razão, mas a
101 - JARDIM, Antônio. Os caminhos da técnica. IN: ____. Música: vigência do pensar poético. Tese de doutorado. Rio de Janeiro: UFRJ, 1997.
111
instauração de um outro procedimento que busca reaver a condição inaugural do
humano anterior à educação moldada em um conhecer que mais designa e reduz o real
do que o re-vela. Revelar poeticamente o real, portanto, induz não ao desencantamento
do mundo com fins operacionais de dominação, mas ao desnudamento do próprio fazer.
Uma das características distintivas da poesia moderna evidencia-se no traço
metalingüístico, ou seja, mostra-se o próprio poema como um construto no qual o
procedimento poético é revelado em seu processo de construção. O poeta enovela a
poesia sobre si mesma para deslindar o fazer poético como escritura e não uma
inspiração sobrenatural. Se na definição do poeta a poesia seria um vôo fora da asa, ou
seja, capaz de ultrapassar os limites do real, a prática do poema, portanto, há que ser
concorde com o ilimitável. Para tanto investir no poético impõe-se como um dos tópicos
desta poética / didática. Aristóteles propugnava que a linguagem poética deveria primar
pela clareza sem resvalar para a baixeza, a trivialidade e a vulgaridade embora o termo
corrente e usual do cotidiano possa conferir ao texto maior clareza. Horácio, por sua
vez, argumentava diferentemente ao propor o emprego de um termo surrado com
“delicada cautela no encadeamento das palavras, (...) graças a uma ligação inteligente”
em que o estilo ganhará em requinte 102. A poética barrosiana que postula que “ao lado
de um primal deixe um termo erudito” (XIV) pode ser entendida como uma recusa
crítica tanto da via aristotélica como por um ir mais além da proposta horaciana. Para
tanto o poeta não se intimida diante de normas poéticas do bem dizer que legitimam a
estabilidade do bom senso e da normalidade: “Encoste um cago ao sublime. E no solene
um pênis sujo” (Id.). Barros ultrapassa a demarcação do requinte aventado por Horácio,
102 - HORÁCIO. Epistola ad pisones. IN: ARISTÓTELES, HORÁCIO e LONGINO. A poética clássica. Trad. Jaime Bruna. São Paulo: Cultrix, s.d. p. 56.
112
pois para este “o princípio e fonte da arte de escrever é o bom senso” 103, ou seja,
haveria que aquiescer à cautela para ajustar-se às convenções do bem dizer.
O autor de Compêndio para uso dos pássaros prefere situar-se, no entanto,
na paradoxalidade distanciado do bom senso: “sou pervertido pelas castidades /
santificado pelas imundícias?” (XVI). O poetar barrosiano distancia-se das coordenadas
de qualquer escrever alinhado ao estatuto da mediania. Não se acanha mesmo frente à
possibilidade do retraimento da clareza e prossegue consciente de um dizer que avance
em direção a uma ampliação do dizer e, portanto, do humano. Ao contrariar o princípio
da não contradição postula um entendimento que proceda por outras vias diversas do
conhecimento usual atinente exclusivamente à linguagem verbal. E não podemos definir
esta como objetiva, pois seria creditar-lhe uma categoria determinante que
circunscreveria qualquer outra expressão ao domínio da subjetividade como sinonímia
de falta de clareza. Como se a linguagem usual fosse portadora de um entendimento
maior das coisas quando apenas estabelece um acordo estipulador dos signos como
ferramentas convencionais a se determinar ao entendimento comum.
Como então entender o sentido do verso “em casa de caramujo até o sol
encarde?” (XVII). Se pautarmos nossa compreensão de acordo com a linguagem
conforme o registro culto, ou a corrente entre os usuários, ou mesmo a estrita aos
jargões específicos de determinados saberes, deduziremos uma espécie de inexatidão
que não se coaduna com o princípio da realidade. Mas nestas linguagens estabelece-se
um pacto inviolável entre os signos e as coisas que não permite um desacordo entre os
elementos, pois se tal ocorresse implicaria em uma desordem dos conceitos. Estes têm
que ser preservados de qualquer abalo para que se conserve a noção de realidade que se
103 - Id., ibid. p. 64.
113
sustenta pela afirmação destes conceitos que determinam apenas o plano das realizações
como a única Realidade. O irrealizável seria devaneio de poetas, loucos e visionários...
Observemos mais detidamente esse verso. De acordo com a concepção
poética convencional tal sentença não corresponderia ao paradigma de um poema, pois
parece tratar-se antes de um mero aforismo sem conexão aparente de ordem seqüencial
com os anteriores ou ulteriores. O verso, e podemos denominá-lo assim, parece
mimetizar a forma breve e sintética dos ditados populares. Ou seja, haveria uma
intenção de conferir à frase uma relação similar à conformação da estrutura das
expressões correntes que expressam a sabedoria popular através de sentenças modelares
curtas. Estas remetem a valores vigentes em determinados grupos sociais e que através
desta forma verbal sucinta exemplifica a moral dominante com vistas à correção
coletiva. O verso barrosiano parece apropriar-se da conformação estrutural do
enunciado popular que afirma que “em casa de ferreiro, espeto de pau”. No entanto, o
poeta se não procede a um reaproveitamento do mote através de uma operação
renovadora de seus termos, tal qual o lema poundiano do make it new, não referenda o
repositório da cultura popular em suas manifestações de servilismo ao bom senso. Antes
investe contra a régua da razão pragmática, seja ela científica ou consensual. Se no
ditado popular referido se estabelece uma relação irônica estruturada por elementos
simbólico-metaforizantes contraditórios de uma condição social determinada por
contingências econômicas adversas, ou seja, a condição irônica do trabalhador que não
usufrui o produto do seu próprio trabalho, no entanto, o verso, por sua vez, não articula
signos referentes a um paradigma relacionado a um contexto remissivo aplicável à
dimensão social. O repertório vocabular selecionado por Barros, tal qual Graciliano
ramos na visão de João Cabral, constitui-se de um eixo seletivo compacto e reduzido a
elementos da natureza, mas que, no entanto tem pouca importância para o poetar que
114
confere às palavras o próprio estatuto de coisas antes que representações de outras
coisas. Primeiramente a instância material do verso aponta para a valorização dos
elementos sonoros recorrentes através da aliteração consonantal de casa, caramujo e
encarde. A homofonia, reiteração da mesma vogal tônica em casa e encarde conforma o
texto a um eixo conciso de similaridades que encerra o poema em uma sintética
harmonia melódica 104. Entretanto, conformar o verso apenas ao aspecto sonoro seria
conceder a Barros o estatuto de um artífice voltado exclusivamente para o exercício
formal sem visar a elaboração de sentidos. E é a noção de sentido que está em jogo em
sua poética. Esta, no entanto, não pode ser denominada de absurda, pois seria creditar à
lógica dominante um valor absoluto que excluiria qualquer outro modo de sentir /
pensar. Antes, estipula-se para a lógica poética o mesmo estatuto que a hegemônica, ou
seja, a propriedade de revelar através de uma conformação verbal diversa da usual um
sentido diverso e multi-facetado para as coisas. Mesmo que estas aparentem não ter
sentidos aos nossos sentidos...
O contrato firmado entre os signos e as coisas delimita-se por uma
convencionalidade determinante de que tal conformação sonora configura um
determinado objeto, ausente ou não. Ao olhar avesso do poetar, porém, as coisas não
são bem assim. Um rio, por exemplo, pode ser “a imagem de um vidro que fazia uma
volta atrás da casa” (XIX). Nesse poema exemplifica-se o saber professoral na figura de
um homem que passa e diz que “essa volta que o rio faz por trás de sua casa se chama
enseada”. O desencantamento do mundo se fez em nome da objetividade que quer a
apropriação do mundo com vistas a sua manipulação utilitária, mas o olhar poético
recusa não propriamente a racionalidade do conhecimento da natureza e das coisas, mas
a calculabilidade que retira não o encantamento mistificador, pois este produz o
104 - Ressalte-se que este procedimento é dominante na poética barrosiana.
115
obscurecimento servil às crendices, mas a propriedade humana da imaginação e da
criação. Na visão do poeta “o nome empobreceu a imagem”.
A expressão poética que se norteie pelo inventar imaginativo conduz-se não
por bússolas ou sextantes indicadores de caminhos seguros e rotas conhecidas, pois no
dizer de Maiakovski, poesia “é uma viagem ao desconhecido” 105 e, portanto,
determina-se mais por uma expressão que se quer incompleta, inconclusa, reticente não
por omissão, mas por uma condição permanente do descobrir, do urdir, do imaginar, do
engendrar, ou seja, da noção de poiesis como um devir da condição de possibilidades
que instaura a vigência do não ser ao ser.
105- MAIAKOVSKI. Poemas. Trad. B. Schnaiderman, Augusto e Haroldo de Campos. São Paulo: Perspectiva, 1982. (Signos, 10).
126
codificação instituída como normativa nas atividades humanas. A resposta desta lírica
representa antes um abalo nas certezas instituídas pelo pensar ocidental.
Friedrich considera na lírica moderna
a tendência a manter-se afastada o tanto quanto possível da mediação de conteúdos inequívocos. A poesia quer ser, ao contrário, uma criação auto-suficiente, pluriforme na significação, consistindo em um entrelaçamento de tensões de forças absolutas. As quais agem sugestivamente em estratos pré-racionais, mas também deslocam em vibrações as zonas de mistério dos conceitos. 116
Contudo, o distanciamento da mediação de conteúdos inequívocos não seria
premissa constituinte não somente da lírica moderna, mas da própria poesia? Afirmar a
vigência de conteúdos que não permitam a formação de equívocos não seria aceder a
um valor de objetividade, portanto, de positividade que tenha por pressuposto condenar
a plurissignificação como desencadeadora e produtora de equívocos? Portanto, não se
trata de estabelecer o conceito de poesia a partir da diferença dos constituintes de cada
discurso, mas sim de questionar a supremacia de uma forma de organização lógico–
objetiva sobre outra que é considerada como irradiadora de conteúdos equívocos.
Todavia, a expressão poética intenta através da ativação de sentidos diversos das trocas
comunicativas pragmáticas restituir à palavra o simbolismo originário e múltiplo da
expressão. Ou seja, se o signo enquanto contrato convencional representativo é forma
arbitrária e simbólica de comunicação não há que dissimular esta condição sob a
máscara da objetividade e da transparência. A premissa lingüística que estabelece para o
jogo usual de representações verbais uma relação de identidades precisas com as coisas
é destituída de sua legitimação no âmbito poético. Este, antes, se funda pela dissociação
entre signo e coisa para instaurar uma relação inventiva entre o nome e a coisa.
116 - Id., ibid. p. 16.
127
A questão poética barrosiana parece confluir sempre para uma reavaliação e
não uma validação dos códigos. Seja uma dissensão do código social que prescreve
regras com o intuito de consolidar o statu quo ou ainda um enfoque crítico que
desconstrói o código verbal. Se este se firma pelo arbitrário da convenção dos
conceitos, então à poesia, seja ela moderna ou não, competiria um retorno à expressão
original na qual a mediação não se camufle mais como conteúdo inequívoco, mas que se
exponha como meio simbólico que exclui qualquer noção antagônica entre equívoco ou
in-equívoco. A determinação de exatidão universal dos conceitos é uma construção
arquitetada do discurso lógico–científico-matemático que supõe em seus pressupostos a
eliminação de qualquer resíduo impuro de subjetividade. Assim se aniquila toda a
possibilidade imaginativa com vistas a uma uniformização e conformação da expressão.
A equivocidade da poesia só é concebida como tal quando não se tem em conta a
condição originária da palavra como signo da plurissignificação de uma expressão que
se sabe antes de tudo condição simbólica, e, portanto, distante e próxima da verdade
simultaneamente. Etimologicamente a palavra equívoco traduz uma equanimidade de
sentidos que se manifestam simultaneamente em uma oposição complementar que
traduz uma ambigüidade.
A lírica moderna apenas acentua de forma mais evidente o jogo com o
código, daí a impressão de dissonância, posto que o mascaramento da pretensão à
universalização da verdade dos discursos dominantes é revelada a partir da inversão das
normas do código verbal usual. Tal inversão denuncia a falácia da inequivocidade da
expressão verbal articulada pela oficialidade de uma norma que se impõe como tal pela
força do uso, do hábito e do costume, quando a poesia, entretanto, revela que esta
constituição é periférica à força originária e fundadora da palavra. Esta se estrutura, no
entanto, como uma caixa de múltiplas ressonâncias significativas não redutíveis a uma
128
aparência de estabilidade, exatidão e segurança. Daí o discurso poético revestir-se de
modo expressivo a ressaltar o elemento sensorial como uma condição propiciadora de
possibilidades de um outro entendimento e não somente como estágio primário e inicial
de conhecimento como postula a concepção metafísica dual que credita à esfera
inteligível a supremacia hierárquica em relação à aparência sensível. Portanto, trata-se
de pensar a escrita poética a partir do limite da lógica fundada no Ocidente sobre os
alicerces de um conhecimento que instaura o conceito de verdade como idéia apartada
do mundo sensível. A poesia postula tanto a vigência da materialidade física em sua
instância sonora como a instauração de sentidos fundada em uma lógica da analogia
paradoxal. E é deste limite que se ousa o ilimitado dos múltiplos e irredutíveis sentidos
além da exatidão dos significados e definição dos conceitos firmados na convenção dos
limites da palavra.
Goiandira Camargo ressalta que “a visão que o homem tem do contexto
histórico contemporâneo é (...) fragmentária” 117. A autora destaca as modificações
ocorridas na Idade Moderna que provocaram “rupturas irreversíveis no modo de ser e
estar do homem, o que o deixou com um sentimento de multiplicidade interior,
estilhaçado em sua subjetividade, a equilibrar-se no fio da dúvida cartesiana” 118.
Portanto, a autora relaciona desta forma a situação da poesia moderna meio ao contexto
histórico determinante que se configuraria esteticamente através da forma fragmentária.
Entretanto, tentemos entender, brevemente, o surgimento da noção do fragmentário a
partir das idéias de Schlegel em relação à sistematização filosófica.
A forma fragmentária como expressão filosófica surge com Schlegel e
Novalis. Este a concebia como um meio de ativar o pensamento através de sementes,
117 - CAMARGO, Goiandira. A poética do fragmentário: uma leitura da poesia de Manoel de Barros. Tese de doutorado. Rio de Janeiro: UFRJ, 1996. p. 107. 118 - Id., ibid. p. 107.
129
grãos de pólen desencadeadores da reflexão. Schlegel amplia tal concepção para ajustá-
la a uma instrumentalização crítica contrária a uma filosofia sistemática, pois em seu
modo de pensar o filosofar é “um sistema de fragmentos” 119 enquanto algo sempre a se
realizar. Daí, portanto, a crítica à falta de sistematização que sua filosofia sofre. Márcio
Susuki observa a peculiaridade desta filosofia se firmar “exatamente num momento da
história da filosofia em que os maiores esforços estão voltados para a completitude e
acabamento sistemático da crítica kantiana” 120. O que este filosofar fragmentário põe
em questão é a pretensão do idealismo alemão tentar estabelecer um sistema de saber
absoluto. Schlegel se propõe a “despir a filosofia de seu aparato artificial, tecnicista,
tentando torná-la tanto quanto possível apta a expor o saber na figura original em que
ele mesmo imediatamente se manifesta” 121. Adorno observa que a tentativa de
sistematização filosófica que intenta a representação de todas as etapas que conduziram
a uma asserção é equivocada, pois
ainda que se lhe concedesse aquela recomendação discutível de que a exposição deve reproduzir exatamente o processo de pensamento este processo não seria uma progressão discursiva de etapa em etapa, assim como, inversamente, tampouco os conhecimentos caem do céu. Ao contrário, o conhecimento se dá numa rede onde se entrelaçam prejuízos, intuições, inervações, autocorreções, antecipações e exageros, em poucas palavras, na experiência, que é densa, fundada, mas de modo algum transparente em todos os seus pontos. 122
O que se propõe pela forma fragmentária é um re/flexionar que a/presente
de maneira mais próxima ao i/mediato o modo com que este pensar ir/rompe na
cons/ciência. Afinal a pretensão de elevar a sistematização ao princípio definidor do
pensar filosófico parte de um pressuposto de defini-la como ciência. Entretanto, como
119 - SUZUKI, Márcio. A gênese do fragmento. IN: SCHLEGEL, Friedrich. Trad. M. Suzuki. São Paulo: Iluminuras, 1997. p. 11. 120 - Id., ibid. p. 12. 121 - Id., ibid. p. 12 122 - ADORNO, Theodor. Op. cit. p. 63. v. nota 3.
130
afirma Fichte “a forma sistemática seria meramente contingente para a ciência; não
seria seu fim, mas meramente – digamos – um meio para esse fim”. 123
A poesia não se caracteriza pela sistematização de um conhecimento e,
portanto, não haveria como avaliá-la pelo juízo científico ou filosófico, pois a “obra de
arte ironicamente se apresenta imperfeita, incompleta, inacabada. Intimamente
associada ao real que não cessa de se realizar e desrealizar, a forma poética
autenticamente irônica é necessariamente fragmentária” 124. O filosofar fragmentário
que se instaura contra a sistematização do pensar busca, entretanto, uma aproximação
com o poetar. Embora no dizer de Heidegger entre este e o filosofar vija um abismo,
pois residiriam em montanhas separadas, entretanto, “impera um oculto parentesco
porque ambos, a serviço da linguagem, intervêm por ela e por ela se sacrificam” 125.
Deste modo ocorre uma intersecção entre poesia e filosofia através da fragmentação
que busca um retorno da linguagem a uma maneira menos mediata e não atrelada à
sistemática de um metódico pensar fundado na clareza e distinção das idéias.
Entenderíamos, então, a fragmentação da poesia moderna tanto pela explicação
historicista que aponta o desacerto entre a consciência individual poética meio a um
mundo dominado pelas novas relações da divisão de trabalho, quanto pela fissura
ocorrida no pensar ocidental entre o idealismo de uma sistematização redutora da
complexidade do real e a instauração de uma reflexão fundada na concepção dinâmica
de uma expressão mais condizente com o irromper da manifestação do pensar e do
dizer.
123 - FICHTE, Friedrich Von. Sobre o conceito da doutrina – da – ciência ou da assim chamada filosofia. Trad. R. R. Torres Filho. São Paulo: Abril, 1973. (Os pensadores, XXVI) p. 15. 124 - SOUZA, R. M. e. op. cit. p. 36. 125 - HEIDEGGER, Martin. Que é isto – a filosofia? Trad. Ernildo Stein. São Paulo: Abril, 1973. p. 221. (Os pensadores, XLV).
131
Este percurso ajuda-nos a entender como a poética de Manoel de Barros
corresponde a uma tradição moderna que tanto não referenda a sistematização
metódica do pensar como única via filosófica assim como busca na fragmentação um
modo de pôr em questão a lógica ocidental determinada pela causalidade linear. Assim
à poesia barrosiana não podem ser creditadas as características da lírica moderna de
anormalidade e dissonância, pois estas não se justificam diante de um pensar que não
se constitui mais por dicotomias antagônicas. A poética de Manoel de Barros poria em
questão tanto a noção de normalidade como de consonância ou qualquer binarismo
dicotômico que configure o modo de pensar metafísico. Daí essa lírica atentar para o
linguajar dos dementes.
132
3.4- MUNDO PEQUENO126
A presença de inúmeros dementes entre os que habitam a poesia de
Manoel de Barros re/vela um dos fundamentos da poética barrosiana que é o de
restaurar a lógica fundadora da linguagem. Esta não se con/forma à mediação de
conteúdos inequívocos, como já afirmamos, mas postula uma outra margem que não se
limita ao re/conhecível mas a um dizer que se pauta pelo equívoco, ou seja, no qual
vigora a ambigüidade da palavra em uma instância primeira de disseminar e re/colher
mais do que a/firmar ou mesmo negar. Assim sob este prisma demência constituir-se-
ia como uma propriedade inerente à poesia, posto que tal nomeação denotaria um voar
fora da asa? Para tanto há que se indagar sobre a visão da realidade que Manoel de
Barros constrói a partir do seu mundo.
A concepção de Barros sobre a natureza, por exemplo, é algo propiciador
de espanto, enlevo e arrebatamento que conduz ao êxtase embriagador, e, portanto,
propiciador do deslimite da razão. O inebriar, no entanto, não fundamenta o princípio
da realidade, mas o do prazer que elevado às últimas instâncias pode produzir além do
estado dionisíaco da fruição embriagadora a destituição do discernimento entre o real e
a imaginação.
O poeta, entretanto, não se intimida diante da ultrapassagem do limite em
que vigoram as leis impostas à sensatez do senso comum. A convivência com os
dementes Bugre Felisdônio, Ignácio Rayzama, Rogaciano, Sombra – Boa, Andaleço e
Bernardo permitem ao poeta um aprendizado maior em direção ao aprimoramento
cada vez mais acurado da didática da invenção. Ao dizer que “todos catavam pregos na
beira do rio para enfiar no horizonte” (II) o poeta ressalta uma expressão de força
126 - Este título refere-se a última parte d´O livro das ignoraças.
133
poética que retira da enunciação qualquer juízo avaliativo quanto à razoabilidade.
Talvez o poeta queira avizinhar as paralelas da demência e da poesia que se tangeriam,
então, no ponto de intersecção da linguagem desmedida. Esta, no entanto, somente
adquire o tom de delírio do verbo, como o poeta definira a poesia, quando abandona as
rédeas das palavras adestradas pela razão utilitária e funcional. Para esta a separação
entre sujeito e objeto comporta uma linha divisória que estabelece um papel
determinante ao primeiro. Manoel de barros, no entanto, inverte esta relação. Vejamos.
Em um verso constituinte do mundo pequeno de Barros está escrito que
“quando o rio está começando a peixe / ele me coisa, / ele me rã, ele me árvore” (I).
Tem-se neste verso uma problematicidade referente à lógica que funda a norma
gramatical a preconizar uma relação sintática entre sujeito, verbo e predicado. A
formulação do enunciado, no entanto, não parece clara tanto em sua estrutura sintática
como no aspecto semântico. A quem se refere o pronome pessoal do caso reto, ele: ao
rio ou ao peixe? À primeira vista aparenta ser uma referência ao rio como elemento
desencadeador da cadeia biológica iniciada pela geração de um peixe. De acordo com
essa hipótese então a ordem frasal seria esta: o rio me coisa, o rio me rã, o rio me
árvore. Se esta for a forma possível então resta entender o sentido de um enunciado
que rompe com a lógica frasal costumeira. Esses versos se estruturam de acordo com
uma ordenação gramatical lógica até um certo ponto. Há, entretanto, um elemento
ausente que desequilibra a estabilidade frasal: o verbo, elemento estrutural
configurador da temporalidade e, portanto, da ação. A composição da frase exige como
complemento um elemento verbal que organize o sentido. Este se esfacela ante a
ausência do componente verbal como estruturante de um nexo. No código da língua
portuguesa não se torna possível uma construção como esta em que em lugar do verbo
se utilize um substantivo. A complexidade de tal enunciado denuncia-se pela
134
imiscuição entre sujeito, objeto e verbo. A ação que caracteriza a temporalidade é
subtraída por um objeto que se relaciona ao sujeito. Se, no entanto, observarmos que
há uma elipse na qual se omite o verbo, o sentido parece refazer-se, tal como o rio me
quer coisa, o rio me faz rã ou o rio me gerou árvore. Entretanto, se procedermos deste
modo acederemos à lógica usual que exige uma complementação verbal de acordo
com o estipulado pela norma gramatical. E não é isto o que está escrito, ou seja, não
parece ser esta a intenção do sujeito da enunciação. Se o enunciado tem tal forma
enviesada de acordo com o senso comum manejado nas trocas comunicativas diárias é
porque há uma intenção crítica nisto. O problema não se reduz à ausência da forma
verbal, mas da formulação frasal avessa ao hábito. O estranhamento receptivo
decorrente de uma escrita cuja estruturação lógica é diversa da conformação
gramatical corrente é proveniente da força do hábito e do costume. A modificação de
um elemento qualquer na estrutura verbal convencional desestabiliza a recepção da
mensagem e postula uma re/visão do automatismo dos significados cristalizados em
fórmulas gastas. A investida poética da enunciação contra o habitualismo de qualquer
expressão se formula pela inversão das expectativas. Estas se nutrem do esperável, do
previsível e do seguro. A inventividade produz-se pelo elemento desencadeador de
surpresa que desacomoda o estratificado, o estagnado e o imutável. Porém, se vida é
mudança, movimento e instabilidade, ou seja, um permanente e incessante devir, não
há porque ansiar pelo costumeiro. Tudo é possível e passível de mudança, portanto, de
uma constante re/visão das perspectivas que se modificam. Daí importar o exemplário
retirado das falas dos dementes.
Em Elogio da loucura de Erasmo a loucura teria o mesmo estatuto que a
sabedoria. Assim vigeria o “privilégio que têm os bobos de poder falar com toda a
135
sinceridade e franqueza” 127. Em uma sociedade na qual vigem disfarces de personas a
verdade só pode ser re/velada sob a instância da demência. Ao insano é concedida a
faculdade plena de dizer o que quiser, pois estaria fora do juízo, acorrentado pela
húbris, a desmesura que tanto situa o humano abaixo da normalidade como o coloca
acima de todos, tal qual Édipo que decifra o enigma da esfinge, mas também é aquele
que comete o parricídio e comete o incesto com a própria mãe 128. Entretanto, qual a
distinção entre sanidade e insanidade? Ronaldes de Melo e Souza argumenta que
Erasmo
demonstra que a oposição antagônica da razão e da loucura é uma ilusão racional. O antagonismo se revela ilusório, sobretudo quando se verifica que a razão e a loucura são reversíveis, que se manifestam na síntese antitética da razão da loucura e da loucura da razão. 129
No final da Idade Média a personagem do bobo, assim como a do louco
ou do simplório, nas farsas e sotias “toma o lugar no centro do teatro, como o detentor
da verdade (...). Se a loucura conduz todos a um estado de cegueira onde todos se
perdem, o louco, pelo contrário, lembra a cada um sua verdade” 130. Na Europa o
fenômeno da loucura sucedeu a lepra e a sífilis no processo de exclusão social através
da condenação dos dementes a uma navegação errante na Narrenschiff (Stultifera
navis): “fechado no navio, de onde não se escapa, o louco é entregue no rio de mil
braços, ao mar de mil caminhos, a essa grande incerteza exterior a tudo”. 131
127 ERASMO. Elogio da loucura. Trad. Paulo M. de Oliveira. São Paulo: Abril, 1973. (Os pensadores, X). p. 31. 128 - VERNANT, Jean-Pierre e VIDAL–NAQUET, Pierre. Mito e tragédia na Grécia antiga. Trad. A. Prado, F. Garcia e M. Cavalcante. São Paulo: Brasiliense, 1988. 129 - SOUZA, Ronaldes de Melo e. “Introdução à poética da ironia”. Linha de pesquisa. Revista de Letras da UVA. (2000) 1:37. 130 - FOUCAULT, Michel. História da loucura na idade clássica. 2 ed. Trad. J. Teixeira Coelho. São Paulo: Perspectiva, 1987. p. 14. Em Hamlet a suposta loucura da personagem-título é uma condição de possibilidade de se dizer a verdade. 131 - Id., ibid. p. 12. Foucault afirma ainda que a “a água e a loucura estarão ligados por muito tempo nos sonhos do homem europeu”. p. 12
136
O conceito de razão e a clausura da loucura, no entanto, são questionados
por Manoel de Barros através de um discurso poético que se constrói por uma alquimia
irônica: o louco transmuta a realidade em poesia que assim modifica a palavra de uso
normal. O poeta de Arranjos para assobio articula uma diversidade de personagens
a/normais que compõem uma espécie de painel narrativo que conforma um aspecto da
narrativa irônica
que é a narrativa dialetizada por um narrador que se representa numa mobilidade pura, assumindo todo gênero de caracteres, articulando uma alternância sistemática de perspectivas, modulando vários pontos de vista, sempre recusando a possibilidade de se imobilizar na representação doutrinária de um só papel, na adoção monológica de um ponto de vista pretensamente normativo. 132
Um outro ponto da desconstrução das dualidades que moldam a percepção
da realidade repousa sobre a normatividade da língua na instância fundadora da
normalidade dos significados e univocidade dos sentidos. A normatividade da língua
na poesia de Barros é constantemente desconstruída pelo viés poético como meio de
questionar ironicamente o mundo das certezas. Felisdônio, vaqueiro e peão comedor
de papel, um dos dementes do rio, “gostava de desnomear: / para falar barranco dizia:
lugar onde avestruz esbarra. / Rede era vasilha de dormir” (II). Se a palavra é o
elemento material fundador com que lida o poeta, no entanto, pela via normal, ela é
mediação entre o sujeito e a coisa observada. Na poética barrosiana a relação entre o
homem e a realidade não é representada dicotomicamente, pois vige um
metamorfosear contínuo em que isto pode ser aquilo e vice-versa. Berta Waldman
pergunta: “entretanto, como instaurar a unidade homem / natureza através da poesia, se
a palavra é uma mediação que reforça a perda da unidade?” 133. Ela aponta para uma
síntese mítica e poética do sujeito com o objeto e de todos os opostos através da
132 - SOUZA, R. de M. e. op. cit. p. 36-37. 133 - WALDMAN, B. op. cit. p. 4.
137
floração da “linguagem da infância recalcada, a metáfora do desejo, o texto do
inconsciente, a grafia do sonho”. 134
Essa síntese do sujeito com o objeto, entretanto, somente se efetiva após
uma reflexão crítica sobre a própria palavra. A convenção arbitrária do contrato
instituído entre o signo e a coisa condiciona a consciência do observador a esta
instância. O experimentado pelo sujeito torna-se o resultado de sua apropriação via
linguagem do que se denomina como realidade. Esta é concebida de acordo com o
estipulado pelas designações e assim o que resta entre o sujeito e sua experiência é
proveniente do entendimento que concebe a realidade por um designar pelo qual o real
se restringe a reduções que não comportam uma complexidade que não se limita aos
pólos de sujeito e objeto, mas a uma relação ambivalente e simultânea. Daí, no dizer de
Waldman, ser necessário “libertar o contemplado da consciência que o contempla” 135.
Para que a linguagem da infância aflore faz-se necessário antes a instauração do
processo crítico do código lingüístico. A poesia de Barros não permite que o enleio
com as palavras sirva de fomento para sustentar uma suposta poesia idílica de uma
natureza idealizada, tal como se realizou no ideário romântico forjador de uma
identidade nacional enraizada na imagética de uma nação destinada a configurar a
grandeza de uma terra destinada à consagração universal. Um permanente retorno à
palavra e à condição de representação problemática devolve esta poesia à instância
crítica de impedir qualquer mecanismo ilusório. Tal como defende Ronaldes de Melo e
Souza “a função crítica da arte consiste em converter a ilusão da consciência em
consciência da ilusão”. 136
134 - Id., ibid. p. 4. 135 - Id., ibid. p. 4. 136 - SOUZA, R. de M. e. op. cit. p. 31.
138
Destituir esta ilusão da consciência implica em remover os
condicionamentos que forjam esta consciência. Daí, portanto, a necessidade permanente
de se pôr em questão os valores estabelecidos pela normatividade da mediania. Esta
poética se constitui por um retorno ao estado em que a “língua era incorporante” (VI),
ou seja, à condição material das palavras, “que já estavam consagradas de pedras”
(XIV), para adquirir uma “espessura de gosma” (XIV). Para que este retorno se efetue
“há que apenas saber errar bem o seu idioma” (VII). A obediência à correção sofre nesta
escrita uma intervenção pelo desvio crítico da ironia. Se a gramática não ensina a
inventar, mas a escrever de acordo com as normas da correção, o poeta aprendeu pelo
método da agramática a “fazer defeitos na frase” (VII). Assim após o período de
desaprendizado do saber normativo que se efetua pela desconstrução da gramática e por
uma didática que ensina os deslimites da palavra é que se torna realizável, então outro
sabor, o ilimitado da poesia, ou seja, voar fora da asa: “foi então que comecei a lecionar
andorinhas” (XIV).
139
3.5- VIDA E POESIA
Em teoria literária separam-se como duas águas a poesia e o viver
crismando o enunciar da primeira com a denominação de um eu lírico diferenciado da
pessoa que escreve. A poesia de Manoel de Barros mescla as duas correntes e reduz
tudo a uma foz cujo rio poético espraia-se sempre na seara do vivenciado indiferenciado
do inventado. Inexiste na poética barrosiana um marco fronteiriço a exilar de um
meridiano o que não se engaiola em um específico exatificar, ou seja, a cingir em um
casulo as insígnias que estampam a completitude e unicidade absolutas de qualquer
designar. Se cada signo é uma máscara temporária com aspiração à âncora o nome para
Barros é uma película que paramenta o que é imanente a qualquer coisa. O nome é o
nome da coisa como coisa, como sendo a coisa em si mesma e não uma representação.
Se a rosa não é o nome rosa, em poesia rosa é uma rosa e muito mais e menos que uma
rosa.
Se o re/presentar de qualquer signo confina-se ao contrato soldado entre o
que soa e o que significa, tal liame vem a se esfazer no fazer poético em que o nomear
conjumina-se em uma unidade entre o nome e a coisa assim como entre o poeta e o
fazer, ou seja, a poiesis como inseparável do ser, do existir, do viver. Barros costura
nomes a outras coisas e enxerta qualificativos que termina por indeterminá-las. A poesia
barrosiana então parece fundar-se sobre o princípio da identidade? Se neste vigora a
relação igualitária em que uma coisa é ela mesma em si mesma, a designação
significativa que fundamenta a linguagem não repousa sobre este princípio, pois em um
signo a substituição de uma ausência é preenchida por uma outra coisa que a quer
suplementar como representação. Esta identidade não vincula o ser da coisa à coisa mas
140
a um signo que é uma outra coisa. Na poesia de Manoel de Barros cada coisa é a coisa
mesma, mas revestida de um modo de ser que se institui por um qualificar que retira do
signo seu atributo representativo para instaurar uma propriedade fundadora de uma
identidade que prima pela ambigüidade em que uma coisa é uma coisa mas re/vela-se
simultaneamente também como outra coisa.
A ambigüidade nomeante que Barros institui às coisas tanto se funda como
instauradora de uma poética como repousa sobre a relação indissociável entre vida e
poesia. No mundo barrosiano as coisas são elas mesmas em suas nomeações, mas
unidas a seus avessos em desnomeações que as qualificam ao revés. Assim o estatuto
definitório que institui uma relação identitária entre os signos e as coisas através de uma
identidade fixa é destrançado por um fiar de nervos que se entrelaçam em um labirinto
de ressonâncias. A aparente simplicidade de um mero designar em que uma coisa em
ausência é representada por um signo é desconstruída pelo poetar barrosiano em que a
presença da coisa se apresenta, se re/vela e des/vela no próprio ato de nomeá-la. Mas
esta nomeação não se reduz a um simples exercício taxonômico de relacionar
identidades mas de um re/colher mais amplo em que o a/presentar de qualquer coisa se
faz não pelo princípio de igualização pretendido pelo designar mas por uma instância
multíplice que não somente alforria o agrilhoamento do signo como cédula certificante
da identidade da coisa mas como um ato de consciência da ilusão deste designar.
A poesia barrosiana não se funda pelo designar, mas por um des/designar.
Daí os delimites da palavra. Esta não é signo para Barros, pois não re/presenta coisa
alguma, pois se institui como a presença da própria coisa e não sua ausência em
diferença. Mas este presentar não tem a propriedade especular de refletir a facticidade
das coisas em sua visibilidade imediata ou mesmo através da mediação verbal mas de
instaurar uma compreensão multifocal das coisas. O signo é o limite que funda uma
141
instância separadora entre a coisa e seu nome, pois este é substituído por uma outra
coisa. Este limitar serve para dar consistência denominadora ao real por uma redução
que quer exatificar tudo por linhas demarcatórias que instaurem a mesmidade das coisas
em sua nomenclatura, pois se tal não se instituísse imperaria uma variegada gama de
significações que poria em risco a definidade de qualquer coisa. Barros a/presenta
então: as coisas como coisas, palavras que são coisas, palavras que são as próprias
coisas e palavras que são simultaneamente coisas, as próprias coisas e outras coisas.
Nesta poética não vigora o estatuto portuário de ancoragem compulsória a alfândegar o
fluxo viajante dos signos com passaportes carimbados com a nomenclatura oficial.
Despe-se antes a mascaragem dissimuladora da identidade real para revelar por detrás
do signo o nome da coisa e a própria coisa.
Mas em poesia tudo pode ser às avessas. Octavio Paz pressupõe no nomear
poético um divergir do designar habitual, pois naquele institui-se uma relação que não
se funda pela identidade fixa deste mas por uma identidade dos contrários em que isto é
aquilo tal qual como pedras em poesia não somente podem ser, como no inverossímil
possível aristotélico, como SÃO plumas 137. Assim não se trata de um nomear para
almejar o estatuto da certificação absoluta como garantia de uma impermeabilidade à
contingência e ao devir das coisas, mas de uma consciência de que a falibilidade de tal
projeto se demonstra na própria consciência do devir como uma inapreensibilidade de
um brotar fluxionário ininterrupto na simultaneidade em que vigem isto e aquilo, o
verso e o reverso, o ser e o nada em uma unidade que se funda pela dualidade opositiva
dos contrários a constituir-se na indissolubilidade. Portanto não é de limite que se trata,
ou seja, mas de uma amplitude das fronteiras em direção a uma complexidade
perceptiva que conjugue não a vigência do separatismo das coisas em uma facilidade
137 - PAZ, Octavio. O arco e a lira. Trad. Olga Savary. 2 ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1982. p. 120.
142
designadora, mas uma articulação sempre móvel e instável no qual a fixidez das
designações se transmute na vertigem de um dizer que não se ampara na sinonímia da
similitude entre espelho e verdade, mas nas possibilidades múltiplas de um acordo
desacorde em que tudo e nada con/formam um compósito indissociável entre o nome,
que é tudo e nada, e a coisa que é ela mesma sendo ela mesma, inclusive no estatuto do
nome da coisa.
Nesta vigência entre linguagem e ser reside a fundação da poética
barrosiana, pois nesta vigora uma aliança não somente entre os nomes e as coisas como
o seu avesso que termina por re/velar o indissolúvel liame que se firma entre as
polarizações e antinomias. Corolário deste entrelaçar emerge a con/vergência entre vida
e poesia. Desde o primeiro livro, Poemas concebidos sem pecado, Barros não separa o
joio do trigo, pois antes consubstanciam-se em uma persona poética que re/vela e oculta
a própria face que se disfarça em máscara para des/velar o que não se re/vela a olho nu.
Como já se observou, a etapa inicial do percurso poético Barros conjuga uma relação
especular entre a facticidade vivencial e o escrever como um ato especular que denuncie
as condições do existir. Contudo esse confluir entre o dizer poético e o viver que
postulava uma intervenção crítica no conjunto da sociedade modificou-se na trajetória
barrosiana e passou a conjugar também o próprio fazer como uma instância do ser. A
partir de Compêndio para uso dos pássaros aflora uma con/fluência que adjunta ainda
mais o que não parecia divisível ao conceber do poeta, ou seja, um contrapesar em que
vida é sinonímia de poesia assim como o inverso. A poesia de Barros então não mais
diferencia o estatuto do que é verossímil ou do imaginoso, pois que no reino da
linguagem se posto como tal, ou seja, como linguajar, assim vige. Então não há que se
delimitar a fronteira entre duas águas, mas o correr ininterrupto de um vigorar que
permanece e que flui em um devir que se institui pela mesmidade e pela alteridade
143
contínuas. Assim as palavras, as coisas, os seres tudo con/flui em um jorrar/germinar
que é indiscernível.
Na poesia de Manoel de Barros poetar é VIVER e como tal se funda não
somente na linguagem como fundamento do ser, mas também como fundante do existir
que foge às grades e teias que nos emparedam ao viver como sinônimo do sobre/viver
diário em direção à decomposição material. A poesia de Barros não fala sobre os
acontecimentos que enredaram sua vida, seus amores e dores ou sobre dramas e vitórias,
mas ela é o próprio viver do poeta. Comprova-se isto pela total indiferenciação entre a
vida e a poesia em suas entrevistas que não separam um divisor comum entre o poetar e
o viver. Barros responde às entrevistas como poeta que se constitui pela poesia que
funda o seu ser.
A poética barrosiana incorporou à luta por modificações na rede social um
pelejar pelo indissociar entre o ser e o fazer que funda a divisão de trabalho da
sociedade moderna. Barros É poeta não somente no seu fazer, mas no viver permanente
em estado de poesia que se faz acontecer no dia a dia e não em uma esfera inalcançável
de uma torre divorciada do mundo. Ao ser entrevistado não separa vida e poesia.
Portanto, não há como falar em um eu lírico que dissocie o fazer do viver, pois ambas
instâncias constituem o ser do poeta que se funda na linguagem.
Então na poética barrosiana não vigeria uma alteridade que se mascara no
dizer do poeta que re/vela um multi/facetado aspecto do existir? Este próprio aspecto
multífluo constitui o cerne do ser do poeta que se funda na variedade personificada em
loucos, andarilhos, coisas e na diversidade animal, vegetal ou mineral. Este aflorar
multivalente é constituinte do próprio ser que não se institui pela unidade de uma
identidade da unicidade, mas na pluralidade que funda a própria linguagem. A
in/determinação do devir é o que funda o fazer, a poesia de Barros: tudo é um
144
permanente viver/morrer, germinar/derruir em aliança indissolúvel que não há como
separar o que se constitui como fundação não somente do poetar, mas do próprio ser.
Assim não há como distinguir entre a instância indiferenciada de um eu lírico que
devaneia nas paradoxalidades inverossímeis e as contingências determinantes dos
aspectos imediatos da concretude do existir. Manuel de Barros tudo conjuga de modo
defectivo na vertigem da linguagem da poesia que não dissocia os aspectos multíplices,
contraditórios, paradoxais e opositivos do humano, pois que complementares e
indivisíveis na dualidade que conforma a unidade do ser.
145
3.6- DA AGNOSIA À OUTRA AGNIÇÃO
(Recapitulativo)
Se na obra de Manoel de Barros vigora uma dialética da desconstrução e da
construção em diálogo permanente e impediente de qualquer imobilização em um dos
pólos como escrever sobre essa poesia senão sob essa dinâmica? A desconstrução
barrosiana que se apresenta através da eironeia, um questionamento que desmonta a
veridicidade subsumida na concepção sobre as coisas não exigiria uma leitura
convergente a este questionar? A escrita do poeta de Livro sobre nada ao evitar a
encenação ilusória que forja uma aparência de realidade como suporte da representação
da verdade configura uma presentação da natureza como metamórfica. Se tudo está em
constante movimentação e permanecente mudança a poesia há de responder a isto,
assim como sua leitura, por uma perspectivação nem objetiva ou subjetiva, mas por um
fusionar entre os dois pólos através de uma simbiose interagente.
Por outro lado a construção que se estrutura a partir da desconstrução do
dualismo antagônico entre sujeito e objeto há de ser alentada por um entendimento
poético. Este se funda ao avesso do senso comum e ao afrontar a normatividade da
língua põe em suspeita os confins que conformam o avaliar humano. Desmantelar este
arcabouço implica desarticular a designação que deforma nosso observar, sentir e
pensar. Ao intentar um outro nomear e frasear supõe-se minar as sustentações do
arcabouço textual, ou seja, a lógica de uma enunciação que ainda se dobra aos
princípios da identidade e da contradição. Se estes são revertidos por Barros em um
assistemático desviar a desfiar o fio do pensar por um desavir com o raciocinar parece
haver um propósito de fundar outro saber.
146
Se essa poesia tenciona a criação de outro pensar a se assentar na via da
linguagem ao avesso do convencionado há que se exigir outra gnose. Esta somente
torna-se-á factível após a desconstrução do construto conformador da sabença das
coisas à lógica opositiva vigente e dominante na tradição ocidental. Urge a instauração
de um conhecer superante do logicismo cogitante que faculte ao homo sapiens a
superação do antagonístico por uma síntese antitética. Nesta não se estabelece uma
diferenciação bipolar excludente, mas uma noção de complementaridade intrínseca à
dinâmica dos contrários. Esta maneira de conhecer e se relacionar com o mundo se
firma por outro patamar: o da ironia. Tudo há que perpassar por um permanente
contrabalançar pelo qual a consciência estipula uma “nova forma de conhecimento, em
que a contradição é consentida” 138. Assim não prevalece nem o antagonismo opositivo
ou a síntese dialética, e sim a valência de uma unidade dual do que é pensável como
contraditório. Essa parece ser a lição do poeta que assume a ignorância como
inseparável da sapiência.
Se a obra de Manoel de Barros não incorre na pretensão de uma
representação especular da realidade, o primado que sustenta tal escritura é o da
contradição e este torna possível a presentação do real por um modo de pensar que
desconstrói a lógica antagônica para construir uma poética da complementaridade. Daí a
poesia barrosiana presentar a realidade em sua inteireza complementar mais do que a
representação mimética intenciona. Barros desensina pela avessia de um pensar que
intenta um retornamento não ao poético enquanto sinonímico do lírico, mas ao
constituinte do humano: paradoxal e contraditório.
O que aparenta ser uma utopia, um deslocamento de idéias fora do lugar, tal
qual o discurso demencial, no entanto parece clamar por uma outra topia, que devolva o
138 - SOUZA, R. de M. op. cit. p. 32.
147
humano à sua condição linguageira original, POÉTICA, que se funda pelo princípio da
complementaridade. Dessujeita-se o objeto e desobjetifica-se o sujeito: tal é dialética de
uma topia do dessujeito re/poetizado. O humano passa a se presentar não mais pela
representação designante de um sujeito, mas por um relacionar que se instaura pela
instabilidade das posições. Tudo se relaciona em um permanente transformar e
transmutar em que a reversibilidade converte o antes estável em um variado posicionar:
tudo e nada passam a constituir não pólos opósitos, mas um compósito complementar.
Este outro modo de se situar no mundo enuncia-se pela não sujeição aos modos
instituídos de pensar por antagonismos conflitantes. A antropotopia é o lugar do
dessujeito não mais submisso ao modo de pensar escorado na lógica excludente das
diferenças, mas incorporador destas em um movimento constante da unidade dualística.
Manoel de Barros sabedor de ignorâncias e agnosias postula uma expressão
propícia a outra agnição, que dialetize a gnose e o ignorar como constituintes
indivisíveis de um sabor insipiente, cuja instância originária é a poesia. Esta ao solicitar
outro conhecer insubmisso ao discursivo de uma lógica analítica a privilegiar o
inteligível não diferencia este do sensível e sim os conjuga em um modo integrativo do
opositivo que consiste o humano.
Consignar esta tese a outro conhecer em consonância com o poético, assim
como o retórico, é o que nos propomos em outra parte se nos ajudar o engenho e a
arte...
149
4- PRINCÍPIOS
Qualquer análise de poesia repousa sobre um postular que se estabelece a
partir de premissas a se perseguir. Entretanto imagine-se um variado propor não pela
determinação de um télos ou meta a se perseguir, mas antes uma aporia que estipule a
permanência de um investigar sem presumir o descanso de um porto como consolo onde
se ancorar. Mas investigar o quê? A poesia? Cabe tal distinto indagar? Há que se
intencionar sempre um certo propor para que se venha a se objetivar um saber intrínseco
ao sabor? Então há que ter um ponto de origem, de progênie, de princípio? Um umbigo
como monólito demarcartório de tais instâncias diferenciadas? Vigeria, assim
imperiosamente a nos confranger um necessário início direcionado a um exato e
concluso fim? Onde este se inaugura e quando aquele se fina? Há um fim como
princípio ou há sempre um princípio sem fim?
Ousar dizer o sabido é se aventurar a se perder nas rédeas do sápido.
Começaria assim a se responder o ainda não indagado sem o saber? Antes, entretanto,
supor um tatear que não nos imponha a exata mesura como escala, mas o descompasso
do tatear por um incerto traçado a nos guiar. Tal qual um rumo em desmesura a nos
remar, feito o velejar disposto ao ventilar dos ventos de um insensato reflexionar que se
insinua nas redes e rendas do dizer? O quê? Eis a questão?
Dizer o que já está inscrito nas tramas de um verso como traduzir algo que
se diz por si mesmo? Deveria, então, urdir-se uma meta e que esta se impusesse como
imperativo de postulações a priori? No entanto, o que se não proporá por este desvio
que aqui se prenuncia é A meta, pois antes vige e medra em nosso direcionar um
impreciso navegar entre uma esfera e outra. Sim: desfraldar o ancoradouro das certezas
que nos legou o modo de conhecimento ocidental por um diverso ou inverso fluir do
150
palavrear. Há que se instituir este outro cursar ao avesso não como o incerto, mas como
uma dimensão de possibilidades várias e ainda não palmilhadas pelas rotas seguras e
firmes do dominante pensar. Este se instituiu no Ocidente a partir de postulados estáveis
que conduziam sempre a um cais onde atracar através da via segura da verdade como
traço de união entre o conhecimento e a razão objetiva. Mas como aceder à verdade pela
via pavimentada pela palavra como espelho translúcido dos conceitos através da
objetividade e da razão? Há outros caminhares e um destes é o que se ousará como uma
proposição, tentativa e intenção sem um centro definido e definitivo: uma quadra de
ensaio. Assim, portanto um saber que, talvez nem poesia ou quiçá um filosofar, se sabe
somente ao se saborear...
A máquina do mundo forja na bigorna de sua engrenagem o mecanismo
que alimenta de objetos a avidez devoradora de retinas enceguecidas diante do ofuscar
das vitrines, dos tubos de imagem e dos monitores. Tudo é ânsia e desejo voraz de
compra por alívio de alguma fome não saciada. Cada ser comporta em si não mais uma
essência, mas um número que fomenta o otimismo sorridente das estatísticas. Assim,
estático o que vibra dentro do ser aniquila-se diante do enredo cruciante da morte a
incrustar na roda a ferrugem, mas que se finge ágil a custo do sangue que coagula nas
dobras de cada mecanismo a devorar um acúmulo de músculos.
Para manter assim a cena de arremedo do paraíso faz-se necessário o
discurso preciso das certezas. Em tudo que não fenece, em tudo em que vibre a potência
da imprecisão martela-se o ritmo uníssono e altissonante da precisão. Neste mundo de
aparatos o impreciso não vige, pois antes vigora a urgência de metas e problemas a
solucionar. Porém, nos meandros do labirinto da poesia ecoa-se um não-valor enquanto
algo diverso do mercatório através de uma permuta de sentidos inesgotável diante da
amplitude da existência. Nesta tudo é válido ainda que inviável. Se então a impediência
151
é o nada, como um desvalor a desequilibrar a balança comercial dos negócios, há que se
nadar rumo não ao mundo e sua roda de mudos, mas ao redor da moenda de signos.
Ígnea, entretanto, é a palavra que contamina de anti-ferrugem os hábitos e
vícios da linguagem. Contra as muletas de apoio que sustentam as lentes da objetividade
obtusa investem os poetas armados do vírus da poiesis. Se cada signo atolou na areia
movediça dos negócios imediatos que o aprisiona ao comerciar da cotidianidade,
cumpre a tarefa, talvez ingloriosa, de investir em uma outra valia que se transmute a
qualquer pronunciar, a cada escutar, a todo silenciar. O poeta meio ao rodamoinho de
cada dia desnuda cada significado de sua roupagem encardida e a reveste de silêncios
que dizem, desdizem e desmentem o que seja instituído e aceito como fronteira. Daí a
vigência da poiesis a nulificar o que se congela na língua, o que se petrifica na medula e
que se coagula como míngua da fala.
Ouçamos assim um poeta para que aprendamos a desaprender...
152
4.1- O EXTRAORDINÁRIO NO ORDINÁRIO
Diante do diminuto obliterado pelo olhar afeito ao correntio a poesia de
Manoel de Barros clama por um outro contemplar. Volver o perceber para o exíguo que
não se exibe ao imediato sentir sob a aparência do patente assim solicita essa poesia que
se faz presente quando se interna nos interstícios do invisível ao olho domesticado nas
rédeas do concordante. Torna-se, então, forçoso ao fazer do poeta o esmiuçar nas
mealhas da inânia o que ao parecer obtuso do conforme é sinonímia da insânia. Não,
porém, ao perscrutar indiscreto de uma poesia que se ousa como um des-fazer ao avesso
o que é serventia do fácil. Antes o físsil que se ramifica em feixes a serem re-colhidos
pelo manejar delicado de mãos que não rejeitam os dejetos onde repousa o inapreensível
de cada dia. Cabe vasculhar o disperso que eclipsa um advir inviso que exige outro
visionar. A premissa é que este não devasse o vi(ven)ciado com a lente de quem ousa
analisar tudo sob a ótica da exatidão. Inexatificar o certificativo e descertificar o
exatificado. Dessa forma não somente traspassar a fronteira da cotidianidade submissa
ao imóbil, ao imperante e ao inercial como interpelar os dados que nos são lançados
pelo regrar analítico do que se denomina objetividade. Aceder, sim, ao que é ex-cêntrico
e singular, mas que não se visiona de imediato posto que a adesividade ao resignante
incrustado no pensar rotineiro é empecilho a um livre exercício do voejar. Daí a faina
do afazer do Poeta. Há que se minuciar tudo ao avesso para a partir deste pressuposto
tornar, então, o cediço passível de poesia. Esta reside no adventício e no improvável e
não no certificante que se adere ao comprobativo. O atestado de veridicidade não se
aplica à erronia de um suspeito auscultar cujo despropósito seria o de não axiomatizar o
que se esquiva ao rotular preciso da nomenclatura, mas intenta um diverso nomear para
153
aquilo que se camufla ao nosso espanto frente ao inominável. O poeta repõe o impreciso
na vigência do viver que não navega pelo guiar da precisão. Poetar seria aventurar-se
nas veredas que conduzem ao que é equí-voco em busca do risco que reclama muito
mais que o isquêmico a corroer o germinar permanente. Se tudo se nuli-fica no ceifar da
existência, tudo se apodrenta, desvaece, palideja, ou seja, nada viceja no sempiterno,
nada vigoriza no permanecente, nada vige na constância, na imutação, então esse
tudonada, esse nadatudo se insurge por um acordar/desacorde em que o vivermorrer
incorre. Ao apodrir de um tronco a esvair a seiva da vida emerge síncrono o desabrochar
eviterno de um simples grânulo.
O que se considera como ordinário? Ordinarius significa posto por ordem,
disposto em ordem, conforme à regra, ao uso. Há uma diferença entre posto por e
disposto em ? O verbo pôr significa, entre várias acepções, fixar, estabelecer, dispor,
ordenar, arranjar. Posto por ordem implica em algo colocado, situado, fixado, arrumado
por ordem de alguém? Parece que sim, pois se algo foi arrumado, posto em ordem tal
ordenação ocorreu de acordo com a determinação de alguém. Este determinar se impõe
também ao se dispor algo em ordem, pois a etimologia do verbo disponère designa pôr
por ordem, arranjar, compor, regular, resolver, determinar, administrar, governar.
Conforma-se assim uma recolha que acolhe sempre em direção a um centro. Pôr e
dispor recolhem um sentido comum na ordenação. Mas o que significa ordem?
Ordo,ordìnis tem por origem fileira, alinhamento, ordem, arranjo, disposição. Pôr em
ordem implica, portanto, em estabelecer a organização de algo de acordo com uma ação
racional segundo a determinação de alguém a partir de certos princípios. O verbo
ordenhar também colhe os mesmos sentidos na direção deste feixe. Ordináre é pôr em
ordem, arranjar, ordenar, regular, organizar, fazer a ordenação de. Seria o ato de arranjar
as ovelhas em ordem que deu o sentido para o vocábulo ordenha? Ordenar e ordenhar
154
têm a mesma etimologia. Teria surgido daí o sentido de ordinário como algo vulgar,
inferior, reles, baixo? Ora no sentido originário de ordinário há a concepção de algo
conforme à regra e ao uso, ou seja, algo conforme ao costume, ao comum, ao usual, à
ordem normal. Observa-se que o sentido originário da palavra ordinário que indicava
uma ordenação tomou um sentido posterior que conota algo fora da ordem. Teria havido
uma depreciação do sentido do vocábulo ordenar a partir do significado de ordenhar
como trabalho braçal, ordinário, vulgar, afeito ao usual e costumeiro? Na tradição
ibérica imperou a desvalorização do trabalho manual, pois importaria mais à vida de
grande senhor um realce maior ao ócio do que ao negócio 139. No Brasil vigeu uma
discriminação aos ofícios de baixa reputação social e uma apreciação do trabalho mental
que não implica em pensamento especulativo, mas o relevo a um palavreado ostentoso
como traço diferencial da turba forçada aos trabalhos braçais. Esta desvalorização do
lavor manuário iniciou-se na denominada idade heróica dos aqueus em que aumentou o
distanciamento entre “o artista que trabalhava com as mãos e o poeta que trabalhava
com o cérebro” 140. Na Idade Média a cavalaria nutria desprezo pelo “racionalismo
econômico, pelo cálculo e pela especulação, pela poupança e barganha dos mercadores”
141. O desdenho ao ofício manual manifesto pelo cavaleiro é não-burguês e proveniente
da noblesse oblige.
Tecemos algumas considerações em torno da palavra ordinário, mas e seu
oposto? Ao vocábulo extraordinário apontam-se as seguintes sinonímias admirável,
divino, excessivo, excêntrico, inesperado, insigne e
memorável e a antonímia de
comum. Etimologicamente o prefixo extra indica algo fora de, além de, ou seja, fora do
que é conforme a regra, o usual, o comum, além de qualquer ordem, acima da
139 - HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. 22 ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1991. p. 10. 140 - HAUSER, Arnold. História social da arte e da literatura. Trad. Álvaro Cabral. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p.60. 141 - Id., ibid. p. 211.
155
concepção humana. Portanto, o centro deste feixe converge ainda para a noção de
ordem. Algo é extraordinário somente se situado fora de determinada ordem comum à
maioria. Esta é que determina que algo seja considerado como fora de seus limites
prescritivos. Estes são aceitos pela habitualidade vigente em determinados meios ou
podem ser impostos através de crenças, dogmas e valores de um grupo. Assim, somente
podemos definir algo como extraordinário a partir de um conceito que defina o que seja
ordinário, usual, habitual, corriqueiro e vigente como padrão.
Procuremos o rastro fundador da noção de ordinário em relação ao
expressar. Para Aristóteles a linguagem artística há que se pautar pela clareza sem
baixeza, pois se constituída de termos correntes será clara, porém baixa e será elevada a
poesia que reunir vocábulos que não sejam os usuais do vulgo 142. A linguagem
corrente, essa que flui e escorre no linguajar de cada dia, que saliva de língua em
língua, avessa ao regrar gramatical e contaminada pelas impurezas que impregnam o
falar é preterida por não alçar altitudes elevadas. Deste modo impõe-se uma divisa: a
linguagem usual não atingiria o estatuto poético, pois não ascende a um vôo de
amplitude mais relevante e a poesia para se efetivar como tal precisaria se afastar do
falar rasteiro para poder voejar. Deste modo prescreveu-se a partir da proscrição do
falar corrente um certo pensar que formou e conformou o fazer poético no Ocidente.
Portanto, qualquer inferência que se possa aduzir terá que ter como premissa o
questionamento ao valor instituído de ordinário, pois traduz, antes, algo construído
temporalmente.
Aproximemo-nos de um exemplário do ordinário. A lesma, pegajoso ser a
originar ojeriza à espécie intitulada sapiens, consubstancia-se ao divisar do poeta não
pela distinção do asco, mas pelo estatuir da existência na plenitude do viger. No
142 - ARISTÓTELES. Poética. Trad. Eudoro de. São Paulo: Abril , 1973. p. 463-4 (Os pensadores, IV)
156
indistinguível entre o venusto e o nauseoso avigora-se, ao deslinde poético, o enlevo
diante da vida. Esta se institui em tudo. O arrastar retardio a escrever na pedra um rastro
iridescente revela o preternatural que aflora na própria natura.
Vigem outras espécies de ordinário que desaparecem na aparência do que
se apresenta admissível ao que é diário. Assim é a garça. O descortinar alvejante do que
se reconhece como elegância a desfilar no fimbriar trêmulo do espelho d’água
representa-se na fiança que é concedida ao conceito aceito como beleza. No entanto,
neste mirar inquestionável repousa o comodístico, pois que se esconde no reconhecível
como belo um valor que se interpõe ao observado como uma lente a deformar o
visionado. Este se transforma então em um signo. A semiologia que se insere na
beatitude diante de uma garça configura alguns traços que se pautam pelo consagrado.
A branquidade aponta para uma relação entre o ideal de pureza e perfeição. Assomam-
se outros valores similares à brancura: a assepsia, a candidez, a inocência, a
virginalidade e a virtude. Tais atributos, no entanto, são aferições conferidas por uma
concepção humana?
Entretanto, não se infira que estejamos a propugnar um conhecer que se
estabeleça nas premissas de uma observação e descrição exata das propriedades
intrínsecas ao objeto, como se tal fosse possível. Tal ideal se concretiza apenas por uma
convencional taxonomia a que se confere o estatuto de científico. Não é isto o que um
poeta como Manoel de Barros parece perseguir. O que atrai o contemplar do poeta não
se refere somente ao branco que é implícito na ave, ao branco como branco destituído
de qualquer convicção assinalada, mas o vagar vagarento de um ser a nos ensinar uma
lição sem signos. Esta parece se constituir em uma didática ao avesso.
Para maginar tais vislumbres aberto na clareira do presenciar, seja o
vivífico no asqueroso ou o insigne no já designado pela habitude é forçoso ruminar de
157
dentro do ventre do tempo. É vital que o en-frentar não se filtre pelo funil de um certo
pensar, mas que o ser se inter-penetre no outro por um di-verso frontar. Este requerer
que se intima é fundamento de um exigir que se re-clama a um outro pensamentear que
não se con-forma ao cogitar enquanto divergência do sentir. Estes amalg/amam-se em
um con-fabular irre-vocável cujo inter-rogar não implica em um veraz, enquanto ancilar
do insuspeito, red-argüir, mas por um estipulante desregrar de um jogo que
permanentemente postula um infindável e indefinito indagar.
Daí a urgência, no sentido etimológico de urgére, ou seja, impelir e
perseguir, de uma didática que con-forme um multifário apreender, um siderado saber, e
uma singular compreensão. Rei-vindica-se, então, outro a-prender. Aproximemo-nos
desse verbo. Prender com-preende, entre outros, o sentido de tomar, segurar, atingir,
apanhar em flagrante. O a antepositivo ao verbo indica tanto aproximação, afastamento
ou negação. Desse modo pode signi-ficar atingir próximo, ou seja, um alvejar, atingir
um alvo, ou um afastamento desse alvo como ainda um negar qualquer alvejamento. Se
adicionarmos ao sentido dúbio de alvejar que con-diz com alvorejar como um branquear
que, por sua vez, remete ao alvorecer, compõe-se nesse con-vocar um quase exercício
do que se pretende dizer na exigência de um incipiente aprendizado.
158
4.2- OS LIMITES DA SUJEIÇÃO
Naturança? Então uma poesia na qual um poeta inter-verte a lógica
dominativa recicla-se pela indústria cultural como um rebento ecológico de uma
abstração crismada como Natureza? Assim é se lhe parece... Todavia há uma outra via
em que se vê um outro divisar. O avesso que se assanha ao se revirar o consabido se
propulsiona por um divergir necessário designado por uma ótica que propugna um
discorde demarcar. Este então se desvia pelo atentar ao que o poeta escreve e não ao que
o olhar de quem o lê se escraviza ao procurar escavar paraísos intangíveis, portanto,
inatingíveis ao contato humano, onde somente se encontram rastejar de lesmas, gosma
de caramujos, apodrecer de madeirames, enferrujamento de alumínio. Neste afluir entre
o viger e o derruir ininterruptos em que o mínimo e diminuto ao perceptivo domesticado
é alijado da perspectiva letrada o poeta peneira e transmuta o correntio em um discorrer
que não tergiversa o essencial ou superficial, ou seja, tudo o que consiste na existência
interessa ao SER humano. Assente-se que ao tecer um rendilhar que se consubstancia
em uma tessitura dócil ao enlevar-se com o cenário que exubera ao sentir, ainda assim
esse poetificar tecla acordes para acordar o que fala, ou melhor, o que pensa que fala, ou
ainda, o que não pensa e fala na dimensão não mensurada por um censurar que se
adstringe ao censo, ao senso comum e ao incensar da ciência. Todo o percurso
barrosiano resvala para a palavra, portanto, para o humano. Esta é a força motriz de um
fazer que se funda no humanizar e este é partícipe do controverso, do que discrepa,
daquilo que se confunde e se afunda no infindável.
Desde o principiar o poematizar barrosiano adscreve ao escritural buscante
no identitário o sanguífico humano, diverso do mítico, como consagrante posto que pó
159
como tal se esboroa na poeira do tempo. O desremelar o olho do menino se anuncia, –
Vai desremelar esse olho, menino! (PCSP), então, não como advertência para o
enunciar do que é regrante, mas de um advir a um ver advincular a um indiviso devir.
Pauta-se assim um poetar que não firma uma divisória entre o vivencial e o imaginante.
O descarnado do palavrear lexial e enjaulado nas molduras e brochuras de um bem dizer
é maculado com a nódoa do dia a dia em que viceja a meninice não como recordativo
registrável, mas como vivificante pulsar que permanece como vigor. Desnecessário
dizer que humano...
A cotidianidade, herança modernista, é repisada como solo fundador de
uma poética que vasculha desde o inaugurar um atentar para o não prescrito. Deslustra-
se o lírico de cristaleira para perlustrar o que é palpável embora imponderável. Tal qual
o frustrante que se impõe ao expectável e interpõe o risível como desfazimento do
antecipatório impeditivo do vislumbre do advir, a poética inaugural de Barros reprisa o
modernizar ao se desviar da imponência figural do Poeta e abjura o dote providencial da
vidência sobre-humana. Uma poesia que ainda se adstringe a um desfechar conclusivo,
porém que introjeta no terminativo o epilogar sarcástico. Esse prosaísmo limítrofe da
narrativa oral não se funda no experiencial coletivo com vistas ao pedagógico, ético ou
moral, no dizer benjaminiano, mas antes ao entendimento do humano em sua inteireza,
ou seja, na complexidade do antagonismo complementário entre o excelso e o usitado.
Poderia Barros remanescer no airoso, no especioso ou na aparência de
pulcritude do que apetece ao paladar da urbe letrada que consome literatura, mas
preferiu o desvão onde se despejam a trastaria e o imprestável. Disforme ao
padronizável pela fôrma da convenção do lirismo recusou-se a copiar a tradição forjada
em flor, olor e luar. Antes contravém com o inusual em que casa o azulejar de um céu
quase anilar com o mortiço de coisas em decomposição e dissipação. Repele o pitoresco
160
das tinturas bucólicas que apascenta leitores ciosos de exotismo e curiosidades para
vasculhar entre os detritos a joeira em que acasala, ao invés de desunir, o anojoso ao
aliciante posto que ambos uniaxiais como faces inversas do viver. Vislumbrar no que é
húmile a altanaria do que se despe do artifício é reencontrar o natural não na aparência
fácil do reconhecível como aprazível, mas desvendar como um descascar o que esconde
no trivial as sutilezas do inapreensível ao nosso avaliar. E isto tanto vale para o
palavrear como para o que o olhar do poeta retém. O apreço pelo que se tem como
contemptível é práxis de quem comunga com o humano em suas atribulações mais
estranháveis ao consensual. Portanto nada difere em grandeza daquilo que é imanência
ao existir não apenas como palavra, mas no lavrar destas como meio de louvar o que é
livre de designações definitivas. Daí o invencionar como instância constante de um
fazer que se funda como matriz de um reavaliar nosso ver, nosso viver, nosso haver.
Os primeiros passos poéticos de Barros são interventivos no sentido de
interferência no que se designa como real enquanto adstrito ao perceptivo e factual. No
entanto observa que mudar o mundo não se confina ao modificável das condições do
que é contingencial e tangível, mas atuar no factício do devaneante. Este se funda pelo
investir em um linguajar que não constranja ao meramente administrável, mas no que
revista o palpável do que se constitui como essencial quanto ao ser. Assim o escrever
poesia torna-se tarefa de transformações mais profundas que atingem a visão de mundo
forjada na lógica em que não viceja o contradizer, mas apenas o firmar e o afirmar de
um aspecto do realizável. Entretanto, se o inverso, o irrealizável, ou o não acontecível
consubstanciam o poetar no formular aristotélico em oposição ao historicístico enquanto
atinente ao relatar factual, a propriedade do fazer poético não se determina ao
invencionar como atuação destituída de intervenção no real. Se há mais mistérios entre
161
o celeste e o terreno a indeterminação do real abrange amplitudes mais inextrincáveis à
nossa compreensão.
Diante disso o poeta rescinde o contrato selado pelo senso e, por não
condescender e ser submissivo com o encontradiço na usança, dissuade-se por um outro
dizer. Se mais acidental, pois que intercadente, face à ascendência oficial do saber
dominante a poesia barrosiana resolve assaltar a sintaxe e a semântica para reviravoltear
o assente e votar-se ao adventício do subitâneo.
162
4.3- O DIZÍVEL DO POSSÍVEL E O CONCEBÍVEL DO IMAGINÁVEL
Poesia é voar fora da asa (LI).
A poética de Manoel de Barros versa em grande parte sobre o poetar. Dizer
a natureza é ousar a poiesis a re/velar-se na instância do próprio fazer. O voejar é
elevar-se acima do condicionante racional que determina ao pensar um separativo do
sentir. Se poesia, portanto, necessariamente o voar. O inverso se atém ao rastejar que
evita o hastear às altitudes mais elevadas com o objetivo de cativar o ser ao domínio do
calculável. A poesia, entretanto, transita do compossível ao impossível e não se atém às
raias da circunspecção. Tudo o que consiste e constitui existe em poesia na inteireza
conjugante a congeminar em dialogismo o divergente. A redução do real ao numerável
não se refugia no âmago da poesia. Esta aduz ao que não se traduz em um dissertar a ser
convertido ao convencível mas pro/duz (conduz para diante) uma discência avessa à
vigência do estimável enquanto atinente ao contar como cômputo, mas como um
dis/correr, per/correr para várias partes, perfazer, efetuar.
Tirar os pés da terra, aturdir e atordoar o sentir, restituir o sensificar ao
sensório e ao pensar, sopesar não apenso ao aquilatar, mas um dilatar tal qual um
prorrogar, prolongar, pro/vocar o voar a bulir (ferver), embolar, enrolar, engrolar cada
palavra como ave a velejar ao vento do inventar é intento do poetar barrosiano. Fora da
asa amplia, acrescenta ainda mais o voar. Se este indefere o deferível do viver em
segurança, não condescende ou é complacente com o apaziguar que seja sinonímia do
pacificar enquanto adormecer diante da inquietude e recusa o que condicione o fazer à
realização do contabilizável, há que se entender então como um auspício (predição a
partir da observação do vôo) não somente de um dizer a desatar, mas como um
163
desencadear a liberdade em plenitude. Fora da asa, pois além da fiscalidade, da
confinidade, do moderável, do dirigível, do restringível, do irrefutável, do retuso, do
regressista, do gramaticídio, do comodístico, do condicionalismo, do arrazoamento, do
perficiente, do comprovatório, do apodíctico, do categórico, do conclusivo, do
terminante...
Posto que ilídimo violar o legislar vigente, a licitude espreita o agir, o dizer,
o fazer visando o manutenível conformativo ao moldável. A república platônica
preconizava o velar do convenial que assevera ao acômodo um perdurar infindável com
a prescrição, sem remissão, do poeta ao exílio. O diferível linguajar metamorfoseou-se
na hodiernidade em um auto-exilar em que no claustro de um palavrear impróprio ao
mercar o bardo brada pela libertação ainda que a tardar.
A exercitação de um voar não propriamente desalado, qual um vogar
desprovido de velame, mas um alçar do solo embora solidário ainda a este, en/volve um
viajar ao avesso: do viário no qual o viandar corrente convive, como em um viveiro
ínvio, o viajor inventivo, avícula implume, desvia-se. Avia, então, um adverso
vivenciar: esvoaça do haver trivial, do ovo do óbvio, do hirto da ortótes, da convicção
da doxa, da intelecção paralítica em direção a uma complexão multíflua, multifária,
multíplice, multívoca. Evola-se em um desvanecer que não mais acumplicia com o
territorial enquanto adstrito ao distrital, mas com a estesia do terpsicórico que oscila
entre a sola e o solar. Ou qual ícaro a encarar o que um heliófugo se preserva de ousar.
Poesia no com/parecer de Barros transcende o voar. Mais que asa a Poesia
requer o arrojo de quem não se sujeita ao rastejar, ao envilecer, ao aviltamento do ser.
Não subscrever o que reza o razoar nem se subjugar ao usante zurrar e zoar visa a
Poesia além de A ou de Z. Na voragem sem azo a aduzir ao zênite ou ao nadir, adejar
até nadificar no devir.
164
A imagética do contradito que funda a poética barrosiana configura-se em
microcosmo no dizer que poesia é voar fora da asa. Se a propriedade do voar, impróprio
ao humanal, implica no atributo de ter asas, natural ao animal, como entender que tal
possa suceder sem a condição necessária? Há que se compreender que se trata de um
verso, tal qual o símil da figuração pictórica privado da respiração, e não de um tratado
de ciências, o que supõe um imaginar sem o decreto de ajustamento confinante às
dobradiças do real. No versejar arpeja um desdobrar em politomia que no desliamento
de nosso sensório se apresenta sob uma perspectiva multiangular. Alice nos mostrou
isso em um voraginoso entranhar adentro do outro lado do que há.
O que se contorce, destorce, distorce na poesia de Barros é o conceito
fantasioso de real. Poesia, então, não como espelho telescópico ou lente microscópica a
detalhar a exatidão certificativa dos conceitos, mas uma janela em esguelha na qual se
descortina, por um dizer avesso, um esgueirar em arpejo, o defectível, iniludível e
inimaginável do que É. E do que Não. O dizer da poesia barrosiana condiz o indizível
não sob o crivo do translatício ancilar do reconhecível, mas com o enunciável que
concebe o inacessível dissimulado naquilo que é visível como contradição. No adir do
que é diverso converge o con/fundir que funda o infindável do advir. Re/unir, re/colher
o que se espalha e centelha no assinalativo do folhear permanente entre o amanhecente e
o ensombrear nas entrelinhas que o olhar condicionado não percebe a concepção do que
está inscrito.
Dar asas também ao impensável arroja o imaginoso no magicar da poiesis.
Içar as solas do solo e desenliçar os enlaçamentos e liames dos cadarços para alçar
elevações acima do sonhável. Assim, sonhoso, a esvoaçar fora da asa, do causal, do
razoável arrisca-se o poeta acima da mediania para acenar, assinalar, anunciar e
enunciar o esquecidiço à sombra do insigne. Se esse sustém o atestatório cujo objetivo
165
é uma progressão como sinonímia do aperfeiçoar da condição humana, entretanto,
sucede o inverso que encerra e encarcera o saber à retenção de conceituações insípidas
que se sentenciam como ciência. O vero torna-se o ver como superação da crença e
comprovação do conhecer enquanto in/formação. Esta, no entanto, de/forma com o fito
de con/formar o confirmativo e atestatório como normativo, demarcativo e impositivo.
Desumaniza-se a essência do ser nas sobras de um sabor que há que se dessaber. Sorver,
então, na senda da insciência uma agnição que seja um elevar-se a exceler não como
celsitude, mas dissipar-se em um imperecível sobrevir. Este não se aprisiona ao
pre/visível mas ao adventício do inaudito, do mírifico e do subitâneo.
A poesia é como a boca dos ventos na harpa (MP). Pauta-se mais pelo
inapreensível que não se escreve no pentagrama do que pela subscrição ao regrar da
gramática. Música que alicia (acaricia) a dedilhar idílios, milhares de lírios no miolo da
íris a de/lirar. O salmodiar odes e rapsódias do bardo modula-se mais pelo ritmo do que
pelo rimário. A regência e condução da poiesis seguem gerência musal. Cadencia-se
pelo compassar concertante e consonante de uma execução sem notação, sem solfejo,
sem teoria: harmoniosa afinação com a essência do ser. Arranjos de acordes em
contrapontos concordes a tanger o movimento que rege o desconcerto do mundo. O
uníssono em sintonia a soar e entoar nos intervalos do universo a polifonia do silêncio.
O retinir do diapasão da poiesis em surdina a percutir um timbre a vibrar muito mais
que sustenidos ou bemóis em sintonia com o assobiar de sabiás.
Dentro da mata no entardecer o canto dos pássaros é sinfônico
(CCAPSA). Que importância há de ter isto?
As coisas sem importância são bens de poesia (MP). Im/portar é o ato de
trazer para dentro, para si, como para um abrigo, uma recolha que se reúna em um
interior guardado sob proteção. Entretanto, o que importa em um mundo que admite em
166
seu introduzir somente o repositório de pertences é o realce da noção de bem que
reveste o conceito antes atinente a princípios propícios ao aperfeiçoar ético com uma
dissímil significância. Esta não se dissocia mais da concepção do seu inverso, o mal,
nem sequer se ousa associar, por exemplo, à fruição fortuita do tempo, que se converte
em investimento imediato, mas anseia pela posse do que é valioso, vultoso, quantioso.
O bem não mais se singulariza, pois a multiplicação dos interesses distorce o conceito
do ser na condicionante coercitiva do ter em que o adicionar torna-se o cerne da
vivência. As ações ao invés de intenções do sujeito da proposição passam a se constituir
em índices de cotações em um incessante movimento cuja preocupação é somente a
oscilação e liquidez da bolsa. Investimentos só contam com a segurança dos benefícios.
Desse modo a audição do silêncio, tal qual a estesia desinteressada na apreciação seja de
uma sinfonia ou de um pássaro, assinala-se como desperdício.
Na cidade o silêncio avilta-se (CCAPSA). No transacionar de valores pelo
qual passou a se regular a existência, o juízo cede à exigência de valência de uma
aplicação como sinal de caução contra qualquer prejuízo. Não se concede recibo de
quitação a quem emite ações ordinárias de poesia... O poema é antes de tudo um
inutensílio (APA).
Poesia, s.f. Designa também a armação de objetos lúdicos com emprego de
palavras imagens cores sons etc. geralmente feitos por crianças pessoas esquisitas
loucos e bêbados (APA).
O desimportante a que o poeta atenta atina para o que é tido como desútil,
como o brincar das crianças. Este ainda não se atém ao divisionário de um margear que
delimita o contorno que confina o acessório ao centro do que se decide como
necessário. A criança exerce o criar, o produzir, o fazer, a poiesis como instância
indissociável do seu constituir intrínseco e não se policia por uma conceituação que
167
estabeleça o domínio do inadmissível sobre a supremacia do ser. Adversos a isso por
não se sujeitarem ao compromissivo da consciência com o princípio da realidade
reagem os que se entregam ao êxtase ebriático, aqueles que se colocam na posição do
que seja excêntrico e os que se fascinam com o alucinar e aluamento dos lunáticos. O
imaginário não é somente uma atribuição passageira a que se tem de superar para
conceder espaço à vigência do necessário à sobrevivência, mas se constitui como
propriedade essencial do ser. Por perseverarem nessa disposição avessa ao alinhar
consensual e receberem a qualificação de desviantes a estes se associa o poeta. Como
fazedor de sandices, necedades, tolices e parvoíces alia-se aos alienados alijados da
produção em resistência e defesa da necessidade da invenção. Artífice da palavra
articula um outro discurso que prefere correr para diversas partes e em várias direções
do que se imobilizar no fixativo e no categórico. Ancípite comparticipa
simultaneamente do léxico e do invernáculo que em permanente diálogo sustém a
linguagem em um movimento dialético entre o dizível do possível e o concebível do
imaginável. Tudo aquilo que nos leva a coisa nenhuma e que você não pode vender no
mercado como, por exemplo, o coração verde dos pássaros, serve para poesia (MP).
168
4.4- AO ALINHAVAR DAS PALAVRAS
era de profissão encantador de palavras (GEC).
Na avessia do producente, enquanto serventia pela eficiência, praticidade,
prestância e valência, o poeta professa um desconcordante fazer. Desavém com o
consenciente para religar o que se relegou ao desterro. O menosprezável, o despiciente,
o menoscabável que padecem o desmazelo do deferimento geral por exercerem a
contraversão ao consentâneo revertem-se sob o auspiciar da poesia. Se o poeta ressalva
e salvaguarda o vilipendiado, também expurga o plausível não para a corrigenda do que
seja erradio, mas para modificar (moderar) e acendrar a assimetria do mundo.
Mundificante é o seu agir por um detergir no ágio da linguagem que se desajunta, então,
de seu aspecto dispendioso e se avém ao vagir em desvario.
Não quero a boa razão das coisas. / Quero o feitiço das palavras (RAQC).
O pre/dizer poético do vate não se atém ao profetizar, mas a um pro/duzir
encantamentos diante do que se di/visa como realidade. Pre/vê e ad/verte à dominância
do circunstancial a importância do circunvagante em errância de um reverso dizer que
a/ventura o sortilégio do imaginante. Como pro/vocativo con/voca um desalinhamento
lexical para alinhavar uma pro/visória dis/posição do dizer em uso que se altera na
alternância de um incessante transfazer. Nessa adulteração do designado pro/move o
re/visar do con/diciona(riza)do não para a assolação do con/firmativo ou sequer a
subjugação ao intimidativo, mas tenciona restituir o dubitativo do supositício à instância
infirmativa do pensar. Entretanto, o novedio desse enovelamento nocivo ao
conformístico não reedita o raciocinativo como atribuição categórica do ser, e sim,
solicita a pro/cedência do imaginativo. O arrebatamento via linguagem alicia um
169
en/cantar contrário ao contar enquanto calculação e a qualquer ilação conclusiva.
Consigna, assim, como insígnia não a redita do signi/ficativo, mas esquiva-se por um
outro desígnio: o inventivo sem divisa.
Palavras fazem misérias inclusive músicas! (MP). No invencionar
insubmisso o vate palavreia um ventejar proximal do musicante. Sou puxado por ventos
e palavras (LI). Ao ir e vir ventígeno das palavras o poeta adeja em um multiplicativo
de claves qual ave em voejo sem azo ao azulejar do alvorecer. Na vertigem do devanear
os vocábulos em revoada aviam um indelével devir. Não tem margens a palavra (APA).
Muito além do glossário o poético não se rege pelo cogito especulativo, mas por um
impresumível dizimento que não se confrange ao limitâneo do inteligível e sim por um
linguajar circunjacente ao musical. Mais que um melodiar anódino, aliviante e paliativo
a poiesis se pauta pela dissonância ao concordável enquanto dominância do apático.
Infenso a isso o dizer poético se vale do léxico para re/volver ao início em que a
simbiose entre o simbólico e o sonoro/ imagético ainda não se dissolvera no conclusivo.
Eu escrevo o rumor das palavras (LI).
Reverencial ao silêncio o poeta ausculta o múrmur que cada vocábulo
consoa em um cadenciar que esboça a sussurração do ser. Em poesia, então, translada o
que é inaudível ao perceptivo prosaico e transmuta-o acordante ao tanger da lira e
incôndito ao monitorar da gramática. Quebranta o regular para recuperar o
inaugurativo que se prenuncia a cada pronunciação. Cônsono ao passarinhar em
cantilena ilumina-se ao plumário de cada poema.
Mas pode uma palavra chegar à perfeição de se tornar um pássaro?
(CCAPSA). Se a toda palavra convém um significar, o esvoaçar que lhe seja possível há
que preterir qualquer vínculo ao crível para que a modulação poética alcance sustenidos
acima do soez. Soabra-se assim em quase asafia a desentoação ao dizer cotidianizado
170
reduzível à alalia. Advincular ao lídimo lexial a palavra avezada não é voante nem
sonante, portanto, ao pássaro não pode se assemelhar ou sequer ser comparável.
Todavia se ao condizente imperativo do arrazoar se ouse uma desaliança do cogitável
então é pensável, senão o perficiente, mas o perfectível, o possível de um adejo.
Há que apenas saber errar bem o seu idioma (LI).
Humana e não atinente à animália, a linguagem, domicílio do ser, necessita
de uma reinvenção para que se alcance a qualidade volateante. Se o impreciso do
devanear não é preciso tal qual o matematicístico, outro pensável se pretenso ao
altitudinal precisa se destituir do gravitacional para se evolar. O enlevamento possível
ao poeta se constitui, então, pelo desatino em relação à vigilância da língua. Libertário
em um fazer ao revesso o dizer, tanto o lambuzado pelo vulgo como o vigente nas
gaiolas dos gabinetes, o poeta elege o errático. A deviação do convenível ao convivial,
no entanto, menos que um destrutível ato de desintegração do linguajar, postula uma
retroação à essência do ser pela reabilitação da capacidade de vagueação.
Notei que descobrir novos lados de uma palavra era descobrir novos lados
do Ser (CCAPSA).
No achamento ao se tornear e se internar no véu de uma palavra desvela-se
não somente o ser, mas o multilátero da linguagem. Vagar é andar errante e também
estar vazio, ser livre; ser isento de (tarefa, responsabilidade etc.); ter tempo para.
Desvelar é ficar sem dormir ou retirar o véu. Tornear tanto remete a torneio, justa como
dar a volta ou ainda modelar ao torno. Justa pode ser uma disputa, uma taça e a noção
de justeza. O deslindamento vocabular se não desvenda a proveniência, motivação
perseguida por outras ciências, intenta (estende) para outra tenção: o enramar indefesso
e envesso ao engessar dos sentidos. No secesso de um significado instaura-se um
secionamento que rebenta em um ramificar ininterrupto na expectação do recolhimento
171
de uma colheita. Para frutescer o poemático a estrumação ao semear se intima como
condicionante ao poetificar.
Palavras têm espessuras várias: vou-lhes ao nu, ao fóssil, ao ouro que
trazem da boca do chão (GA).
A semeadura do poético aduz ao entranhar no reconditório de cada palavra.
O paradoxal de um dizer que aspire ao áleo versar pelo embrenhar no breu de cada
brotamento verbal se desencerra pela recognição do elo interjacente entre o terrâneo da
significação e o celífluo da invenção. O contraditório se concilia no complementário do
que é opositivo e o físsil entre a levitação da plúmula e o abscôndito do terreal se
equaciona, sob o inventivo poetizado, no esvoaçar da palavra feito papagaio de papel a
alçar o céu atado a uma linha que permanece no solo. A tarefa do impoético, por sua
vez, não compactua com a ambigüidade, pois firma a certificação da inequivocidade.
Palavra poética tem que chegar ao grau de brinquedo para ser séria
(LSN). Por ser poética quanto mais dista do certificativo mais congraça as disposições
em contrário. Concebe que o circunferente dizer a se curvejar ao a/ludir, discrepante do
retilíneo referir, comparticipa do quadrático que crisma o desalegre. Confluente ao siso
a ajuizar em circunspecção vige o divertir (divertère) cujo divergir, separar-se, ir-se
embora, ser diferente do engravecer constitui-se não como anverso ou reverso do
numismal, mas por um nivelado valedio em que o exergo em cada lado conforma-se
como bifacial. A obvenção de um fazer, a poiesis, que se convém na adjunção do que é
incompatível, não transige, entretanto, com um proceder gerenciado pela lucratividade
do utilitário, feito o fabrico armamentístico. O que, no entanto, não lhe confisca o
condão que lhe concede lograr o que se constrange como severo e alegar de modo
fingidiço, alegrativo e lúdicro, o que se revela como suscetível de se avizinhar ao vero.
172
O que eu queria era fazer brinquedos com as palavras. Fazer coisas
desúteis (LSN).
A lida do poeta é um i/ludir e não um litigar, um laborar ou um labutar que
se reduza a um quefazer. Ser lido no entrelinhamento palimpséstico avia-se como alvo
de um dizer no qual inscreve as palavras não como um afazer azafamado, porém afeito
ao criar de uma criança. A desutilidade da poiesis não é mensurável quanto à valia, pois
que sequer se condiciona a qualquer dimensionar, mas por ser inservível enquanto um
condizer controverso a conduzir a nada.
Li uma vez que a tarefa mais lídima da poesia é a de equivocar o sentido
das palavras (EF).
O nascível através da poesia é uma nulidade para todo saber que alicia o
asseverativo como óbice à dubitação. O convívio do inafirmativo com o precisar em
tensa conferência no dubitativo infirma no poético qualquer fim que se queira justificar
ao inquirir. Resultar não se exige como imposição à poetização que se vale do dúbio, do
indeciso e do infindo, pois menos que o pontuar testificante importa mais o con/fundir, a
imisção de sentidos. No pomar do poematizado não se mantém quedo o signi/ficar visto
que em seu território quais aves migratórias as palavras não cansam nem descansam,
pois estão sempre de passagem a viajar nas asas da linguagem.
Ao fazer vadiagens com letras posso ver quanto é branco o silêncio do
orvalho (RAQC).
O exercício da desocupação a que a poesia persuade anuncia um ocupar às
avessas: o apoderar-se, o assenhorar-se do direito de não se sujeitar. (Objetivo quase
inglório meio a uma sociedade regida pelo agendar de todos afazeres). O poeta sequer
se apossa das palavras, pois estas pertencem a todos e a ninguém por serem erradias.
Por não se radicarem no sedentário de um saber arraigado ao irrevogável as palavras
173
induzem ao multívago da poesia. O artifício desta não consiste em uma ocupação no
sentido de ofício, mas em um oficiar no qual a urgência a que o tempo se reduz se
preencha de vaziez. Vacuidade que designe tanto o que nada contém como o que está
disponível a ser livre. O interregno entre a renúncia ao reinado do real e a instauração de
uma impossível utopia, o poeta impregna com o dilatar do inter/lúdio. Decide, então,
e/ludir o legitimável que sonda o olhar a realidade pela con/versão do indúctil das
palavras ao reduto do in/crível.
A poesia está guardada nas palavras – é tudo o que sei (TGGI).
Sabedor que seu realizar não se abaliza pela regência do existir e sim pela
vigência do in/existente, do in/exeqüível e do in/exato como con/viventes na
ambi/valência do que é coalescente ao que há em co/essência, o poeta não reduz o real
nem ao cálculo ou ao lexicalizado, mas aduz à florescência de cada palavra. A
efluência desta não se dá pela absência e sim pela confluência multivalente de sentidos.
Nesta proliferação a poesia encontra seu cultivo que o poeta há de saber semear, mesmo
que arredio ao sulcar, pois que ciente das in/significâncias atenta que seu fazer é um
mero brincar a sério com o intangível fingir das palavras.
Agora só espero a despalavra: a palavra nascida para o canto – desde os
pássaros (RAQC).
174
4.5- DIDÁTICA AO AVESSO
O chão é um ensino (APA).
Por desatinar ao que as palavras condicionam e vasculhar o restolho que
delas se desacolhe o poeta expecta a despalavra com que há de compor seu cântico.
Como alcançar o pipilar próximo ao de um pássaro? Pelo imitativo? Essa é a senda dos
que somente percebem o que aparece no que é soante e não no que se constitui como
intrínseco ao cantar. Outra ensinança faz-se necessária para se chegar ao estatuto
cantante. Há que se abrir ao germinante, ao brotamento e ao desabrochamento para se
apreender o inaudível ao perceptivo. A lecionação que o chão providencia aos que se
dispõem à aprendizagem exige o desprender, a deslembrança e o dessaber como
primícias.
- O poeta é promíscuo dos bichos, dos vegetais, das pedras. Sua gramática
se apóia em contaminações sintáticas. Ele está contaminado de pássaros, de árvores,
de rãs (GEC).
Para desaprender o poeta torna-se cúmplice de tudo que é animado,
vegetante ou mineralizado. Ao se promiscuir ao inumano enjeita a racionabilidade que
impinge à linguagem o desimaginativo como absoluto suporte ao sentir e pensar. Por
isso desalgema-se de qualquer sensaboria encenada na ensinação oficial. O gramaticídio
de seu desdizer infringe o semântico, desvertebra o sintáxico, descoordena o oracional e
insubordina o discursivo. Esta conspurcação do vernacular, mácula à gramatiquice,
ponderada sob outro ângulo evidencia a expurgação dos preceitos que regulamentam o
normológio da linguagem dominante. No desaviamento ao que é confim ao corretivo
175
reverencia o que não se acorrenta ao enclausurar do glossário e da língua para
desemudecer o humano e reconduzi-lo à sua índole mais sublime.
Não tive estudamentos de tomos. / Só conheço as ciências que analfabetam
(LSN).
A gnose que a poiesis possibilita pressupõe o descondicionamento de todo
saber pretenso ao estabelecimento da estabilidade. Finítima à ignoração da infância
move-se na oscilação entre o desconhecer e o vivenciar. Este, contudo, participa do
imaginativo que não se concede à sistematização metódica do científico. Fundamenta-se
este no comprovativo da universalidade de leis inconciliáveis com o subjetivo, enquanto
o poético dessujeito do sistemático constitui-se na presciência e no adivinhar.
Quem acumula muita informação perde o condão de adivinhar: divinare. /
Os sabiás divinam (LSN).
A informação desperdiçou o sentido da ação de formar e fazer para se
transformar em con/formação ao confirmativo. A poesia deforma e infirma o afirmativo
do saber como sinonímia da retenção do conceitual para se obstinar na consecução do
incompossível. Da confinança ao provável da ciência é diferençável pelo divinatório
que, no entanto não se cativa ao previsível enquanto o esperável concordante com o
cognoscível, mas ao antecipatório do improvável. Antecede por um pressentir em uma
antevisão que não se determina como prognóstico na observação dos fatos, pois
ultrapassa o visível do expectável por uma compreensão insciente do sentencial.
(...) os poetas podem compreender o mundo sem conceitos (EF).
A instrução que o poeta prenuncia funda-se na premissa do desensinamento
de tudo que possa se tornar impediente ao ser. Para desobstrução disto é defensor de um
conhecer não submissivo ao conceito que se torna uma contenção quando interceptante
do que possa ser germinado. O poeta testemunha que o universo pode ser apreensível
176
pelo versejar e que este é conversível ao agnicional contanto que este se distancie da
dimensão conceitualizante.
A ciência pode classificar e nomear os órgãos de um sabiá / mas não pode
medir seus encantos (LSN).
Desmesurar e desbatizar conjuram a práxis desta didática ao avesso.
Reeducar-se pelo assistemático para reabilitar a condição precedente ao semiótico
en/volve uma retrocessão ao primevo. Esse retornamento à anterioridade ao retórico
pressupõe, por sua vez, o avançamento em direção à reeducação dos sentidos. A
exoneração do palavroso evita a cultivação, amanhação e medrança de uma servência ao
compreensível pela via do denominativo. Ressuscita-se, dessarte, o amanhecente
comparecente ao ser.
Para enxergar as coisas sem feitio é preciso não saber nada (RAQC).
A didática do insabido não se funda pela aniquilação da contradição, pois
afiança o inverossímil, o invivido, o inconexo, o incogitável, o inclassificável, o
incaracterizável, o inaveriguável, o inauferível, o impronunciável, o improducente, o
improcedente, o impresumível, o impercebido, o ignorável. Intolerável a esse
conhecimento torna-se a incoexistência dos adversos, pois que tudo é implexo. Se nada
é incomplexo a poesia interverte o modo reducente da sapiência incomplacente com o
incognoscível da intuição e não intercepta o impendente, o incausado e o ilusivo.
Se a dissensão ao assertivo da designação sucede pelo negacear tal não
significa, no entanto, o anulamento da positivação e sim que esta é compleicional com
sua antítese em uma dialética complementar. Assim o incaracterístico não consiste na
simples negação do que qualifica o caráter distintivo como centro absolutizante a definir
o caracterizante e sim como um traço diferencial diversificante que, entretanto, se
177
constitui como o mesmo somente que na alternância da alteridade. O verso e o reverso
se consubstanciam em uma unidade indivorciável.
Só quem está em estado de palavra pode enxergar as coisas sem feitio
(RAQC).
O indistinguível, o que é indivisível, inseparável se revela ao fazer que
realiza um movimento inversor de retrocessão ao inceptivo. Tresandar ao indesfeito
compreende o que provém da poiesis. Avista-se por este sendeiro muito mais que o
indiciário do dicionário. Vestígios e laivos do ilegível se desvendam ao ultrapassar o
vestíbulo do vocabular. No entanto, sob a mascaragem que esconde o estado larvar da
linguagem especta-se o espectral do signo. Somente empós a transposição do átrio da
designação estigmática atinge-se o nervo da palavra e se entrevê o inviso do inexistente.
Súpero ao obsidiar lexicográfico o visionário torna-se internúncio do que é interdito ao
entender habituante.
Acho que a gente deveria dar mais espaço para esse tipo de saber. / O
saber que tem força de fontes (RAQC).
Dispensável ao adquirente de um aprendizado prestante, porque profícuo,
todo palestrar, feito a luta com palavras, torna-se postulante à superfluidade. A demasia
da poesia qualifica-se como insipiência, pois não possui prestabilidade ao mercanciar. O
conhecer compreende-se na acepção do adquirir, porém não pelo acrescentar e sim
como um investimento visante a uma aproveitação rentável. O poeta intercede por uma
perquirição do manancial, do fontanal e do original virgíneo ao estatuir designante
atingível por um desfazer retroativo em que a reentrância no recolhimento solicita o
reavivamento recuperativo do resguardado sob as camadas de cascas da palavra.
Um homem que estudava formigas e tendia para pedras me disse no
ÚLTIMO DOMICÍLIO CONHECIDO: Só me preocupo com as coisas inúteis (APA).
178
A solicitude da erudição em zelar pelo axiomático simula em ciência o
primordialmente coexistente com a arte. A cisão daquilo que desde nascença vigeu em
conjunção delegou ao poético a regalia da invencionice. Se esta se incapacitava à
remoção da ignorância prescreveu-se-lhe a propriedade da impostura. Ao científico,
então, competiu o inteligível e ao estético o sensível em deliração. Remover tal
sentenciar envolve não somente o ato de erradicar a erronia de nosso pensar, mas em
promover o óbvio: o imaginativo não apenas como qualificativo do sensitivo, mas do
próprio ser.
Desarrazoar o arranjado para que surja do raso o raro rumoreja o poeta e
sua asofia. Cerceia o decisório para içar nos interstícios o lançado à força ao silêncio.
Alça ao aparecente o clandestino sigilado como insidioso e no desassombro a que
assoma o insurgente alumia-se a pétala do poema. Despoetizado o vivenciamento a que
sujeitam o ser arroja-se o versejador na vivenda do desassossego para revivescência do
invenal: a linguagem inventiva.
Há muitas importâncias sem ciência (LPC).
Inconhecíveis há saberes que não se decifram ao compreensível da ciência.
Extricável ao poeta o impensante não se torna tradutível ao nível do legível, pois pênsil
entre o creditável e o desacreditante transmuta-se em volante alegoria. Na lacuna do
legislável enviesa-se o perceptível ao dimensível em multidimensional ocorrência em
que o deperecimento do temporâneo se enlaça à supervivência do intemporal.
Exercível como ocupação incompreensível a escritura poética se compraz
no excursivo a que nada conduz, pois por não se estremar ao confim de uma exegese
tudo lhe é permissível. Contanto que não se atenha ao consecratório do probativo e do
contumaz nem ao mimético do realizável a poesia habilita-se a aventurança por
esconderijos os mais inexpugnáveis ao sapiente.
179
Uma singular assiduidade se faz necessária: não a freqüentação da língua,
mas a vigília à linguagem das crianças.
Como não voltar para onde a invenção está virgem? (TGGI).
180
4.6- NA FONTE DA INFÂNCIA
Para voltar a infância, os poetas precisariam também de reaprender a
errar a língua (GA).
O desestudo do prescritivo é requisito à desdoutrinação do que está sujeito.
A deseducação do somatório de saber desnecessário orienta o sentido direcional do
liberatório. Disposição inaugural à fazedura de tal propositura se constrói pelo
desformar todo confortativo da falação convencionada. Desescolarizar a língua pelo
desensino pleiteia aquele que flana pela linguagem. Concubino desta, entretanto, o poeta
descumpre a fidelidade marital prometida à língua e insemina ambas de uma estranhável
espécie de discurso.
O errôneo se rotula como tal somente se relativo à norma dizível, pois o
metamorfosear permanente impede a língua de se estatuar no paralisante. Ao não
adversar o impermanente, portanto, o Poeta procede conforme a dinâmica da própria
língua. O desjeito de seu dialeto não se perfila à guardiania do manutenível e imutável a
que se aferram os conservantes do mofento e do mumificante. Tal dialetar, entretanto,
convele (abala) o normativo, êmulo (rival) do movível, para devolver à linguagem o que
se legislou como desviante. Por isso o aproximativo ao infante, ao não falante.
Para volver à ineloqüência contemplante a que se recolhe a criança a
desvinculação do gramatiquismo é obrigamento de quem queira transpor as balizas do
desentendimento. Com o licenciamento acessível ao ininteligível aquele que se desveste
do nomenclatural atinge o estágio de elucidação do ainda não inscritível. Por
181
ignorantismo da etiquetagem decretada a tudo o infantil é um convite à reinvenção do
universo não pelo refazimento do perfectivo e sim pela engendração do inascível.
As crianças desescrevem a língua. Arrombam as gramáticas (LPC).
Escrevinhar o descaracterizado sem o talhar da usança consigna a alocução
da criança. Sem qualquer preleção sobre a validação do designativo em relação ao
experienciar ela transpassa qualquer impedição ao conhecer. Em seu maisquerer os
haveres aos deveres as crianças acatam um princípio: haurir até exaurir o diversivo do
viver. Sem consciência da noção de impedição elas ensinam à condição perecível dos
viventes a proeminência da vividez. Se de cada semínula se insemina outro ser como
envencilhar o vivificativo à mortalha do mortiço?
O falar infantil patenteia o purificatório não infectado pela gramaticidade a
ceifar o falante. Este terso (vernáculo) repositório, entretanto, não tem como se
preservar do perfilhamento ao préstito de atribuições que se outorgam às palavras com o
decorrer do tempo. O desafio a que os poetas se afinam é o de não afiançar o fungível
que definha o indefinível das palavras. Desaviam da habitude servidiça à dizibilidade
pactuante e segam o indevassável para colimar (visar) o diversicolor do
indicionarizável. Qual prestidigitador a coligir o resistivo incólume ao maculável do
vocabulário a criança prefere a propagação centrífuga da infringência ao panléxico a ter
que embelecer a fealdade centrípeta do redito. Ao desavir com o involucriforme do
vocabularizável não reitera a inflicção à inflorescência da inventividade. Na retiração do
empecível à imaginatividade o poeta aproxima-se da criança a desafear o feiúme do
fazível preceitual. Dizedores de coisas prestemente a se obliterar em deslinguamento,
de acordo com a perspectivação dominante, ambos se abraçam como prestímanos em
reconhecença mutual.
As coisas que não têm nome são mais pronunciadas por crianças (LI).
182
O traço convergente entre falácia, impostura, trapaça e o falsídico costuma
costurar-se ao poetizar no que tange à exatoria auferível da veracidade exigível aos
relatórios. Todavia, o poeta urde um tecidual residuário e policromático de sentidos em
uma irmanação impossível ao nominável mascarado de verídico. O denominacional ao
acumpliciar-se com o comunicativo como vacina preventiva ao vírus do fantasioso
alicia o revelável ao reduto do conhecível. A criança ao desinvernar o inominável
confere ao excepcionável a aura do inauferível que a credencia à exorbitância. O vareio
imaturo, entretanto, é tempolábil e logo é coagido ao corretivo pelos legisperitos do
marasmático.
Áugure do que é incriável o vate invenciona o invernáculo. Acriança-se sob
a égide da ageometria ao agerar um aluvial de vocábulos a confabular e involuir até a
silabação. Aluzir o obscurante à clarividência até o aluzecer da língua. O ingerminável
transmutativo no végeto aviventa o despertamento no vernante de cada verso. No
alcândor, cimo onde não alcança a horda em ordenança sob mordaça viabiliza-se, então,
o horático. Na dizimação da adultícia o poeta encontra a criança que fora. Torna-se apto
ao poemático.
Propício à infância o poeta torna-se um dizente: desguarnecido das azevãs,
lanças dos que pelejam com palavras sequer as exuma em seu dessistema de arborescer
o dessinalado. Desconsagra o vernaculizado para venerar o impecunioso na periferia do
locucional. O peculato ao domínio público se doloso sob a jurisdição da língua, contudo
estabelece jurisprudência que lhe concede habeas corpus e livre translação entre o
diafásico e a afasia do dizer. Desiluso do ditatório prescribente ao dizível, no entanto
não infama a anciania que sela o vocabulismo, pois resgata o proemial anteprimeiro ao
fúngico dicionarizável.
183
Uma palavra está nascendo / Na boca de uma criança: / Mais atrasada do
que um murmúrio. / Não tem história nem letras - / Está entre o coaxo e o arrulo
(CCAPSA).
Pendular entre a tartamudez e o balbuciar o parolar da meninice
sobreexcede o lexicológico pelo rechaço ao habitudinário das definidades. A
infecundidade destas embarga o improferível inatingível pelo repetitório talhante da
potência infinitiva do linguageiro. Tanto a vaniloqüência ecoante da logomaquia a
expungir neologismos e a derriscar o inconjugável, como o costumaz ao característico
repelem a infringência ao consolidante e a deferência ao incaptável. O recondicionável
ao incaracterizável auna o des/fazer do poeta ao ludismo da criança.
Se inexcedível parece o ossário de palavras com que o sorvedouro diário
nos assovina, adulterante constitui-se a auscultação da criança dormente no ábdito
emanante do ser, pois propicia tanto o desregramento emancipável como a
reflorescência do consciencial. Obsediante até a infinitude o poeta repulsa o inventário
consuetudinário, pois sempre beirante à fímbria do movediço aquista a indenidade de
descativar o indenegável que se desanuvia a quem se determine a preterir o pretérito
pelo inconquistado. Rodeante o caroço onde a criança ainda adormece volteia divagante
ao encontro de si. Voltívolo se contrastável ao professoral o poeta desabriga o proferível
para preferir o profanante ao reconfortante. Viajor a desarranjar o viário sagra a
rotulagem de farsante vinculativa ao seu fazer para viabilizar o inviolável. Ao negatório
da inverossimilitude a perscrutar o textuário poético inviscera de incendimentos o que
há de desvincar o dicionarizado e aclamar a criancice do eternal sempre começante.
Eu queria avançar para o começo. / Chegar ao criançamento das palavras
(LSN).
184
O começamento da poesia se dá pelo ensimesmamento na imensidade
silencial em que se adensa o adentramento no envoltório da palavra. Rasura-se o
residuário assíduo do tradicionário sublinhado no dissuasivo do silogístico para escamar
o velado sob o palimpsesto lingual. A camuflagem significante que simula em
veridicidade o impositor designar dissimula o insignificativo subjacente a qualquer juízo
e obstrui o alcançamento do nucléolo medular além do signo. A inverdade residente no
nomenclatório não é locatária da linguagem, pois esta por não ser conciliante com o
intitulativo não o lisonjeia nem o adula apenas o maneja com a parcimônia da
intemeratez frente ao corrosível.
O verbo em condição de brinquinharia retroverte à primazia do criável a
que o poeta qual um primigesto esmerila até o ponto de engendro de engenharias e
quinquilharias inusuais. O poeta empece o engelhar e o desverdecer ao proteger das
intempéries o pendulifólio das palavras. No esquadrinhamento do inescrutável abrange
tanto a desclaridade quanto o inescurecível do ainda inescrito. Qual um anequim
inerrante ainda impúbere o poeta sempre em improvisata veda a louvaminha ao inérveo
da palavra in vitro. Inerudito em seu esmiuçamento inertiza o perecedouro do enegrecer
da impressão no alvorejante da página ao extrapolar pela perpetuidade da
impermanecência de uma significação absolutizável.
Ao principiar uma palavra o poeta desaproxima-se do silenciário inercial
para desabrir um silabar inúbil e ainda acréu. Dessubstanciado de qualquer sentido
ainda póstero cada vocábulo em gestação gravita as cercanias do que é insueto. Na
desnudez do ainda indicionarizado o umbílico do inominado insurge desmarginando o
germinal de uma nominata. E assim se verseja...
Nos resíduos das primeiras falas eu cisco meu verso (APA).
185
O incisório divisor do sensível e do inteligível pelo pensamentear ocidental
designou como inomogêneo o que se constitui como complementário. O poeta pretere
tal escaramuça ao preferir o dialogal entre o díssono e o consorciado. Retroage até o
embrionário da palavra para desvestir o instituído como inconciliante e investir no
paradoxar. Este transvaza o descostume ao oximoro a que se arraigou a raciocinação da
dominância por se constituir anterior ao franjamento delineativo da pensabilidade. Se
esta apensa ao apoético matematístico e temente de qualquer aporia labiríntica acautela-
se diante do reticente, no entanto, não se torna obstáculo ao poeta desejador de restituir
ao ser a condição originária conciliante entre o sentir e o pensar. A desfreqüência ao
cogitativo, entretanto não implica em uma refração do razoável frente ao irracionável,
mas uma diligência a zelar pela anterioridade à divisória entre o afirmante e o negatório.
Na vigência do meninil alumia-se o impermisto ainda a qualquer segmentação. Guarido
e absolto dessa exclusividade o poeta amalgama o desconsentido e inocula no senso
comum a avessidade da infância incondicionada ao delimitativo. Nessa recantação do
incontaminado em que se aninha a infância a poesia se compraz no cerzimento dos
restos e retalhos do que se encontra sob a sujeição da razão. Sobrepujar a esta somente
se abeirante ao universo–ilha em que transvoa o sonhável encantoar das crianças. Estas
resguardam tudo o que se encontra dessujeito frente à perempção da tecnicidade
maquinal a desalojar o imaginário ao exílio do delirioso. Sob o tilintar da relojoaria e o
arrotar do maquinário tudo o que favoreça ao desavezo incrimina-se como suspeição de
aluamento. O poeta, aluarado, apenas tenta uma aprendizagem do resistivo ao olvidável
e recusante à adestração das palavras. Elege, antes, o delirado. Crianças em pleno uso
da poesia funcionavam sem apertar o botão.(MP).
186
4.7- O DELINQÜIR DO DELÍRIO
Poesia é a loucura das palavras (CPUP).
Loucura não como alienação, seja enquanto transferência de um bem ou
direito a outrem ou o processo em que a consciência se torna estranha a si mesma, mas
como delírio. Este se de/fine como uma convicção sustentável apenas por uma pessoa
adversa ao pensar prevalecente, que sustém ilações que não são intrínsecas ao que se
conhece como realidade e que certifica seu asseverar somente em crenças ínsitas. A
distinção do delírio em relação ao alucinar se estabelece por não depender das
impressões sensoriais e por se apoiar em concepções que se sustentam mais em um crer,
pessoal e contrário ao consenso coletivo, que no com/provar. Delirar tem por etimologia
o apartar-se do sulco da charrua, veículo de tração animal para o transporte de pessoas
socialmente importantes e que na Gália medieval passou a ter a função de rasgar o solo
com o fim de revolver e afofar a leiva, a elevação de terra entre sulcos. Daí o sentido de
sair da linha, da ranhura humana, que posteriormente passa a significar a eversão da
razão.
A poesia, ao menos a que se denomina como moderna, não se conforma ao
senso usual ao qual subsume a definição convencionada de delírio, pois não somente
recusa uma autonomia em relação ao sensorial, que seria o traço diferencial entre o
delirante e o alucinatório, assim como parece congraçar com o alienamento, enquanto
um sentir/pensar, no qual a consciência se torna estranha a si mesma. Se estranho
significa o que é de fora, portanto, o que não pertence ao que se situa dentro de um
interior encerrado em seus limites, tal acepção confere atributos que separam
diferencialmente o outro situado fora do círculo como o alheio, o insólito, o inusitado, o
187
que seja passível de suspicácia. Esse excluir, não deixar entrar, remete à centralidade
do identitário como fundação, pela exclusão, do que seja separado como excêntrico, ou
seja, o que se situa fora do centro, quando não coincidem os centros de dois círculos.
A poiesis enquanto fazer não se estreita ao domínio do produzir, executar,
realizar. Estes, por sua vez, diferenciam-se do fazer poético quanto à concepção
dominante que prega o realizar atinente à concretização efetiva no existir, o produzir,
não como um conduzir para diante, mas um executar utilitário como um efetuar, levar a
efeito, produzido por uma causa. Este divergir da poiesis, o não se vergar ao jugo do
que é vantajoso pois que infrutuoso e fantasioso, o restringe à margem do decisivo, do
imperativo e do injuntivo que dirige o existente sob um dominioso perfazer enquanto
conclusiva execução de um produzir proveitoso e lucrativo. Existir, no entanto, é elevar-
se acima de, aparecer, deixar-se ver, mostrar-se; sair de, provir de, nascer de;
apresentar-se, manifestar-se; ser; consistir, resultar. O elevamento acima do
ordenamento objetivo, ação de colocar adiante, que rege o mundo funda o deixar-se ver
da poiesis como um a/presentar-se, um resultar não como efeito resultativo ou
conclusão lógica, mas um saltar para trás que é um não concordar com, não caber em,
não se ajustar com; resistir e opor-se. Daí o estranhar-se a si mesmo que constitui o
modo alienante do poético enquanto delirante consistir sob a ótica dominante. A poiesis
nesse resistir à mundanidade do que é imperioso responde em seu mostrar-se como uma
delusão. Se esta é uma ilusão afetiva, sensitiva ou intelectual, uma perturbação, uma
alucinação, um engano, um logro, um delírio avesso à razão, o i/ludir não se subjuga
somente ao que causa ilusão como um enganar-se mas o jogar com, o divertir-se, o
recrear. Portanto, o imaginar. O poeta é um fingidor e como tal joga com o imaginante
por não se ajustar à regência do real enquanto administração (não a ação de prestação de
ajuda) e gerenciamento do produtível, do haurível e do exeqüível. Gerir, entretanto, é
188
andar com, ter consigo, produzir, criar, fazer. Tal recolha acolhe um outro viger que se
junta à poiesis pelo viés do imaginal. E não do agir como um operar produtivo. Assim
tanto o desvio do linear traçado do sulco no lavrar como o alienar (afastar) da ratio seja
enquanto cálculo, conta e registro ou um metódico e seqüencial cogitar definem-se
como delírio. O deliramento do devaneante é um divagar e neste vagar (concorde com a
etimologia...) voga um estar vazio de quem não possui ocupação e é um ser livre. A
vaziez do ser vagante não concerne (mistura-se) ao lineamento de um saber que abjura o
sabor (o senso, o sentido...) em proveito de um télos cuja linha somente aponta para um
único direcionar: a seguridade dos conceitos. Estes significam tanto a ação de conter
como o ato de receber, a germinação, o fruto, o feto, o pensamento.
Poeta é um ente que lambe as palavras e depois se alucina. No osso da fala
dos loucos há lírios (GA).
A contenção do conceitual pode ser entendida como contenda ou o
encerrar. O conceituado cerra a passagem de qualquer diversidade de sentido que se
diferencie do centro de concepção da ação de conter. Então a recepção, como
fundamento para que frutifique o motivo do pensar, se estabelece por um contender
contra o que contém aquilo que não consolide o saber como um conhecer seguro, sólido
e sóbrio. A cautela e precaução do conceituar, entretanto, terminam por transformar o
pensamento em um acervo de certezas.
O jurisdicionar do dicionário se atém ao contido, retido e conservado no
conceitual. O poeta, no avesso desse saber, prova não para aprovar e comprovar a
propriedade sapiencial, mas experienciar a sensação como o fato de compreender e não
do prender a que se atém o conter. Assim passa a língua em seu sorver na voracidade
de quem sente através de um perceber e observar não servil à continuação contida na
189
impressão do conceituar, a impresciência do impressentido de um outro pensar. Por não
com/participar da celebração que con/corre no en/cerrar do conceitear o poeta alucina.
Alucin(o)- é um elemento de composição derivante do grego alúo, estar
fora de si, perplexo, vaguear. O estar fora de si é similar à consciência que se torna
estranha a si mesma tanto no ato de se conhecer assim como o ser que não se reconhece
mais na identidade fixa do identificado na conceitualidade do identitário. Perplexa é a
atitude do poeta diante de tudo, daí o espanto como um pasmo (a ação de puxar a
espada) diante do irresoluto, não como o que não se resolveu, mas como o indissolúvel
que não se pode desunir. O sinuoso da poiesis é um hesitar confuso, que con/funde, por
não se deter diante do lucidar enquanto um esclarecer que não vela o re/velar como um
complexo (que cerca e abarca) intercalar com a ocultação que se dissimula, que se finge
em seu dizer. Daí o indeciso entre o ser e o não ser do vaguear, do estar vazio.
Em poesia que é voz de poeta, que é voz de fazer nascimentos – O verbo
tem que pegar delírio (LI).
Poesia no dizer barrosiano é voz. Se esta é no designar do dicionário o som
em vibrações, e estas são a ação de brandir, que por sua vez significa mostrar uma arma
de modo ameaçador e que se origina do radical germânico brand, tição e por extensão
lâmina da espada, no entanto a vocação poética é um convite não ao bradar do tagarelar
ou à intimação ao digladiar, mas ao vocativo, o dirigir a palavra a alguém. Vibrar, então,
não se circunscreve ao lançar do dardejamento e sim o agitar rapidamente, sacudir,
tremer, luzir, cintilar. Ao luzido de centelhas de sons resplandece o ser humano. A
phoné que se irradia, que toca com os raios dos fonemas o cerne de outro ser, repercute
como símbolo: sinal de reconhecimento entre as personas que acende no ato de cada
elocução o ascender de fagulhas do iluminativo que se manifesta no palavrear como um
re/velar, um des/vendar. Sílaba tanto é a ação de conceber como uma combinação. Se
190
concepção é a ação de conter, então o encerrar sentidos em um feixe de sons que se
com/binam caracteriza-se como uma marcação de sinais em uma união. Se o silabário
ressoa como simbólico que ecoa o unívoco, no entanto, somente quando se separa do
acordar sancionado possibilita-se ecoar o multívoco. Este é o fazer do poetar: semear,
produzir acordes que destituam o inequívoco para que no comparecente da aparição do
símbolo dissemine-se não a segurança mas a inquietação, o desassossego e a agitação a
soar.
Assim como no revelar vige o velar, no desvendar o vendar, o
iluminamento pela poiesis se dá não pela via da lógica excludente, mas converge o
divergente em um complemento indissolúvel de seu próprio oponente. O fazer poético
constitui-se como nascente de sentidos não apreensíveis pela cognição que se guia pelo
conduzir retilíneo cujo télos seja somente a dilucidação enquanto um desenrolar,
desenredar, desembaraçar, um concluir. Os atributos definitórios e classificatórios que
conformam os ditames e determinações de um saber alicerçado no cercear da
imaginação, cuja tenção seja a destituição de qualquer sabor, não se constituem como
propriedades intrínsecas ao dizer poético. Este se qualifica pela in/exatidão em que há
de se con/vir um con/viver em que o conjugante seja: a tensão, o ambíguo, o dúbio, o
dubitativo, o flutuante, o hesitante, o incerto, o indeciso, o indefinido, o indeterminado,
o nutante, o oscilante, o titubeante, o vacilante, o vago e o vário. Neste multifário
condizer aniquila-se qualquer motivação que impeça o dizer poético de se conter no
recôndito, não como recolha, mas enquanto encerrado em um ponto concludente. Deste
modo o verbo há que delirar... Não ser ancilar da razão que rege rigidamente o ocidente
a conduzir nosso agir torna-se então promissão propulsiva de um incessante pulsar mais
que o que se conhece como pensar. Deixar este de ser um pesar para ser um
contro/verso pensar ainda assim torna-se instância apensa da ratio. O poetar, enquanto
191
um pro/duzir diverso do utilitário de acordo com a concepção platônica diverge do
modus operandi para restituir aquilo que é próprio não apenas ao poeta, mas pertencente
à imanência do ser: a linguagem em sua origem.
Se poesia é voz de fazer nascimentos, de aparecimento do que vem ao
mundo, do acontecer, a concepção disso se gera em um despontar que ultrapassa o
inventável. O possível de ser inventado é causação do realizável que se envencilha ao
factível. A poiesis excede a vigilância que a intelecção exerce sobre o imaginar e
engendra no próprio ventre do inventariável o divagar do devaneante. A vagueação não
esma nem estima um concluimento epilogal, mas se consubstancia em um eterno
retornar a um começo que persevera na permanência do inaugural. Desalinha-se assim
do sulcar lineal obedecente à razão aprisionada ao siso, ao bom senso, ao juízo e
convizinha-se em conluio com o designado delirioso. O delíquio da razão é tido, então,
como um delinqüir por não excluir o paradoxal e nem ser advocatício do que adere em
inconsciente obediência à coerência. A conexão do que é coesivo há que congeminar o
que é díspar, desigual e diferente. Só assim há de ser humano o ser não mais sujeito.
Poema é o lugar onde a gente pode afirmar que o delírio é uma sensatez
(RAQC).
192
4.8- OS DESLIMITES DO SUJEITO
As coisas não querem mais ser vistas por pessoas razoáveis (LI).
Adversa ao undíssono a redimir o insuave do vivente reduzido a
inequiângulos de esquadrias e aço a emoldurar a contabilização de cifrões e estatísticas,
a cesura do versificar acende relâmpagos de rimas a vagalumear no escurejar do
abjetivo o incendioso do poemático. Sob a ardência dessa acendalha incendida a radiar
luzernas que desobscurecem o desalumiado o poeta desassisado aspira alforriar o
sujeitado à razoabilidade prevalente. Contrário ao senatório inquisitorial do
raciocinamento, o visar poético desatina ao querer desafixar a fixidade das definições.
Através da mediação travestida em transparência a platitude reinante compagina o
receituário de certezas para impedir o derruir desse ossário pelo sismo de um significar
fugidio. Mascara-se o inextricável de cada coisa com o selo certificatório e conceituoso
como represamento do desponderado passível de se insurgir. Avaliza-se assim a
conformatividade submissiva à encenação das aparências disfarçáveis sob o velário a
ocultar o cenário erguido em terreno movediço. Repulsar o dubitável aliciatório de
incertezas a disseminar a incessância de um devir revogante de quaisquer convicções e
perempções torna-se emblemático do poderio tecnicista, belicista e financista. Agrega-
se o dispersante inclassificável e incomensurável do real às amarras da logicidade como
meio de enredear a instabilidade da cognoscibilidade a um ajuizamento apaziguante.
Deste convencimento de ilusões dissimuladas em formulações e assertivas
fundamentadas na rigorosidade científica o poeta alija-se na defensoria da insânia. O
desatino desta, entretanto, entenda-se pelo desatendimento ao compromissivo com o
193
entendimento atinente ao cerebrino. Se este constringe a compreensibilidade do mundo
à conceitualidade excludente do fantasístico o poeta recua para o irraciocinado.
A gente se negava corromper-se aos bons costumes (RAQC).
A contradita ao raciocinar não significa dar guarida ao irracionável e sim a
postulação de um pensar desconcorde, divergente e diverso do encadeamento lógico.
Não somente desviante da predominação deste, mas principalmente uma destronização
do aprovatório aos valores que o senso comungante pela maioria impõe: o crível, o
aceitável, o reconhecível, o insuspeitado. Desacorrentar-se de tal mediania confortante e
subjugante aduz aquele que desaceita a conivência e complacência com o paliável
diante do inquietante de um questionar irrespondível. O poeta desbrida-se do
vinculativo ao asseverativo e do conveniado com o resultativo para favonear o
adveniente que nunca sobrevém. Irroga ao perluxo de todo afirmatório terminal a
desdiferenciação, ou seja, o acendramento, a lixiviação do acumulativo enciclopédico
para que aflore o inconhecível. Por inconivência com o limitante o poeta quebranta o
concordatário para que no desbrilho do esconso reslumbre o transluzimento da poesia.
Dessela a assinação das cognominações pactuárias com o dessentir por dissentir de uma
discência adestrável ao atermar do descobrível. No desiderato de siderar a licitude
eclipsante do quimerizar aluvia a presúria do pensar com o declivoso do imetódico. Ao
apensamento à península do pensar sistemático o poeta antepõe o impulsar ao
inidentificável. Se o despercebimento ao preveniente do antedito firmou-se como o
preceituário do que é hodierno e ordinário, no entanto é no antedia da poesia que
deperece o preventivo ao vaticínio. Imperecedoura há de ser a palavra recusadora de
qualquer valorativo escravizante ao contingencial. Para tanto se desataviar dos
resquícios escamados sobre as crostas, côdeas e carapaças a escudar o existir faz-se
urgente.
194
O tempo dele era só para não fazer as mesmas coisas todos os dias (APA).
O poeta, ostiário do atemporal, desacompanha o cadencioso de ampulhetas,
clepsidras ou dos dígitos movidos por quartzos pois desguarnecido de bússola e
astrolábio segue a escandir mais que o silábico das horas para colher no olho da ostra da
noite uma lasca de lua a lacrimejar uma gota de orvalho. Na crista das palavras, grinalda
de entrelinhas por onde trilha o estro poético, crispa-se a crina da escrita a esporear o
esperadouro de axiomas. Por isso o poeta decanta o calcário sedimentado e incrustado
na cavernosidade de cada sentido para então descascar as estrias das histórias cravadas
nas cavidades do calendário. Feito isto resta deslembrar e espanejar o passadiço para
restituir a invigilância ao olvidamento e paralisar o ponteiro sobre o instante de cada
momento. Desindexado de horários o poeta se despoja da armadura da rotinização para
agasalhar-se com a farraparia de niquices que enriquece o ermitágio onde vive a
vagamundear. Ao adentrar o ermamento das desoras, no qual não espreita o
desesperante sob a guarita do patronato, estira-se na espaçaria da paginação alvejante e
se alimenta de prenúncios, especiaria dos deseclipsados. Feito trânsfuga abdicante de
bagagens, convizinho da vesânia, exila-se no desértico onde o miraginal da inexistência
exagita-se. Ao se desgramaticalizar de letradices, letraduras e letramentos o poeta
neófito está apto ao desavezar em que se aveza a poesia. Convivente com o desviver e
desamigo do convinhável reinventa avelórios com que guarnece seu dispensário de
tenções inecessárias à prestância. A poesia é o meio agnicional pelo qual se desafeiçoa o
inestudioso da conhecença consociada em avença com o que é validante. O poeta
auxilia a extrapassar o mediocrático de cada dia e a consoar o inconsonante ao qual é
costumária a habituação à modelação do pensar, do sentir, do agir.
195
Não agüento ser apenas um sujeito que abre portas, que puxa válvulas, que
olha o relógio, que compra pão às 6 horas da tarde, que vai lá fora, que aponta lápis,
que vê a uva etc. etc. (RAQC).
O poetar dissipou-se meio ao crepitar da estivação e ao crocitar das
admonições ao desgarre dos avessados às endentações da maquinaria. Para eludir este
legislatório há que se profaçar o sacrilégio à linguagem, professar o sacrificatório do
paradigmático e indeferir o proibitivo. Liberativo do compromissário com o sujeitável o
aluimento poético coadjuva no derruimento de qualquer gerência sobre o arbítrio para
transfigurar na medrança do incondicionado o que se desfigurou em cerimonioso.
Insubordinável às vicissitudes o poetizar impulsiona o alvedrio ao insucessível do que é
acrônico. Ao insubstancial transacionado como relicário oferece o regalório de palavras
ainda não aprisionadas aos dicionários. Sobremaravilhado todo aquele que frente à
acrimônia da sobrevivência insubmergível a cada sobremanhã admira a ressurgência da
poesia. O afazer desta se afina ao faiar, seja afanar (azafamar, furtar) ou entrelinhar
naquilo que é findável o tesaurizado disfarçado em açofra no mercado. Sobrelevante ao
condicional sem indulgência o poético, acólito de qualquer antelóquio a cada esquinar,
deslinda no que é sólito o insueto. Sob a tutela do que é contábil absume-se o penseroso
na adicionação de quantificações que são abduzidas pela sanha de consumar o ser ao
consumir. Ao poeta, dispenseiro de pendências e pensionista de demências, interessa o
sagitar direcionável ao ocluso onde se imiscui o incalculável ainda inconcluso. O poeta
mais que pensamenta, não desalenta diante da aleivosia e imizade difusa ao viver e
descerebrado espelha-se no deluso do miraculado. A obtusidade do carimbar
burocrático é obturada com o versífico adversante do falso quilate da doctiloquia
coagulante.
196
Coisa adejante, se infira, é o sujeito que se quebra até de encontro com
uma palavra (APA).
Capitulante diante do vestigial que arrasta cada vocábulo também é o leitor
acompanhante do poeta feito Dante a Virgílio. A palavra marca qual um estigma, muito
mais que um signo, ígnea flamância a cintilar na língua. Se o deslembrativo acomete o
ocorrido, entretanto este permanece imperecível no poema a preservar o que o momento
leteu quer deletar. O silente sentido de um verso assemelha-se ao correr do rio: não
repetível e, no entanto sempre semelhável em seu incessante ir. Neste confluir entre o
escrevente e o leitoral, a afluência do sonante e da silencialidade em um versar
contraditor não tradutível ao objetivístico torna-se provocativa de um abalamento não
somente do parecer sobre o mundo, mas do próprio parecente que se apresenta como
presente. O pensar sujeitador ao convir das conveniências inverte-se em um remoinhoso
ruir de certezas frente à correnteza da poesia. Quebranta-se o acorrentamento ao
persuadível desse pensar quando o sujeitado ao dominativo situa-se confronte ao
contraditório a ecoar no oco de cada vocábulo. Íncola ao desabrigo do significativo
antes abrigante de insuspeição, a palavra sob a radiância da poesia reenvia ao erradio o
recusativo à seguração. Não mais lacaio de escólios a querer estilar o que é
indeslindável ou fâmulo de amarâncias no que é mêmore, o leitor, assecla do
aventuroso, lança-se ao solaz e ao letífico de uma leitura insubmissa ao dogmático.
Mais que o descascável das significâncias, o poeta desensina a inerrância de qualquer
ciência para aquiescer ao esvoaçamento do ainda insonhável. Perante o enjugamento
serviçal ao nominativo determinante e nomenclador do princípio da realidade, a poesia,
no entanto, não é concedente com a aliviança do enlevo alienante, mas preferente do
logodedálico alucinante que enlaiva o perimétrico isolante com o avessar iluminante.
Meu desnome é Antonio Ninguém. Eu pareço com nada parecido (LSN).
197
Desiluminar o lúmen artificioso da cientificidade é insuficiente para o
poeta, sentenciado ao inoficioso, fazer reamanhecer a luminescência da poesia. Precisa-
se pressupor o noturnal do indescortinável compartilhante do luminar nomeante,
desservir à indiciação do inconclusivo contrariante ao sagital do silogismo e desinçar
qualquer rotulação à complexão do ilogismo. Entretanto, se é inerente a submissão à
condicionalidade designativa, implicativa do que é modificativo, portanto, refratária ao
verídico, a inobediência ao logicismo e o desincentivo à racionalidade são impotentes e
inermes diante do imperativo do pensar. Este, no entanto, não há que ser subjugável seja
à linearização ou ao próprio designar e sim exorbitante do condenatório ao paradoxismo
para que este restaure o que é intrínseco ao ser: o devanear. A poesia apenas recupera o
que se encontra soterrado sob os escombros do edifício da razão. A retrocessão ao
incoativo antecessor da conceituação requisita a devolução do imaginativo ao que não
se admite mais sujeitável à dominação da inteligência infensa ao emocionar. Sob o
prismático poético divisado sob a instância multiplexar do resistível ao divisional
insurge-se o dessujeito ao coagir do senso comum. Desimplicado de tudo o poeta atinge
a nueza do nada na qual desvestido de si mesmo desidentifica-se com o espelhante e o
especulativo para anuir ao vaziamento do nugativo e ressurgir dessujo, nuelo e
desluzido do indutivo e do dedutivo. A desdar os nódulos ilaqueados ao refletivo o
poeta desdenha o permissível do que é paliável e autonomeia-se delituoso a exorar não o
remissível ao penitenciário, mas o exílico ao aprisionável passível de autonomizar o
sujeito ao que é insubjugável.
Para ser escravo da natureza o homem precisa de ser independente
(CCAPSA)
198
4.9- ENTRE O PERMANECENTE E O TRANSITIVO
(Atribuir-se natureza vegetal aos pregos para que eles brotem nas
primaveras... Isso é fazer natureza. Transfazer) (LPC).
A Natureza confrange-se em um franjar que se desdobra em caleidoscópio
a girar uma mensagem em código que o poeta se recusa a decifrar. Ou até mesmo a
cifrar o que não se des-vela nem se re-vela, mas vela que se incende a um novo in-
ventar que recende ao que esplende e não se esvanece mesmo ao ventanejar. Vela o vate
um oráculo que se mantém intacto ao contacto de qualquer mácula, de cálculo que
ofusque o lusco-fusco do crepúsculo em hóstia a expectar o espetáculo que óculos que
escondem olhos agnósticos não explicam. O complicar (enrolar, enroscar, dobrar
enrolando) não compete ao poetar que procede apenas por um plicar que é réplica que
exclama e conclama pelo clamar de tudo que eclode em contínuo conectar. O poeta
então não especula, tal qual sentinela e atalaia a auscultar o inexplicável, mas vigia o
que vige em vigor a conjuminar o que germina e o que vermina em um geminar
interminável. O que não se nomina o poeta não desimagina nem desanima nem alentece
o seu tear, pois continua a tentar contar o que não termina, mas cognomina um
compaginar que adjunta tudo que há ou que há de advir. O seu exordiar solicita e acode
um concorde recordar que é um ressurtir, ressaltar o que dorme e que urge a/cordar
como clarim a criar uma clareira. Este clarejar implica em um entrelaçar posto que no
oco de cada vocábulo ecoa um conclamar que invoca tanto o equívoco como o que se
aquieta no desígnio de cada significar em cada signo. Como um sino, pêndulo ou
címbalo a embalar o que oculta cada símbolo cada poema revela aquilo que demanda
mais que o conhecer para des/velar.
199
A naturança, entretanto, teima em falar. Como a entender? O poeta ausculta
o que se esquiva ao nosso escasso perceber. O jorramento ininterrupto de tudo constitui
o mundo e o poeta busca restituir ao constante a instância complementar do que é
inconstante. Nutre, então, o que brota e o que apodrece como atença de um fiar que se
assemelha, não como cópia ou espelho, a isso que nosso intervir não descortina. O que
se esconde onde nosso perscrutar se esquina e se aniquila sem traduzir aquilo que nunca
se reduz a qualquer nomenclatura? Percebe-se que nosso tatear não se aproxima do que
insta, ou seja, em suspenso, do que seria o falar da naturaleza. Não seria então um
equívoco ousar reduzir a um signo tudo aquilo que não signi/fica enquanto acordo tácito
no nomear de cada coisa? Posto que a imprecisão do viver oponha-se ao preciso do
navegar, ao poetar o primeiro prescinde de certezas, pois prima por crismar de dúvidas
tanto o crivo do incréu, do crédulo como do indiferente.
Como então falar do que não fala? Barros cata cada migalha que se espalha
pelos cantos do pantanal e não tenta batizar o que tartamudeia em um outro linguajar. A
garça, o gorgolejar do riacho ou a garganta que canta em uníssono ao luar tudo é fonte a
jorrar em linguagem. O poeta, um quase escriba, anota o que desentende de seu atentar,
pois que transcende a um audifalante que sabe primar pela ignorância. Esta é promessa
de quem se supõe um aprendiz frente ao santuário no qual se presencia, despido do
saber insípido que a ciência nos ensina, o principiar de tudo: a eclosão e o erodir.
Mistifório que não se há de explanar por um retilíneo narrar, assim tudo converge para
uma multíplice rarefação: a de ser quem parteja. Como tal, portanto, não interfere o
regrar que constitui o decifrar da natureza com vistas ao negociável, mas acatar o que
está escrito em cifra e enigma a des/vendar mas a não se re/velar, mas re/cifrar o que
deve permanecer em estado de ad/miração e enlevo. Estes são os pressupostos do poetar
que transcreve o que está subscrito nas entrelinhas das estrelas, das estalagmites, dos
200
estalidos de galhos a rebentar e dos galos a costurar cada alvorecer. Este transcrever,
entretanto, não se suponha um traduzir, mas uma transcriação que enovela mais que
revela, pois que ao poeta impõe-se um limite, ou seja, o de não ousar a subsunção ao
domínio do signo. Seguir além para trazer o que está aquém de nossa concepção. O
posto pelo poeta ante nosso olhar diverge do que se representa, então compete ao leitor
mais que o alfabeto e sim um dispor a enveredar pelo rastilho que o bardo deixa em seu
rastejar. Tarefa que reclama um outro ofício que não o de mero leitor...
Mergulhar e ruminar nas ruínas dos reinos das palavras tal qual larvas a
lavrar os restos que o poeta varre para debaixo das páginas dos livros. Livrar-nos, então,
do entulho que nos cativa e que nos condena ao degredo de letrados analfabatizados no
hábito de folhear o livro da vida sem decifrar o sentido. Por mais que se insista, mesmo
ao desvelejar, em uma travessia entre o dito e o lido, ainda assim o entrevisto não é o
imprevisto nem sequer o impermisto, mas somente o permisto que é trasvisto.
Como entender o que um córrego discorre? Este corre, percorre um curso
que não morre, pois que o retorno torna-se não um tornear e sim um incorrer que não
torna, pois que o tempo decorre... Enrola-se, desenrola-se a corrente que arrasta e
carreia cada ente e nem a e/vidência dos eventos ao ventanear evita o escorrer que
nunca recorre, mas apenas transcorre. O flume, ainda que diminua de volume, não
revertível mesmamente continua. E de modo inverso, permanente não permanece
idêntico, pois dessemelhante espelha a si mesmo em constante movimento que jamais
retorna à fonte que se esvai em jorro em ininterrupta torrente que se desfaz na foz o
arroio ao amarar. A constante inconstância que nos ensina a decorrente permeação entre
o permanecente e o transitivo constitui a sabença que nos instrui o curso de um riacho,
um ribeiro, um regato, um rio. Mirabolância que é condição sine qua non de quem é
sintônico com o admirábil de um derivar a emanar a imanência do que é aquátil. Inábil
201
diante do que é móbil e volátil é nossa inclinação daí o juízo precário frente ao quase de
uma prece do fazer vígil da poiesis. O rio sem retornança retorce nosso perceber,
observar e considerar e sem serventia ad/verte para a costumança de se antepor como
ad/verso tudo que é constitutivo de uma complexão sem controvérsia, posto que tudo é
anexo, conexo, implexo.
A mutabilidade em acorde eviterno com o conservativo é propriedade
também daquilo que é imóvel, como o arvorejar. Entretanto tudo o que brota, rebenta,
desabrocha em concomitância míngua, emurchece, desvive. Assim a prenhez de tudo
carreia consigo o desmancho, no florir o desflorar, no frutificativo o putrefaciente, na
vivificação e vigorar o enfracamento e perfazimento. Na arborescência o vicejar da
viridência vindica uma atitude contemplante e envolvente que conjugue em consonância
o obverso, ou seja, ao observar o irrompimento do verdecer atentar que o dissolvente é
partícipe do mesmo. Do despetalar até a ultimação prima a presença de um liame
irrompível que não se entrelaça por um pontilhar linearizado na sucedaneidade da
fenomenalidade, mas em um conjurar entre o ser e o nada. Assim a despertez que zela
o vigente avizinha-se a jungir o desvigiar da soturnidade ao dormitivo como o florar e o
emurchecer avançam não somente na similitude do flechar e sim na simulcadência do
correspondido. Tal é o legislar no planisférico condicionante de nosso percebimento
que, entretanto, obnubila-se por um visionar divisório e disjuntivo corolário de um
modus vivendi fundado na partição entre o sensível e o inteligível. Se ao sensivo cumpre
transigir na determinação do que é perecível, no entanto, o condicionante físico carreia
consigo, qual um signo, um desígnio em seu designar. Isto significa que no cerne do
compassar entre o sensorial e o inteligível consigna-se um pacto coeterno que o fazer
visivo da poiesis adjaz em univalência. Não se exclui, portanto, do peremptório, do
terminativo e do condicionado o perenal, o superno e o intérmino.
202
A poética barrosiana adjunta aquilo que parece fugir a qualquer injunção.
Seja no vagaroso lesmar, no alvorejar de garças, no caminhante encaramujar, no
passaredo unissonante e em tudo que abocanha convizinha-se à vontade um dizer que o
poeta sequer ousa traduzir, mas simplesmente diligencia não descrever e sim
transcrever. Sem, contudo, sujeitar-se à tentação da cópia. Antes, remove de seu
observar a dissensão entre sujeito e objeto para objetar com um como/ver ao que se
impõe como separativo. Imperativo ao poeta, antes de tudo, antes de nada, antes de
antes, cumpre transverberar o que é suscetivo de se mostrar, de dar a ver, de indicar.
Perfazer um saber, através do fazer, sem exigir um assentimento ao conhecer que se
institui não como um re/velar mas como certificativo certificante de certezas. Diante
disto e do que a natura ensina no seu enunciar há que se emudecer para que a atenção
advirta-se para o silêncio, o repouso e a escuridade como parelha indissolvível do
soante, do movente e da resplandecência. E não como mera antonímia a dissociar.
Assim o compósito multifário que se batiza como natureza propicia o
deslinde em seu mostrar de um dizer que assinala uma parecença entre as oposições que
não se demarca por um mero assemelhar-se ou por uma eqüidade homogeneizante do
que é diferencial, mas por uma similaridade constituinte e intrínseca ao modo de ser
complementar das coisas. Tal é a lição a ser decifrada na escritura que se esconde em
cada criatura. Deste modo o criar poético condiz não com o esclarecimento no sentido
de desencantamento do mundo, mas com uma con/versão da inscrição secreta que a
natureza a/presenta em um re/criar que se satisfaz não em desfazer mas em fazer de
novo o mesmo sob o encantar das palavras. Ou seja, sob uma ótica do humano não em
sua instância prática, mas na equiponderância entre a essência e aparência. Se este
qualificar opositivo revela-se ainda tributário de um pensar estrito ao dicotômico no
qual um dos pólos demarca-se pela centralidade hierárquica, entretanto o fazer
203
barrosiano desinveste-se de tal convenção, pois que urde um entrelaçar entre os opostos
atremados em síntese. No aparecer da garça com/parece um con/graçar que aniquila
qualquer secção que se suponha entre o transcendente do supranatural e o condicionante
do fenomenal. Na poesia de Manoel de Barros pre/valece o re/unir a procriar em
profusão um outro perceber.
É a pura imaginação de um outro universo. Que vai corromper, irromper,
irrigar e recompor a natureza (LPC).
204
4.10- FINS
A poesia de Manoel de Barros não se traça pela linearidade direta entre dois
pontos, mas pelo desvio de uma curva, de um meandro, de um desenredo. Antes que
uma solução o que se pondera neste texto não se refere à negação da razão como vereda
viável, mas antes uma outra via que destrince a poesia através de um outro escrever. A
norma acadêmica p/reza pela cartilha oficial de um pensar metódico que diverge do
poetar. Não se arvora aqui, entretanto, um discurso que faça da poiesis a tarefa do
criticar. Menos que isto, insiste-se em um outro, diverso postular que não se confranja
nas margens de um medido especular. A palavra poética dissente do contrato entre a
nomeação ditada pelo uso e a coisa observada, pois se imiscui entre um e outro fator a
desmesura que converte em rarefação o que é apresentado como peso. Por isso há que se
pensar um outro dizer a poesia mais que um mero traduzir. Mesmo do filosofar que se
instaura pelo constante questionar ainda assim a poesia resiste a um equiparar, posto que
o estado poético não se institui pelo rigor lógico-analítico. Entretanto a palavra poética
tem por razão a desrazão na qual sentidos transmigram em camadas de palimpsestos
que corroem o dizer estável dos relatórios, das prescrições, dos boletins e das verdades.
Se não um istmo entre o poetar e o filosofar o que se postula é o desvio da mão única da
razão vitoriosa que nos impõe setas onde somente deveria haver interrogações,
parênteses e reticências...
205
5- INCONCLUDÊNCIA DE UM COMEÇAMENTO...
Após tudo isto o que resta? Um istmo, um átimo ou uma hemodiálise do
texto? A poesia se diz a si mesma ou a voz do leitor a traduz para si os seus conjuntos
de signos particulares? Como abarcar o universo de um poeta que desfaz o significado
das palavras com o revestir de sentidos até o desfalecimento destes sentidos? Há que se
curvar ante o fio retilíneo da razão pragmática e rígida ou pode-se palmilhar o curso
poético através de um recurso ao próprio discurso com que nos deparamos? Tentemos,
antes que a norma irrompa e nos interrompa...
Saber o mundo é menos uma conquista de certezas do que uma viagem
errante que, no entanto termina por incorporar ao desacerto da errância a certidão da
incerteza. Sem prestação de contas, apenas um contar incerto como devoção à
insensatez de cada dia. Sons em que se transladam os sentidos além destes. O silenciar
de sinos ressoa na cabeça e coração de quem se dispõe a se exilar dos dicionários, das
gramáticas e dos compêndios. Aí então se pode ouvir o rugir das pedras ao acordar, o
roncar da barriga da noite a devorar as migalhas do dia e o ronronar de cada pétala de
nuvem a arrastar o vento pela cauda para alcançarem chuva rezadeira na estação dos
miosótis. A regência da poesia privilegia não o portanto, nem o logo, muito menos o
daí, mas o isto de cada coisa que se apresenta. Não como representação diante do olhar
viciado pelo horizonte das letras, mas com a lente que vislumbre o que se descortina aos
relâmpagos e relumes nos interstícios das fímbrias do agora. Há que desaprender o
ofício do pensar como uma reta que se alcança somente pelo silogismo da lógica. Se o
Ocidente nos legou tal crença, assim há que se efetuar o exercício da descrença como
um anti-lema a se instaurar a cada crivo da certeza.
206
Então desinventemos. Se a palavra verdade significa conformidade com o
real, exatidão, realidade (segundo a voz p/rouca do dicionário) há ainda assim uma
mentira que inspira isto. Pois, há que se perguntar o que é o real e porque o conceito de
verdade associa-se à exatidão. Na inexatidão não medra a verdade? Verdade e realidade
apenas conjugam uma rima sem sentido? Como ensina o poeta: utilizar palavras ainda
não asiladas em algum idioma. Todos sabemos que uma linha é o percurso mais lógico
entre dois pontos, mas, no entanto somente o poeta sabe que o sapo engole auroras.
Assim como a régua que traça o vôo da libélula não tem índice numérico, ou que o
riscado do bordado da aurora é desenhado com a linha do horizonte a descosturar a
sutura entre a noite e o dia...
Tudo isto parece não condizer com o que se batiza como verdade, segundo
reza a certeza da exatidão. Esta se prega com o martelo da verdade. Porém esta abrange
também, e primordialmente, a esfera do inexato, do impreciso e do insensato. É no
delírio do verbo que se ausculta a cor dos passarinhos, e para isto o verbo há que delirar.
Transmigrar de um senso a outro é achar-se no reino da invenção para se investir de
algo diverso da razão. Assim se faz emergir então o inviso.
Então se pode entender a aflição ou o silêncio das pedras (este não tem
mesura), o cheiro das árvores ou o esplendor de se estar amanhecendo a pássaros. A
razão da régua não é a via do entendimento único das coisas, mas apenas condição de
aplicabilidade utilitária. Serem olhadas de azul: assim desejam as coisas. Poesia, antes
que poema tem menos por definição qualquer conceito razoável que a própria anti-
conceituação do poeta: planar além do alado. Isto é o elogio da vertigem sonhada por
Ícaro: planar além do limite que a mesura nos determina. Poetar é não ter plano de vôo
ou de carreira assegurados na rota precisa dos que têm tudo a perder. É preciso navegar
sob a vigência do impreciso.
207
A poiesis como produto do verbo em sua instância destituída das amarras de
todo regrar insere-se vez por outra nos domínios da prescrição e da rigidez normativas.
Aí urge o fazer do POETA: ou seja, o desmonte da fixidez em prol do desguarnecido,
do inventivo e da maleabilidade e fluidez constante. Assim há que semear na arididade a
florescência da poesia. O poeta é antes de tudo desinventor de práticas costumeiras do
mesmo caminhar. Instaura a cada instante um outro olhar, outro saber/sabor, outro
dimensionar.
Na clareza e certeza das idéias distintas a delinear a reta do horizonte do
Ocidente reina uma razão que se determina pelo juízo afirmado pelo conhecimento e
discernimento das coisas com vistas à sua aplicabilidade. Assim, o discurso que sustenta
tal ordem há que repousar sobre a linearidade e exigência de clareza. Exclui-se,
portanto, o obtuso que se infirma nas regiões do enigma. À lógica que busca soluções
não interessa o enigma nem o insolúvel, pois tal modo de entendimento coordena-se
segundo as regras de um pensar decifrador do encantamento. Porém, há coisas que se
iluminam pelo opaco. Ou seja, aonde o iluminismo esclarecedor, concedente da certidão
de maioridade da humanidade através do desencantamento do mundo com vistas à
operacionalidade, não avança além das suas fronteiras e demarca tudo como
obscuridade a poesia revela a face reversa da instância do inapreensível sob as
grades da lógica linear. O discurso da ciência se apropria das coisas com o propósito de
catalogar, aprisionar, delimitar, circunscrever, cercear, objetivar, afirmar, confirmar...
Para Manoel de Barros a nomeação científica empobrece a imagem, pois retira dela o é
da coisa para revesti-la com uma nomenclatura que a amarra a um cadeado a impedir o
viajar erradio.
Ao poeta basta o necessário de uma centelha de palavras para tecer a
tapeçaria em que borda o rascunho da poesia. Antes a vigência do aventurar do que a
208
pretensão da afirmação conclusiva do conhecimento instituído pelo raciocinar
hegemônico. Consigna-se a finitude breviloqüente do existir à vigência indelével do ser.
Se a ideologia, a ciência, o dicionário e a gramática limitam a língua insta então
instaurar o deslimite e o desarrazoado como procedimento do poetar a conceber um
pensar no qual o opositivo inconciliável entre o repouso e o movimento, o verso e o
reverso, o inteligível e o sensível, o viger e o derruir, a eclosão e o erodir, o ordinário e
o extraordinário, o usitado e o excelso, o anojoso e o aliciante, o sonante e o dissonante,
o condicionado e o incondicionado, o contínuo e o descontínuo, o temporal e o
intemporal, o velar e o desvelar se conciliem em uma unidade dual indissociável a
conviver no conjugar do vivente morrente que é atinente ao humano, in/distinto
HUMANO.
209
6- BIBLIOGRAFIA
Livros de Manoel de Barros
Arranjos para assobio. 2 ed. Rio de Janeiro: Record, 1998.
Cantigas por um passarinho à toa. 3 ed. Rio de Janeiro: Record, 2005.
Compêndio para uso dos pássaros. 3 ed. Rio de Janeiro: Record, 1999.
Concerto a céu aberto para solos de ave. 2 ed. Rio de Janeiro: Record. 1998.
Ensaios fotográficos. 4 ed. Rio de Janeiro: Record, 2003.
Exercícios de ser criança. Rio de Janeiro: Salamandra, 1999.
Gramática expositiva do chão. 3 ed. Rio de Janeiro: Record, 1999.
Gramática expositiva do chão. (Poesia quase toda). 3 ed. Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 1996.
Livro de pré-coisas. 4 ed. Rio de Janeiro: Record, 2003.
Livro sobre nada. 8 ed. Rio de Janeiro: Record, 2000.
Matéria de poesia 5 ed. Rio de Janeiro: Record, 2001.
Memórias inventadas – A infância. São Paulo: Planeta, 2003.
Memórias inventadas – A segunda infância. São Paulo: Planeta, 2006.
O fazedor de amanhecer. Rio de Janeiro: Salamandra, 2001.
O guardador de águas. 2 ed. Rio de Janeiro: Record, 1998.
O livro das ignorãças. Rio de Janeiro: Record, s.d.
Poemas concebidos sem pecado. 3 ed. Rio de Janeiro: Record, 1999.
Poemas rupestres. Rio de Janeiro: Record, 2004.
Retrato do artista quando coisa. 3 ed. Rio de Janeiro: Record, 2002.
Tratado geral das grandezas do ínfimo. Rio de Janeiro: Record, 2001.
210
Geral
ADORNO, Theodor. Minima moralia. Trad. Luiz Eduardo Bicca. 2 ed. São Paulo:
Ática, 1993.
____ e HORKHEIMER, Max. Dialética do esclarecimento. Fragmentos filosóficos. 2
ed. Trad. G. A. de Almeida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1986.
ANDRADE, Oswald de. Do Pau-Brasil à antropofagia e às utopias. Manifestos, teses
de concursos e ensaios. Obras completas VI. 2 ed. Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 1978.
APULEIO, Lúcio. O asno de ouro. Trad. Ruth Guimarães. 3 ed. Rio de Janeiro:
Ediouro, s.d.
ARISTÓTELES. Poética. Trad. Eudoro de Souza. São Paulo: Abril, 1973. (Os
Pensadores, IV).
____, HORÁCIO e LONGINO. A poética clássica. Trad. Jaime Bruna. São Paulo:
Cultrix, 198.
BACHELARD, Gaston. A filosofia do não. O novo espírito científico. São Paulo:
Abril: 1974. (Os pensadores, XXXVIII).
____. A poética do devaneio. Trad. A. de P. Danesi. São Paulo: Martins Fontes, 2006.
____. A poética do espaço. 2 ed. Trad. A. P Danesi. São Paulo: Martins Fontes, 1996.
BARBOSA, Luiz Henrique. Palavras do chão. Um olhar sobre a linguagem adâmica
em Manoel de Barros. São Paulo: Annablume / Belo Horizonte: Fumec, 2003.
BARROS, Manoel de. “Escritos para el conocimiento del suelo’. El paseante, Madri,
11: 124-135, 1988.
BARTHES, Roland. O grau zero da escritura. Trad. A. Arnichand. e A. Lorencini.
São Paulo: Cultrix, 1971.
____ O prazer do texto. Trad. J. Guinsburg. São Paulo: Perspectiva, 1977. (Elos, 2).
211
BENJAMIN, Walter. Charles Baudelaire um lírico no auge do capitalismo. Obras
escolhidas. VOL III.3 ed. Trad. J. C. Martins Barbosa e H. Alves Baptista. São
Paulo: Brasiliense, 1994.
____ et alii. Textos escolhidos. São Paulo: Abril Cultural, 1975. (Os pensadores,
XLVIII).
BERGSON, Henri. Cartas, conferências e outros escritos. São Paulo: Abril, 1974. (Os
pensadores, XXXVIII).
BOFF, Leonardo. A oração de São Francisco. Rio de Janeiro: Sextante, 1999.
BOSI, Alfredo. O ser e o tempo da poesia. 6 ed. São Paulo: Companhia das Letras,
2000.
CÂMARA, Ricardo e GODOY, Heloisa. Manoel de Barros. Entrevista. Cult, São
Paulo, 15: 4-9, out. 1998.
CAMARGO, Goiandira F. Ortiz. A poética do fragmentário. Uma leitura da poesia de
Manoel de Barros. Tese de doutorado. Rio de Janeiro: UFRJ, 1996.
CANDIDO, Antonio. Formação da literatura brasileira. (Momentos decisivos). VOL.
I (1750-1836) 2 ed. São Paulo: Martins Editora, 1964.
CASTRO, Afonso de. A poética de Manoel de Barros. Tese de Doutorado. Brasília:
UNB, 1991.
DESCARTES, René. Discurso sobre o método. Trad. M. Pugliesi e N. de Paula Lima.
São Paulo: Hemus, s.d.
DELEUZE, Gilles. Lógica do sentido. Trad. L.R. Salinas Fortes. São Paulo:
Perspectiva, 2000.
DERRIDA, Jacques. A farmácia de Platão. 2 ed. Trad. Rogério Costa. São Paulo:
Iluminuras, 1997.
212
____. Margens da filosofia. Trad. J. T.Costa e A. M. Magalhães. Campinas: Papirus,
1991.
EAGLETON, Terry. Teoria da literatura: uma introdução. Trad. Waltensir Dutra.
São Paulo: Martins Fontes, s.d.
ELIOT, T.S. A essência da poesia. Trad. Maria Luiza Nogueira. Rio de Janeiro:
Artenova, 1972.
EMERSON, Ralph Waldo. Ensaios. Trad. José Paulo Paes. São Paulo: Cultrix, 1976.
ENGELS, Friedrich e MARX, Karl. O manifesto comunista. 4 ed. Trad. Maria Lúcia
Como. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1998.
ERASMO. Elogio da loucura. Trad. Paulo M. Oliveira. São Paulo: Abril, 1972. (OS
PENSADORES, X).
FICHTE, Friedrich Von. Sobre o conceito da doutrina-da-ciência ou da assim chamada
filosofia. Trad. R. R.Torres Filho. São Paulo: Abril, 1973. (OS PENSADORES,
XXVI).
FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas. Uma arqueologia das ciências humanas.
Trad. Salma Tannus Muchail. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
____ História da loucura na idade clássica. 2 ed. Trad. José Teixeira Coelho. São
Paulo: Perspectiva, 1987.
FREUD, Sigmund. O futuro de uma ilusão. E outros trabalhos. Trad. José O. A. Abreu.
Rio de Janeiro: Imago, 1974. VOL. XXI.
FRIEDRICH, Hugo. Estrutura da lírica moderna. (da metade do século XIX a meados
do século XX). Trad. Marise M. Curioni. São Paulo: Duas Cidades, 1978.
GOGH, Vincent Van. Lettres de Vincent Van Gogh à son frère Théo. Paris: Grasset,
1986.
213
HAMSUN, Knut. Fome. Trad. C. Drummond de Andrade. Rio de Janeiro: Nova
Fronteira, 1977.
HEIDEGGER, Martin. A caminho da linguagem. Trad. M. Sá Cavalcante. Petrópolis:
Vozes, 2003.
____. A origem da obra de arte. Trad. Maria da Conceição Costa. Lisboa: Edições 70,
s.d.
____. Ensaios e conferências. Trad. E.C. Leão, G. Fogel e M. Sá Cavalcante. 2 ed.
Petrópolis: Vozes, 2001.
____ Heráclito. Trad. Márcia Sá Cavalcante. 3 ed. Rio de Janeiro: Relume Dumará,
2002.
____. La pregunta por la cosa. La doctrina kantiana de los principios trascendentales.
Trad. E.G. Belsunce e Z, Szankay. Buenos Aires: Editora Alfa Argentina, 1975.
____ Língua de tradição e língua técnica. Trad. Mário Botas. Lisboa: Vega, 1995.
____ e SARTRE, Jean Paul. Conferências e escritos filosóficos. Trad. Ernildo Stein.
São Paulo: Abril Cultural, 1973. (Os pensadores, XLV).
HERÁCLITO. Fragmentos contextualizados. Trad. Alexandre Costa. Rio de Janeiro:
Difel, 2002.
HESÍODO. Teogonia. A origem dos deuses. Trad. Jaa Torrano. 5 ed. São Paulo:
Iluminuras, 2003.
HÖLDERLIN, Friedrich. Reflexões. Trad. M. Sá Cavalcante e A. Abranches. Rio de
Janeiro: Relume Dumará, 1994.
HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. 22 ed. Rio de Janeiro: José
Olympio, 199.
HOUAISS, Antônio. Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio de Janeiro:
Objetiva, 2001.
214
JAKOBSON, Roman. Lingüística e comunicação. Trad. Izidoro Blikstein e J. P. Paes.
São Paulo: Cultrix, 1985.
JARDIM, Antônio. Música: vigência do pensar poético. Tese de Doutorado. Rio de
Janeiro: UFRJ,1997.
KANT, Immanuel. Crítica da razão pura. Trad. V. Rohden e U. B. Moosburger. Sao
Paulo: Nova Cultural, 1999.
LAPA, César Roberto de Vasconcellos. E o verbo pegou delírio: epifania poética da
verdade. Dissertação de Mestrado. Rio de Janeiro: UFRJ, 2002.
LÉVI-STRAUSS, Claude. O pensamento selvagem. Trad. M.C. da Costa e Souza e A.
de O. Aguiar. 2 ed. São Paulo: Companhia editora Nacional, 1976.
LINS, Ronaldo Lima. Nossa amiga feroz. Breve história da felicidade na expressão
contemporânea. Rio de Janeiro: Rocco, 1993.
MAGRITTE, René. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1995.
MAIAKÓVSKI. Poemas. Trad. B. Schnaiderman, Augusto e Haroldo de Campos. São
Paulo: Perspectiva, 1982. (SIGNOS, 10).
MARX, Karl. Manuscritos econômico-filosóficos e outros textos escolhidos. Sel. José
Arthur Giannotti. São Paulo: Abril Cultural, 1974.
MERLEAU-PONTY, Maurice. A prosa do mundo. Trad. Paulo Neves. São Paulo:
Cosac & Naify, 2002.
MICHELAZZO, José Carlos. Do um como princípio ao dois como unidade. Heidegger
e a reconstrução ontológica do real. São Paulo: Annablume / FAPESP, 1999.
NIETZSCHE, Friedrich. Humano, demasiado humano. Um livro para espíritos livres.
Trad. Paulo C. Souza. São Paulo: Companhia das letras, 2005.
NOVALIS. Pólen. Trad. R.R Torres Filho. 2 ed. São Paulo: Iluminuras, 2001.
215
NUNES, Benedito. No limite da transcendência. Folha de São Paulo, São Paulo, 9
mar.2003.
____. Passagem para o poético. (Filosofia e poesia em Heidegger). São Paulo: Ática,
1986.
OVÍDIO. Metamorfoses. Trad. Bocage. São Paulo: Hedra, 2000.
PAZ, Octavio. Signos em rotação. Trad. Sebastião Uchoa Leite. São Paulo:
Perspectiva, 1972.
PESSOA, Fernando. Ficções do interlúdio. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1980.
ROUANET, Sérgio Paulo. “Em nome de uma nova utopia”. Jornal do Brasil, Rio de
Janeiro, 8. nov. 2003. Idéias.
SCHILLER, Friedrich. Poesia ingênua e sentimental. Trad. Márcio Suzuki. São Paulo:
Iluminuras, 1991.
SCHLEGEL, Friedrich. Conversa sobre a poesia. E outros fragmentos. Trad. Victor-
Pierre Stirnimann. São Paulo: Iluminuras, 1994.
____. O dialeto dos fragmentos. Trad. Márcio Suzuki. São Paulo: Iluminuras, 1997.
SOUZA, Ronaldes Melo e. “A criatividade da memória”. IN: SANTOS, Francisco
Venceslau dos, org. Rio de Janeiro: Centro de Observação do Contemporâneo /
Caetés, 2001.
____. “Introdução à poética da ironia”. Linha de pesquisa. Rio de Janeiro, 1 (1): 27-48,
out. 2000.
____. “Poesia, filosofia e ciência”. Interfaces. Rio de Janeiro, 7: 57-81, 2000.
STEIN, Gertrude. Porta-retratos. Trad. Augusto de Campos. Ilha de Santa Catarina:
Noa Noa, 1989.
VERNANT, Jean-Pierre e VIDAL–NAQUET, Pierre. Mito e tragédia na Grécia antiga.
Trad. A. Prado, F. Garcia e M. Cavalcante. São Paulo: Brasiliense, 1988.
216
VICO, Giambattista. Princípios de (uma) ciência nova. Acerca da natureza comum
das nações. Trad. Antonio Lázaro de Almeida Prado. São Paulo: Abril, 1974.
WITTGENSTEIN, Ludwig. Tractatus lógico-philosophicus. Trad. L.H. Lopes dos
Santos. 3 ed. São Paulo: EDUSP, 2001.
Periódicos
ACCIOLY, Ana Regina. “O fazedor de “inutensílios”. Jornal do Brasil, Rio de
Janeiro,14 dez. 1993. Caderno B, p. 8.
AZEVEDO, Reinaldo e BRASIL, Rodrigo. “O traidor da natureza”. Bravo, São Paulo,
9: 28-37,jun. 1998.
____. “A sintaxe quando susto”. Bravo!, São Paulo, 15: 143, dez. 1998.
BARROS, André Luis. “O tema da minha poesia sou eu mesmo”. Jornal do Brasil,
Rio de Janeiro, 24 ago. 1996. Idéias, p. 8.
BORGES, João. “Gramática remota da pureza perdida”. O globo, Rio de Janeiro, 25
jul. 1993. Segundo caderno, p. 1.
CECÍLIA, Cláudia. “Alma infantil”. O dia, Rio de Janeiro, 23 set. 1999. Caderno D, p.
5.
COUTO, José Geraldo. “A estética do “bom-gostismo”. Folha de São Paulo, São
Paulo, 9 jan. 1994. Mais!, p.3.
FAGÁ, Marcelo. “Nasce um poeta, aos 72 anos”. Isto é Senhor, São Paulo: 72-74, mar.
1989.
GRAIEB, Carlos. “Tratado geral das grandezas do ínfimo”. Veja, São Paulo: 184-85,
dez. 2001
217
LOBATO, Eliane. “O murmúrio das palavras”. O globo, Rio de Janeiro, 7 nov. 1990.
Segundo caderno, p. 1.
LUCINDA, Elisa. “Poesia em comunhão”. Domingo, Rio de Janeiro, 1103: 3-5, jun.
1997.
MAUAD, Isabel Cristina. “Poeta busca estética do ordinário”. O globo, Rio de Janeiro,
29 dez. 1991. Livros, p. 5.
MAYRINK, Geraldo. “Com lama, suor e solidão”. Veja, São Paulo,1321: 96-97, jan.
1994.
VASSALO, Márcio. “O tempo feliz em que a lesma se entregava à pedra”. O Globo,
Rio de Janeiro, 24 mai. 2003. Prosa e verso, p. 4-5.
WALDMAN, Berta. “A poesia de Manoel de Barros: uma gramática expositiva do
chão”. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 27 mai. 1989. Idéias, p. 4-5.
Internet
ANDRADE JR, Antonio Francisco de. Com olhos de ver: poesia e fotografia em
Manoel de Barros. Zunái – Revista de poesia & debates.
CAETANO, Kati Eliana. A poética al dente de Manoel de Barros – O literário
fotográfico. INTERCOM. Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da
Comunicação.
CARPINEJAR, Francisco. Criançamento das palavras – fragmentos do ensaio “A
teologia do traste – A poesia de Manoel de Barros”. Zunái – Revista de poesia &
debates.
COSTA, Mônica Rodrigues da. Poeta estréia na literatura infantil.
www.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq1711199923.htm
COUTO, José Geraldo. An original artist, Manoel de Barros, is a poet specializing in
little things. www.brazzil.com/p43sep99.htm
218
CRUZ, Ester Milan da. A metapoesia em Manoel de Barros.
www.portasdasletras.com.br/metapoesia.html
DANIEL,Cláudio. Um poeta em busca da beleza difícil.
http://planeta.terra.com.br/arte/PopBox/acampos.htm
MELGAÇO, Otacílio. Enteléquia ou roteiro para uma excursão poética na
Nhecolândia. Manoel de Barros.
www.acostumadonatocaencegacomestrela.hpg.ig.com.br/viagens/9/index-pri-
1.htr...
MIRANDA, Ana Maria. O novo livro de Manoel de Barros.
www.ecomm.com.br/carosamigos/da_revista/edicoes/ed59/ana-miranda.asp
NETO, Miguel Sanches. Manoel de Barros e Rubem Fonseca escrevem livros que são
um retorno do mesmo. www.secrel.com.br/jpoesia/disseram12.htmlMENEZES,
Cynara. O artista quando coisa. www.secrel.com.br/jpoesia/1cynara.html
PONTY, Eric. Manoel de Barros – o falso primitivo.
http://intermega.com.br/ericponty/resenha/manoel/Eric%20pnty.htm


























































































































































































































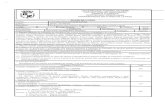





![Ecos da poesia no leitor mirim 1 - SciELO · Ecos da Poesia no Leitor Mirim [...] A poesia tem a função de pregar a prática da infância entre os homens. Manoel de Barros (1990,](https://static.fdocuments.net/doc/165x107/5fb0448b22508959564bff6d/ecos-da-poesia-no-leitor-mirim-1-scielo-ecos-da-poesia-no-leitor-mirim-a.jpg)


![RODRIGO MICHELL DOS SANTOS ARAUJO - ri.ufs.br · (Alberto Caeiro, heterônimo de Fernando Pessoa). [...] Mas se o nada desaparecer a poesia acaba. (Manoel de Barros) RESUMO ... Zen-budismo,](https://static.fdocuments.net/doc/165x107/5c38f20e09d3f211338bcd38/rodrigo-michell-dos-santos-araujo-riufsbr-alberto-caeiro-heteronimo-de.jpg)
