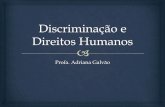A INTERSECCIONALIDADE E A DISCRIMINAÇÃO DE RAÇA E...
Transcript of A INTERSECCIONALIDADE E A DISCRIMINAÇÃO DE RAÇA E...

Departamento de História
A INTERSECCIONALIDADE E A DISCRIMINAÇÃO DE RAÇA E
GÊNERO NO ENSINO SUPERIOR: O CASO DA PUC-RIO.
Aluna: Bruna da Silva e Silva
Orientadores: Margarida de Souza Neves, Silvia Ilg Byington e Eduardo Gonçalves
Introdução
Um dos marcos da contemporaneidade reside em tentar lidar com a diversidade, individualidade e a identidade dos seres humanos. A PUC-Rio é uma instituição que existe há mais de setenta anos e para tanto, com o objetivo de preservar a memória institucional da Universidade e fazer com que as memórias de seus múltiplos e diversos egressos não fosse negligenciada, fez-se necessária a criação do Núcleo de Memória.
Em 2006, o Núcleo foi criado concomitantemente à comemoração dos 40 anos da universidade. Inicialmente o mesmo esteve voltado apenas para os estudantes de pós-graduação e aos poucos teve sua atuação estendida para todos. Assim foi definitivamente constituído o Núcleo de Memória da PUC-Rio, para que esta complexa tarefa zelar pela memória da Universidade pudesse ser realizada de maneira mais eficaz e disponibilizada à comunidade acadêmica.
Com o passar dos anos, através do acervo físico e digital - que é aberto para a colaboração de membros tanto dentro quando fora da PUC –, o Núcleo auxilia na preservação e no armazenamento da memória da instituição, para que os acontecimentos não fiquem relegados ao passado e possam continuar sendo construídos no presente por seus membros docentes e discentes. Para tanto, dentre as atividades propostas, destacam-se o site para a procura de acervos, a produção dos anuários, dos PIBICs e os eventos organizados, fazendo do Núcleo de Memória um espaço primordial dentro da universidade.
A coordenação da equipe é feita pela professora Margarida de Souza Neves, pelos pesquisadores: Silvia Ilg Byington, Clóvis Gorgônio e Eduardo Gonçalves. Incluem-se também o fotógrafo Antônio Albuquerque, os bolsistas de iniciação científica: Rodrigo Lauriano Soares, Milena Pereira, Bruna da Silva, Caren Ferreira, Miguel Azaldegui e André Mesquita Penna Firme.
Este relatório visa deixar disponível à comunidade minhas atividades enquanto bolsista, exercidas entre Novembro de 2015 a Julho de 2016, que se desdobram em duas partes: O relatório técnico descreve brevemente as atividades coletivas, feitas pela equipe do Núcleo de Memória, e as atividades individuais que exerci. O relatório substantivo, que consolida em texto a pesquisa realizada, encontra-se adiante.
Relatório Técnico
1 - Atividades em equipe

Departamento de História
É importante sinalizar que diversos tópicos presentes nesta parte do relatório foram escritos coletivamente pelos bolsistas. Entre novembro de 2015 e julho de 2016, realizei as seguintes atividades com a equipe do Núcleo de Memória da PUC-Rio:
01. Reuniões técnicas semanais com a participação de toda a equipe: coordenadores, pesquisadores e bolsistas; tendo como principais metas elaborar projetos, sistematizar a agenda de tarefas, trocar experiências, discutir textos produzidos pela equipe, estabelecer procedimentos metodológicos comuns e sanar eventuais dúvidas sobre a rotina de trabalho;
02. Publicação do acervo através do website do Núcleo de Memória da PUC-Rio;
03. Produção e edição de conteúdo, textos e imagens, para publicação no website do Núcleo de Memória da PUC-Rio;
04. Produção do Anuário da PUC-Rio;
05. A equipe do Núcleo de Memória escreve uma coluna para toda a edição do Jornal da PUC. Em 2015, a coluna teve como tema "A PUC-Rio e os 450 anos da cidade, e esse ano a temática é sobre os funcionários que completam 50 anos de trabalho na Universidade, e cada bolsista em parceria com algum coordenador irá escrever uma crônica;
06. Atendimento a solicitações relativas à pesquisa no acervo, cessão e autorização de uso de documentos e perguntas sobre temas abordados. As consultas, internas e externas à Universidade, são respondidas diretamente pela equipe ou encaminhadas aos setores responsáveis;
07. Consulta a professores, pesquisadores, ex-alunos e funcionários administrativos para coleta e aferição de documentos e informações pesquisadas.
08. Identificação de fotografias coletadas e selecionadas para cadastro no acervo do Núcleo de Memória da PUC-Rio;
09. Catalogação e sistematização do material documental através de digitalização e cadastro em metadados no acervo do Núcleo de Memória da PUC-Rio;
10. Realização de seminários teóricos internos com a participação dos componentes da equipe para discussão sobre conceitos de Memória. Esse ano, a equipe trabalhou com os seguintes objetos:
10.1. Seminário teórico interno no qual a equipe debateu os dois primeiros capítulos do livro "O Sabor do Arquivo" de Arlette Farge e discutimos sobre como a autora mobiliza os registros de arquivos policiais da França, no século XVIII, de modo a transverberar esse contexto social. Ao revelar essas situações, Farge mostra ao leitor que os documentos arquivados são como um conjunto de informações que permitem ao pesquisador descobrir novas histórias, crimes e costumes da sociedade da época. Através dessa abordagem, sua pesquisa no arquivo passa a ser interpretada como uma experiência encantadora, ao invés de ser retratada como uma vivência monótona.
10.2. Seminário teórico sobre o livro “Cidade das letras” de Ángel Rama; A equipe debateu questões elaboradas pelo autor sobre a construção dos símbolos e das cidades no contexto da colonização espanhola na América.
10.3. Seminário realizado pela professora Margarida de Souza Neves sobre conceitos de memória: Com o intuito de apresentar possíveis ferramentas teóricas para os projetos de PIBIC dos bolsistas e aprofundar o debate sobre a memória entre os membros do Núcleo, a professora introduziu distintos autores que versam sobre o tema, entre eles, Gilberto Velho,

Departamento de História
Pierre Nora, David Lowenthal, Tzevetan Todorov, Jacques Le Goff, Paolo Rossi e outros. Com um caráter mais expositivo, o seminário trouxe noções fundamentais sobre o assunto, e propôs relações entre elas. Entre distintas formas de se pensar a memória, influenciadas pelos múltiplos campos do conhecimento representados pelos autores, tivemos por exemplo, entendimentos que trazem a geografia como forma explanatória, como Lowenthal propõe ao falar do passado, transpassado pelos caminhos da história e memória, esta vista como “país estrangeiro” que deve ser explorada e descoberta. Ou também, através da antropologia, com Gilberto Velho analisando as relações orgânicas entre a memória, identidade e projeto, e como estas se constituíram com o advento das sociedades modernas individualistas. O ponto comum, que pode-se enxergar em meio a múltiplos saberes, é que memória é uma construção do presente, e que a consciência de seus usos e potenciais, é fundamental para que não se cometam abusos e não se limite as possibilidades do futuro. Contamos com a participação especial da mãe do bolsista André Penna-Firme.
10.4. Seminário realizado pelo bolsista André M. Penna-Firme sobre o artigo “Memória, identidade e projeto” do Gilberto Velho: Foi entendido que seria de auxílio à maioria dos bolsistas, que à altura do seminário estavam na reta final de escrita de seus relatórios, a discussão sobre os conceitos que Gilberto Velho relaciona em seu texto. O bolsista fez uma breve apresentação da estrutura do texto e como os conceitos são postos em jogo, para que em seguida fosse aberto um debate sobre estas categorias, tão complexas independente de o quanto nos relacionemos com elas todos os dias. A professora Margarida atentou para o caráter “não natural” da memória, e como essa presentifica o passado assim como os projetos trazem ao presente o futuro. Foi chamado atenção também para o cuidado ao se fazer a distinção entre a memória no mundo “moderno individualista”, como diz Velho, e a mesma em sociedades tradicionais, holísticas, e que não se pode pensar nesta como “mais verdadeira” que aquela, a partir do momento que se entende que toda memória é construção de narrativa e escolha, mesmo inconsciente, daquilo que se lembra. Na discussão foi ressaltado que memória, como o presente do passado, projeto, como o presente do futuro e identidade, se relacionam mutuamente e se influenciam ao passo que são influenciados, e que os três, apesar de transportarem tempos e experiências, acontecem somente no presente.
11. Esse ano o Núcleo de Memória está produzindo um livro sobre a Igreja do Sagrado Coração de Jesus, localizada na PUC-Rio, e os bolsistas em parceria com os coordenadores estão escrevendo os capítulos;
2 - Atividades individuais Durante o mesmo período que constam as atividades em equipe, realizei as seguintes
tarefas individuais no Núcleo de Memória:
01. Participação na oficina de metadados, junto com o bolsista Rodrigo Lauriano Soares, promovida pelo pesquisador Clóvis Gorgônio. Nela pôde-se perceber os diversos tipos de documentos que existem, como funcionam os sistemas de catalogação e com o auxílio do pesquisador Eduardo Gonçalves, cadastramos algumas fotos no banco de dados do Núcleo de Memória.
02. Digitalização dos exemplares da revista católica A Ordem, fundada no Rio de Janeiro, em 1921, por Jackson de Figueiredo e Alceu Amoroso Lima como Diretor-Responsável.

Departamento de História
Índice da revista A Ordem
Fonte: Acervo do Núcleo de Memória da PUC-Rio
03.No período de 2016.1, cursei a disciplina de Gênero/Relações Internacionais, com a professora Andrea Browning Gill e sua estagiária docente Amanda Álvares Ferreira. A disciplina explorou questões de gênero e sexualidade enquanto relações de poder na sociedade contemporânea, trabalhadas através de críticas e narrativas interseccionais, de modo a contemplar também as dinâmicas de raça e classe. No decorrer das aulas, consegui traçar pontes sobre o que estava aprendendo em sala com a minha pesquisa individual.
04.Participei do minicurso de Feminismo na América Latina, ministrado por Manoela Miklos, de 30 de maio de 2016 até o dia 01 de junho de 2016. Estas aulas me permitiram compreender o desdobramento das diversas ondas do feminismo na América Latina e como a interseccionalidade foi se formando no decorrer do processo de desenvolvimento do movimento feminista.

Departamento de História
05.Pesquisa no acervo do Jornal da PUC com o pesquisador Clóvis Gorgônio, a fim de encontrar imagens e informações publicadas no jornal sobre a construção da Igreja Sagrado Coração de Jesus, para a elaboração do livro sobre as obras de arte dessa Igreja.
06.Pesquisa sobre o seminário de iniciação científica PIBIC. A bolsa de estudos no Núcleo também implica na produção de um relatório de pesquisa para o Seminário de Iniciação Científica da PUC-Rio. A partir do meu interesse pessoal em questões de gênero e raça e minha vivência enquanto aluna da PUC-Rio, decidi formular uma pesquisa que abordasse a dinâmica entre raça e gênero. Como aluna, senti uma falta de professoras negras no corpo docente da graduação de Relações Internacionais o que também motivou a minha pesquisa. Utilizei o conceito de interseccionalidade, elaborado pela professora Kimberlé Crenshaw, para analisar a lacuna criada pela interseção entre raça e gênero no que diz respeito ao número de professoras negras na PUC-Rio, e o resultado da pesquisa será apresentado a seguir.
Relatório Substantivo
A INTERSECCIONALIDADE E A DISCRIMINAÇÃO DE RAÇA E
GÊNERO NO ENSINO SUPERIOR: O CASO DA PUC-RIO.
Aluno: Bruna da Silva e Silva
Orientadores: Margarida de Souza Neves, Silvia Ilg Byington e Eduardo Gonçalves
Introdução Questões de raça e gênero costumam ser bastante sensíveis e são essenciais para pensar
a experiência social histórico-brasileira. Na memória coletiva, a PUC-Rio é percebida como um local ocupado predominantemente por uma elite branca. Eu compartilhava dessa impressão ao entrar na PUC-Rio, porém a convivência diária me fez enxergar uma realidade diferente, e compreender o quão diversa a Universidade pode ser. Atualmente, a PUC-Rio procura ser mais inclusiva, e embora o número de minorias étnicas no corpo discente e docente da Universidade ainda esteja aquém do ideal, a presença de alunos e professores negros parece estar aumentando.
A seguinte pesquisa foi imensamente influenciada pela minha experiência como aluna de graduação em Relações Internacionais. No quadro efetivo do corpo docente do Instituto de Relações Internacionais, não há nenhuma professora negra, e atualmente há apenas um professor negro. Além disso, eu ainda era uma das poucas alunas negras na minha turma. Apesar de haver alguma diversidade de raça, classe, sexualidade e gênero na PUC-Rio, essa diversidade não é grande o suficiente para atenuar as desigualdades de raça e gênero quando estas se intersecionam. A minha perspectiva enquanto aluna e a maneira como a PUC-Rio é

Departamento de História
vista socialmente, me trouxeram os seguintes questionamentos: Aonde estão as docentes negras e se as mulheres negras são maioria dentre as mulheres no Brasil, por quê elas não estão mais bem representadas na Universidade? Será que PUC-Rio, de certa forma, ainda se mantém um espaço majoritariamente branco e elitista? Essas questões, somadas à minha experiência e à imagem da PUC-Rio que é perpetuada até hoje, e também ao meu interesse pessoal em questões de gênero e raça, me motivaram a pesquisar a questão da baixa representatividade de mulheres negras no âmbito acadêmico, utilizando a PUC-Rio como estudo de caso.
A interseccionalidade e a ideia de que a discriminação por raça e gênero estão relacionadas é em demasiado relevante para pensar a sub-representação feminina negra no ensino superior. O conceito de interseccionalidade, cunhado pela teórica de estudos críticos de raça e advogada Kimberlé Crenshaw, sugere que em contextos específicos, diferentes categorias sociais e biológicas, como sexo, gênero, raça, sexualidade, religião e classe se intersectam e interagem, gerando um sistema de opressão que revela a interseção de múltiplas formas de discriminação [1]. O conceito foi criado para suprir as diversas falhas – judiciais, teóricas e políticas - dentro do feminismo e do movimento negro que não dão conta de explicar por si sós as situações em que a descriminação não é só ao gênero ou à raça, mas à combinação destas duas categorias discriminatórias. Normalmente, os sistemas judicial e político não são capazes de prever em todas as situações a condição de ser mulher e negra sem dissociar uma identidade social da outra.
Muitas nações como o Brasil e os Estados Unidos, têm promovido discriminações racial e de gênero. No entanto quando as leis não preveem que as vítimas da discriminação racial podem ser mulheres e que as vítimas da discriminação de gênero podem ser mulheres negras, elas acabam não surtindo o efeito desejado e as mulheres ficam desprotegidas. [2]
A princípio, Crenshaw utiliza o conceito para pensar como o direito e a justiça respondem a questões que incluem discriminação de raça e gênero. As leis costumam examinar questões de raça e gênero individualmente, ignorando que mulheres de diversas etnias costumam sofrer discriminação baseada na sobreposição entre gênero e raça, tornando o sistema judiciário incapaz de combinar esses dois fatores de opressão, impossibilitando que a justiça seja feita para essas mulheres. Embora existam leis contra a discriminação que almejam remediar esse problema e punir quem comete estas práticas, quando um caso de natureza interseccional aparece numa corte, o crime não pode ser julgado de uma forma acurada, pois estas leis operam através de uma perspectiva singular de discriminação, aonde a diferenciação ocorre por um fator ou por outro. De acordo com a Lei, se a prática discriminatória em questão não puder ser comprovada como sendo ao gênero ou raça, então não houve um crime.
O caso analisado pela advogada foi um processo movido pela empresa De Graffen Reed contra a General Motors em 1976, nos Estados Unidos, quando diversas mulheres negras afirmavam terem sido discriminadas pela General Motors alegando que a mesma se recusava a contratar mulheres negras [3].
Havia emprego para negros, mas esses empregos eram só para homens. Havia empregos para mulheres, mas esses empregos eram só para mulheres brancas. Na General Motors, os empregos disponíveis aos negros eram basicamente o de postos nas linhas de montagem. Ou seja, funções para homens. E como ocorre frequentemente, os empregos disponíveis a mulheres eram empregos nos escritórios em funções como a de secretária. Essas funções não eram consideradas adequadas para mulheres negras. Assim,

Departamento de História
devido à segregação racial e de gênero presente nessas indústrias, não havia oportunidades de emprego para mulheres afro-americanas. Por essa razão, elas moveram um processo afirmando que estavam sofrendo discriminação racial e de gênero [4].
O tribunal não pôde compreender que este caso se tratava de uma discriminação interseccional, aonde ocorria um processo misto de discriminação entre raça e gênero. Logo, perante a justiça, não havia nenhum tipo de discriminação de gênero, pois havia mulheres sendo contratadas, nem de raça, pois contratavam-se negros.
É interessante indagar-se se há algo análogo que se repete no contexto brasileiro, particularmente na PUC-Rio. Na Universidade há mulheres brancas docentes, e também um pequeno contingente de professores homens negros. Contudo, dentre o número de professores negros, a quantidade de mulheres negras aparenta ser ainda menor. Nesse caso, a interseccionalidade pode atuar como uma ferramenta que, quando evocada, nos permite encontrar as lacunas e os pontos aonde as diferentes categorias de discriminação se encontram, criam um problema singular, que muitas vezes não é óbvio quando examinamos a situação por um viés ou outro. É importante analisar o problema da pouca presença de mulheres negras no Ensino Superior através desse mecanismo, para compreender que sua condição enquanto mulher é influenciada também pela sua etnia e classe.
Para compreender a discriminação interseccional A ideia de que existe uma relação entre a raça e gênero na discriminação sofrida pela
mulher negra, precede a criação do conceito de interseccionalidade, ferramenta importante para o movimento feminista atual. Nos Estados Unidos, lugar de origem do conceito, diversas mulheres negras abolicionistas reconheciam a sobreposição da discriminação entre raça e gênero na vivência da mulher negra. No século XIX, é possível observar nos discursos de mulheres como Anna Julia Cooper [5], Maria Stewart [6] e Soujourner Truth [7], a relação entre a discriminação de raça e gênero. Ainda que Anna Cooper tratasse da dificuldade de acesso ao ensino superior, enquanto Maria Stewart defendia pautas abolicionistas, ambas chamavam atenção para a sobreposição das diferentes categorias de discriminação que dificultavam a inserção das mulheres afrodescendentes na universidade ou no mercado profissional.
A interseccionalidade surge no feminismo negro a partir da percepção de que a opressão não é um processo singular ou uma relação política binária, mas é melhor compreendida como sendo constituída por um sistema múltiplo, que se entrelaça e converge – o conceito deriva de críticas feministas às alegações de que a opressão feminina pode ser capturada apenas por uma análise de gênero [8]. O conceito diz respeito a múltiplas categorias de subordinação ou identificação social e biológicas que se intersectam, gerando uma experiência de opressão específica para as pessoas que incorporam essas interseções. Além de ser uma ferramenta que pode ser mobilizada para encontrar situações em que o processo de discriminação é misto, a interseccionalidade também pode servir como uma ponte entre questões de gênero e raça nos discursos sobre direitos humanos – uma vez que parte do projeto da interseccionalidade visa incluir questões raciais nos debates sobre gênero e direitos humanos, e incluir questões de gênero nos debates sobre raça e direitos humanos [9]. No que diz respeito às questões de gênero, a prática dos direitos humanos se desenvolve a partir do pensamento que os direitos das mulheres e os direitos humanos são iguais e pertencentes um ao outro, fazendo parte de uma única estrutura. Essa premissa reflete o modo como, tradicionalmente, quando as mulheres vivenciam situações de violação dos direitos humanos semelhantes àquelas vivenciadas por homens, elas estavam protegidas. Contudo, quando a infração passa a ser especificamente relacionada à questão de gênero, como é o caso de estupros e gravidez ou

Departamento de História
casamento forçado, os direitos humanos não davam conta de lidar com essas violações específicas. Posteriormente, após as conferências de Viena, em 1992, e Pequim, em 1995, passa-se a entender que as mulheres devem ser protegidas tanto em situações em que as violações de seus direitos são iguais às violações vividas por homens, quanto em ocasiões nas quais a experiência discriminatória é diferente e perpassa a questão de gênero.
Crenshaw afirma que a essa linha de raciocínio pode ser aplicada a questões que dizem respeito à discriminação de raça e gênero. Em se tratando de discriminação racial, quando esta se manifestava na negação da participação política, considerava-se que isso representava uma forma de violação dos direitos humanos. No entanto, quando a discriminação era vivenciada como outras formas de segregação, "[...] o desafio era fazer com que essas diferenças nas formas pelas quais as pessoas negras sofriam violações de direitos humanos fossem consideradas à luz de um entendimento mais amplo dos direitos humanos" [10]. Ambas questões de gênero e raça lidam com a diferença, "[...] o desafio é incorporar a questão de gênero à prática dos direitos humanos e a questão racial de gênero" [11], o que significa que homens e mulheres podem vivenciar situações diferentes de racismo de maneiras que estão especificamente vinculadas ao seu gênero. Logo, as mulheres devem ser protegidas quando são vítimas da mesma forma de racismo que os homens sofrem, e também quando a discriminação por raça ou gênero faz com que a experiência discriminatória vivenciada pelas mulheres seja diferente. Quando as mulheres negras sofrem o mesmo tipo de discriminação que as mulheres brancas, ambas devem ser protegidas igualmente. Contudo, elas também devem ser protegidas quando sofrem discriminações raciais e de gênero que as mulheres do grupo dominante não sofrem, e nesse ponto que se encontra o desafio da interseccionalidade: estabelecer mecanismos – que podem ser políticas públicas ou legislações - que atendam à mulheres que incorporam diversas interseções, e situações específicas.
A problemática com a prática tradicional dos direitos humanos é que a visão tradicional parte da premissa que as pessoas em questão ocupam diferentes categorias, fazendo com as diversas discriminações sejam compreendidas como categorias individuais: "[...] a discriminação de gênero é pertinente às mulheres, a racial diz respeito apenas à raça e à etnicidade, e a discriminação de classe diz respeito apenas aos pobres" [12]. É um processo de separação desses grupos, que acaba por desconsiderar que estas categorias de discriminação podem atuar concomitantemente, de uma maneira peculiar para as pessoas que se encontram no meio dessa interseção. A abordagem interseccional sugere que alguns casos não se tratam de uma categoria específica de pessoas, mas com grupos que se sobrepõem. No caso da General Motors, ao concluir que a montadora não havia cometido nenhum tipo de discriminação racial ou de gênero, o tribunal indicava que se a experiência de racismo não fosse a mesma dos homens, e a de gênero não fosse a mesma sofrida pelas mulheres brancas, então não houve nenhum tipo de discriminação, e a discriminação sofrida pelas mulheres negras é invalidada. As mulheres negras que denunciaram a General Motors por suas práticas discriminatórias não conseguiram apresentar evidências individuais de discriminação de raça e de gênero, pois a discriminação mista entre gênero e raça estava sendo vivenciada apenas por elas.
Crenshaw descreve a interseccionalidade como ruas:
Se uma pessoa imaginar uma interseção ela visualizará ruas que seguem em direções diferentes – norte-sul, leste-oeste – e cruzam umas com as outras. Isso seria o que eu chamo de eixos da discriminação. Podemos pensar sobre a discriminação racial como uma rua que segue do norte para o sul. E podemos pensar sobre a discriminação de gênero como uma rua que cruza a primeira na direção leste-oeste. Esses são os sulcos profundos que podem ser observados em qualquer sociedade pelos quais o poder flui. O tráfego, os

Departamento de História
carros que trafegam na interseção, representa a discriminação ativa, ou seja, as políticas contemporâneas que excluem indivíduos em função de sua raça e de seu gênero [13].
Posteriormente, a autora complementa a explicação fazendo uma comparação ao Grand Canyon nos Estados Unidos:
É um enorme desfiladeiro criado por fluxos d'água durante milhões de anos, pela pressão da água, fluindo numa determinada direção. Esse fluxo d'água criou sulcos profundos nos quais a água continua a correr. Vamos imaginar: os eixos seriam os sulcos profundos criados, ao longo de séculos, por políticas e práticas baseadas na raça e no gênero. A parte ativa é o contemporâneo, aquilo que passa por esses sulcos e efetivamente afeta os que estão na interseção. Se uma pessoa estiver no meio de uma interseção, ela poderá prever que ocorrerão colisões nessa interseção e que provavelmente estará no meio dessas colisões [14].
Essas analogias nos permite compreender melhor como o conceito opera. A partir destes exemplos, Crenshaw procura analisar as possíveis colisões com a qual a mulher negra pode se deparar, dividindo o processo discriminatório em três movimentos: a discriminação contra grupos específicos, a discriminação mista ou composta e a subordinação estrutural. A discriminação contra grupos específicos diz respeito ao efeito causado pela combinação das estruturas de raça e de gênero, o que marginaliza as mulheres que já estão na base. A discriminação mista ou composta, mencionada anteriormente, é o que ocorre no caso da General Motors. É a combinação entre a discriminação racial e a discriminação de gênero, o que faz com que as mulheres negras sejam afetadas de modo específico, devido a confluência dessas duas categorias de discriminação. Por fim, a autora optou por não utilizar o termo discriminação para descrever esse fenômeno, pois subordinação estrutural não é direcionada para um grupo específico. Na subordinação estrutural não há a figura de um discriminador ativo, ou seja, uma entidade ou força que esteja oprimindo diretamente. Essa subordinação não é resultante de políticas locais, mas de políticas internacionais, que tem um determinado impacto em certas mulheres de acordo com a posição ocupada na estrutura socioeconômica. Como exemplo, Crenshaw menciona as políticas de ajustes que alguns países adotam compulsóriamente:
Geralmente políticas de ajustes estruturais obrigam os países subalternos a desvalorizar suas moedas, o que, por sua vez, reduz salários e restringe serviços sociais, geralmente forçando as mulheres a assumirem serviços que deixam de ser prestados, como o de cuidar de idosos, doentes, […]. Mas há outros elementos envolvidos. Em decorrência de sua boa condição socioeconômica, algumas mulheres conseguem contratar mão-de-obra de outras mulheres para assumirem esses serviços de cuidados. As contratadas em geral, são mulheres economicamente marginalizadas, que, por essa razão são também socialmente socialmente marginalizadas, situadas na base da pirâmide socioeconômica. […] É isso que eu chamo de subordinação estrutural, a confluência entre gênero, classe, globalização e raça [15].
O problema da discriminação interseccional, que por sua vez resulta na subordinação e discriminação sofrida pela mulher negra, leva ao questionamento da discriminação em si e porque essa discriminação é invisibilizada dentro dos movimentos sociais, políticos e de políticas intervencionistas. Mesmo dentro do movimento feminista e do movimento negro, raça e gênero são questões mutuamente excludentes. O movimento negro não costuma atender

Departamento de História
as demandas geradas pela discriminação de gênero, e o movimento feminista em diversos momentos da história de sua consolidação marginalizou as mulheres negras e falhou em reconhecer as peculiaridades do sexismo racializado que elas sofrem. Esse fenômeno ocorre porque as mobilizações ocorrem a partir do grupo racialmente dominante no movimento feminista – nesse caso, as mulheres brancas –, e do grupo dominante enquanto ao gênero no movimento negro. Essa situação contribui para a invisibilização da mulher negra. Embora, enquanto mulheres, sejam capazes de falar sobre os problemas comuns a todas as mulheres, suas necessidades específicas não são discutidas, o que torna as mulheres negras subincluídas, pois muitos dos problemas pertinentes às mulheres negras não são incluídos na pauta feminista, e as problemáticas levantadas pelas mulheres desse movimento nem sempre consideram categorias discriminatórias como raça e classe como um dos fatores contribuintes para a desigualdade social. Logo, o problema da subinclusão ocorre quando um problema de gênero não é anexado às pautas do movimento, por atingir apenas um grupo específico de mulheres. O mesmo ocorre dentro do movimento negro, quando problemas de mulheres negras claramente relacionados ao gênero não são discutidos como também sendo um problema racial.
Segundo Crenshaw, é importante reconhecer que atualmente já existem aparatos judiciais que ajudam a combater a discriminação interseccional, pois teoricamente as mulheres já estão protegidas contra qualquer discriminação racial, ainda que esta seja diferente do racismo sofrido pelos homens, e também temos mecanismos de combate à discriminação de gênero, ainda que a experiência da mulher negra seja diferente da experiência de uma mulher branca. A autora também propõe que para minimizar a discriminação interseccional,
[...] precisamos reconfigurar nossas práticas que contribuem para a invisibilidade interseccional. Isso inclui a integração dos diversos movimentos e inclui a nomeação de uma mulher para chefiar a seção que cuida da discriminação racial e não considerar isso incomum de forma alguma [16].
É crucial que as mulheres passem a ocupar este locais, pois a presença delas não indica apenas a normalidade de sua presença, mas também a possibilidade de que as vozes e as pautas dessas mulheres se façam ouvir nos espaços públicos. Adotar uma abordagem interseccional para a coleta de informações também é importante, assim como, através do relato de diversas mulheres, ouvi-las e tentar compreender como esses fatores se relacionam e afetam a vida dessas mulheres. É necessário identificar especialistas em nível local que trabalhem diretamente com mulheres negras e que entendam como esses múltiplos fatores influenciam a vivência da mulher negra. Dessa forma, a discriminação interseccional deixaria de ser um problema que marginaliza e deixa tantas mulheres desprotegidas. A interseccionalidade, portanto, é uma ferramenta que pode ser utilizada de modo a pensar políticas e práticas mais inclusivas.
O feminismo negro e a discriminação de gênero e raça no Brasil No Brasil, autoras como Luiza Bairros, Beatriz Nascimento, Lélia Gonzalez, Sueli
Carneiro, entre outras, também reconheceram a simultaneidade na discriminação de gênero e raça, e contribuíram imensamente para a formação dos movimentos negro e feminista no Brasil. Ajudaram a aprofundar os debates sobre de raça e gênero, e enfatizaram a importância de se discutir racismo e sexismo juntos, tanto para definir políticas contras discriminações sociais, quanto para pensar o conceito de cidadania [17].

Departamento de História
No texto Racismo e sexismo na cultura brasileira, Gonzalez (1983) discute sobre como o sexismo e o racismo permeiam a vida da mulher negra no Brasil e como isso influencia o modo como elas são tratadas perante a sociedade.
Gonzalez se interessa em pensar de que forma a articulação entre sexismo e racismo funciona como um dos operadores simbólicos do modo como as mulheres negras são vistas e tratadas no país. Para a autora, racismo e sexismo engendram a violência contras as mulheres negras e explicam o fato de que mesmo mulheres negras da classe média sejam vítimas de discriminação. Ou seja, não se podem compreender as discriminações e a opressão sofridas pelas mulheres apenas pelos vieses de gênero e classe social [18].
Em trabalhos posteriores, Gonzalez constata que ao ater-se apenas às categorias gênero e classe, os estudos sobre mulheres brasileiras contribuem para a naturalização das desigualdades raciais. Segundo a autora, as mulheres negras sofrem uma espécie de opressão tripla, que envolve discriminação por raça, gênero e classe social. Historicamente, o movimento feminista costuma priorizar a fala de mulheres brancas e as questões raciais costumavam ser deixadas de lado. Em contrapartida, o movimento negro muitas vezes reproduzia o sexismo, o que dificultava as discussões referentes ao gênero. Feministas negras alertam que homogeneizar o feminismo e a ausência da dimensão racial na luta contra o sexismo, “expressa uma sobrepujança da ideologia colonizadora - eurocêntrica, masculina e branca - nas entrelinhas de ‘uma teoria e de uma prática que se afirmam como libertárias’” [19].
Considerando que o feminismo, portanto, não é universal, Sueli Carneiro, criou a expressão “enegrecendo o feminismo” [20] para descrever a luta das mulheres negras dentro do movimento feminista. A autora também assinalou o recorte ocidental e branco das produções teóricas do feminismo hegemônico e demonstrou como essas produções não percebem as desigualdades de gênero e intragênero, justamente por não levar em consideração a condição específica de ser mulher, negra, e em geral, pobre [21]. Em um trecho de Mulheres em movimento, Carneiro reconhece a ligação entre as diferentes categorias de opressão :
Feminismo esteve [...] prisioneiro da visão eurocêntrica e univeralizante das mulheres. A consequência disso foi a incapacidade de reconhecer as diferenças e desigualdades presentes no universo feminino [...] Dessa forma, as vozes silenciadas e os corpos estigmatizados de mulheres vítimas de outras formas de opressão além do sexismo, continuaram no silêncio e na invisibilidade.[...] Enegrecendo o feminismo é a expressão que vimos utilizando para designar a trajetória das mulheres negras no interior do movimento feminista brasileiro. [...] uma agenda específica que combateu, simultaneamente, as desigualdades de gênero e intragênero; afirmamos e visibilizamos uma perspectiva feminista negra que emerge da condição específica do ser mulher, negra e, em geral, pobre [22].
O feminismo negro começa a se desenvolver numa oposição ao feminismo branco, que é o movimento feminista predominante e que costuma desconsiderar o que pode ocorrer quando diferentes categorias de discriminação e subordinação se cruzam. O feminismo negro atua de forma a apreender as demandas de mulheres negras, cujos problemas costumam não ser atendidos pelo feminismo que reproduz o eurocentrismo e possui tendências individualistas. Ao adotar uma abordagem homogênea no feminismo, ignora-se a forma com que o racismo, o classismo e a homofobia são capazes de interagir com sexismo e afetar negativamente mulheres das mais variadas origens. É importante ressaltar nossas semelhanças, o que nos permite cultivar um sentimento de alteridade e empatia por outras

Departamento de História
mulheres, mas é necessário reconhecer nossas diferenças também. Por mais que em determinados contextos faça sentido focar nas semelhanças entre a subordinação vivenciada pelas mulheres de modo geral, ater-se somente a esse aspecto traz o risco de ignorar os problemas que são particulares às mulheres negras. Ignorar a diferença contribui para invisibilizar ainda mais essas histórias e segregar as vozes de um grupo de mulheres já marginalizadas. A necessidade de discutir questões de raça e gênero no movimento feminista no Brasil é semelhante ao processo de subinclusão mencionado por Crenshaw, e embora esteja se referindo ao contexto americano, o descaso com os problemas específicos às mulheres negras, decorrentes da sobreposição entre raça e gênero, no movimento negro e no movimento feminista também ocorre no contexto brasileiro.
A subinclusão das pautas referentes às mulheres negras no movimento feminista e no movimento negro, caminham lado a lado com a representação muito aquém do desejado dessas mulheres nas mais diferentes esferas da sociedade. Historicamente, os espaços públicos foram ocupados pela figura masculina, e às mulheres ocuparam o âmbito privado. Apesar de alguns avanços e da gradativa inserção das mulheres nas mais diversas camadas da sociedade, a busca por maior representação feminina nas esferas públicas - política, Academia - persiste, especialmente no que diz respeito às mulheres negras, pois elas tem desvantagens raciais em relação às mulheres brancas, e de gênero em relação aos homens. Elas são a maioria numérica da população [23] e deveriam estar mais bem representadas, contudo, são as que menos tem representatividade política e acadêmica pois tem dificuldades em acessar esses espaços de poder, tamanha a desigualdade social em que se encontram.
Há mecanismos de poder, velhos como o mundo, que se reproduzem historicamente e que ainda excluem e limitam a participação política das mulheres: na nossa sociedade, o espaço reservado às mulheres era tradicionalmente o espaço privado, doméstico, junto à família; o espaço público – a rua e locais de encontro, estudo, reuniões e debates – era considerado exclusivamente espaço para trânsito dos homens [24].
A partir do conceito de interseccionalidade e da ideia de que os processos de opressão ocorrem não como um processo singular ou binário, mas consistem em várias categorias de discriminação que se intersectam [25], a falta de representatividade pode ser pensada não apenas como um problema de gênero: existe simultaneidade entre gênero, classe e raça na vida dos indivíduos, portanto a discriminação não é apenas como um ato isolado. A subrepresentação feminina também pode ser interpretada como um problema ocasionado pela masculinização dos espaços de poder e a estrutura patriarcal da sociedade, pois a exclusão política e social “se alimenta da permanência da dominação masculina nas outras esferas sociais e contribui para perpetuá-la” [26]:
Para que se possibilite igualdade de oportunidades para as mulheres disputarem os mandatos eletivos é essencial o reconhecimento de que não há a “mulher” e, sim, mulheres, a requererem suportes diferenciados, em face de suas distintas necessidades. Não dá para estandardizar as iniciativas potencialmente includentes da presença de mulheres, tendo às demandas relativas às mulheres brancas como as únicas a serem relevadas. Isso, além de replicar nas lutas do movimento de mulheres e do movimento feminista a ideologia eurocêntrica, branca e masculina dominante, retira das mulheres negras o direito de exercer a cidadania passiva (capacidade de serem votadas), com perspectivas de vitórias; desconsiderando, inclusive, o fato de elas terem o direito de reivindicar e promover – diretamente e na condição de detentoras de mandatos eletivos – as mudanças compreendidas como

Departamento de História
importantes e essenciais à população negra e especificamente, às mulheres negras, que perfazem maioria no Brasil [27].
A divisão social de trabalho está relacionada à produção de categorias culturais dialéticas, que se confirmam e se constroem mutuamente, como por exemplo: a construção da oposição entre público/privado, branco/negro e masculino/feminino. A formação das esferas público/privado foi feita de forma sexuada, que relega as mulheres ao espaço doméstico e ao mesmo tempo às exclui da esfera pública, dificultou o processo de inserção das mulheres no ambiente público. A ausência de mulheres nos espaços públicos ao longo dos anos e a relação de dominação do masculino sobre o feminino contribuíram para as desigualdades entre homens e mulheres dentro desses espaços.
Estando a razão e o poder socialmente associados ao masculino, as organizações burocráticas, baseadas na racionalidade e na hierarquia, tendem a reservar para as mulheres posições subordinadas. Os processos pelos quais se introduz esta "sexualização" do poder no emprego são múltiplos e complexo. Eles passam também pela mediação da sexualidade. Nos espaços mistos do trabalho onde convivem homens e mulheres pode-se identificar um mecanismo quase universal: a construção da diferença. Ora, em matéria de categorização social, a via é estreita entre diferenciar e hierarquizar [28].
A noção de mulher como força de trabalho secundária é estruturada a partir da separação e hierarquização entre as esferas do público e do privado da produção e da reprodução [29]. Em se tratando da mulher negra, o acesso à esfera pública é ainda mais árduo, pois além de estarem numa posição subordinada pelo seu gênero, encontram-se em desvantagem perante as mulheres brancas devido a sua etnia. Ao descer os níveis da hierarquia presentes nas mais diversas camadas do espaço público, as mulheres negras costumam ocupar os lugares mais baixos em maior número. A construção de mecanismos de diferenciação - estereótipos que reforçam a posição das mulheres de subordinação, construídas em oposição à figura do homem branco - nas esferas público/privadas e a atribuição da vida privada às mulheres, se traduz no mercado de trabalho brasileiro. As desigualdades no mercado de trabalho persistem através de um grande número de mulheres que prestam serviços em condições precárias e recebendo remunerações mais baixas, principalmente no trabalho doméstico. A partir da construção de que os afazeres domésticos são responsabilidade da mulher, o trabalho doméstico passa a ser naturalizado como algo feminino. Além disso, a aprendizagem dos afazeres domésticos ocorre no seio familiar, logo não é preciso passar por um processo de especialização formal, então somado à naturalização do trabalho doméstico como feminino está "[..] a desvalorização dos processos de aquisição de competências que ocorrem fora das instituições formais" [30]. O trabalho doméstico é pautado pela invisibilidade, informalidade, condições de trabalho precárias ou inadequadas e baixo rendimento salarial. No Brasil, a maior parte das mulheres que atuam nesse segmento é negra, o que torna o trabalho doméstico uma atividade aonde a discriminação por raça e gênero contribui para perpetuar as desigualdades enfrentadas pelas mulheres, principalmente pelas mulheres negras no mercado de trabalho [31].
Os estudos sobre as relações de gênero e as disparidades de poder entre os feminino e o masculino, nos permite compreender melhor a complexidade das dinâmicas existentes nessas relações, o que possibilitou a desconstrução de diversos fenômenos históricos, tal como superar a abordagem de diferenciação ou subordinação baseada em atributos biológicos. Vários estudos já apontaram que as relações entre homens e mulheres atravessam a sociedade e se articulam como o conjunto das relações sociais e podem ser modificadas historicamente [32]. A maior presença das mulheres no mercado de trabalho contribuem para visibilizar as

Departamento de História
dinâmicas da esfera privada, além de mostrar as experiências das mulheres no mercado de trabalho, e como isso se reflete na sociedade.
A permanência da divisão desigual do trabalho familiar e doméstico influencia as desigualdades entre homens e mulheres no mercado de trabalho. A permanência das obrigações domésticas e do cuidado como tarefas de responsabilidade predominantemente femininas no mundo privado impactam a segregação sexuada, no mercado de trabalho. Mesmo que as mulheres tenham alcançado uma participação crescente no mercado de trabalho obtendo efeitos mais positivos na busca pela igualdade e cidadania, elas ainda encontram limites para a realização de sua autonomia [33].
Ainda que instituições como a OIT tentem implementar condições de trabalho adequadas para as profissões mais desvalorizadas, muitas mulheres, em sua maioria negras e pobres estão excluídas do mercado de trabalho, pois não tem as qualificações necessárias para exercer o trabalho formal. A entrada da mulher no mundo do trabalho não foi acompanhada do remodelamento da divisão sexual do trabalho doméstico e da atribuição à mulher de um papel secundário no mercado de trabalho [34]. O aumento da pobreza não é apenas uma consequência da ausência de renda, mas é influenciada por diversos outros fatores, como a ausência de poder, discriminação, subordinação social do gênero feminino e a dificuldade em acessar os serviços públicos. Esses fatores se vinculam às disparidades sociais já existentes, eles diminuem ainda mais o poder de ação e representação das mulheres das mulheres que estão excluídas socialmente. As disparidades nas relações de poder entre homens e mulheres se manifestam de diferentes formas na convivência social diária, e estas desigualdades sustentam um sistema interações que faz com que as mulheres estejam em desvantagem perante os homens. A exposição a fatores como vulnerabilidade, pobreza e privação são responsáveis por manter as mulheres em círculos de precariedade, muitas vezes difíceis de serem rompidos [35].
A Universidade enquanto esfera pública: a PUC-Rio
Assim como uma visão de feminismo que homogeneíza a luta das mulheres, na construção das esferas pública e privada também é passível de problematização. Historicamente, o espaço público foi construído como um espaço masculino, e o esquema mental que fazia com que a esfera pública fosse vista como estranha às mulheres, também fundava mecanismos estruturais que impediam o acesso delas a esta esfera [36]. O resultado disso era, segundo Luis Felipe Miguel:
[...] aquilo que Bourdieu (1979, p.549) chamava de “efeito de doxa”: a coincidência entre as visões de mundo e a experiência de mundo. Se a política é entendida como um terreno masculino e, ao olhar para a política, eu só vejo (ou quase só vejo) homens, posso entender a exclusão das mulheres como algo “natural” [37].
Embora Miguel esteja se referindo especificamente à presença feminina na política, a inserção das mulheres no Ensino Superior também ocorreu de forma gradativa, de modo a ocupar espaços que antes não lhe pertenciam. É plausível indagar-se se “efeito de doxa” se repete de forma análoga na PUC-Rio: se a PUC-Rio é entendida como um terreno majoritáriamente branco, e ao olhar para a Universidade eu só vejo (ou quase só vejo) homens e mulheres brancos, posso entender a subordinação das mulheres negras como algo supostamente natural. A ausência das mulheres negras nos espaços públicos reforça esse processo de exclusão como algo natural. Grande parte das discussões sobre a sub-representação feminina nos espaços de poder falham em considerar que a questão racial impõe uma desigualdade entre as mulheres, distinguindo-as em oportunidades, mesmo

Departamento de História
quando o que se quer alcançar é a inclusão [38]. E com poucas mulheres negras, a PUC-Rio se afirma enquanto um território majoritáriamente e tradicionalmente branco. Em suma, as mulheres que conseguem romper o monopólio branco tem um efeito-demonstrativo e simbólico, e ainda que essa presença seja significativa, elas continuam sendo exceções num local que socialmente não lhes pertence. Então, torna-se possível ter um punhado de mulheres negras bem-sucedidas e que ocupam cargos importantes dentro da Universidade e, simultaneamente, mantê-la como um espaço de maioria branca.
Se a Academia é um espaço tradicionalmente dominado por homens brancos, logo o gênero feminino estaria numa posição subalterna dentro dessa hierarquia, e quando a etnia das mulheres em questão não é branca, elas passam a ocupar uma posição ainda mais inferior em relação à mulher branca. Portanto, é imprescindível fazer um recorte de raça aliado à questão de gênero, pois, socialmente, as disparidades entre as mulheres brancas e negras são muito grandes para serem ignoradas.
A fim de saber quantos funcionários e professores negros, e quantas desse contingente são mulheres, solicitei à Gerência de Recursos Humanos da PUC-Rio um levantamento quantitativo dos registros dos funcionários por gênero e etnia, e perguntei se havia algum tipo de registro que cruzasse essas duas informações, resultando num número de professoras e funcionárias negras. A Gerência de Recursos Humanos da Universidade possui esses dados desde 1998, que são preenchidos no ato de admissão do funcionário. Não se sabe se esses dados foram solicitados no passado, ou se alguém já trabalhou com essas informações anteriormente. No campo referente à etnia, os funcionários e professores recém-admitidos podem se definir como indígena, branco(a), preto(a), amarelo(a) e pardo(a).
Funcionários e Professores - Raça/Cor Preta

Departamento de História
Levantamento dos funcionários declarados “negros” da PUC-Rio, com os números de
funcionários negros ativos, afastados e demitidos de 1999 à 2016. Fonte: Gerência de Recursos Humanos da PUC-Rio
Não obtive acesso à informação sobre quantos funcionários foram admitidos na Universidade a cada ano. A Gerência de Recursos Humanos da Universidade também não disponibilizou a relação de funcionários categorizados por gênero.

Departamento de História
Levantamento dos professores declarados “negros” da PUC-Rio, com os números de
funcionários negros ativos, afastados e demitidos de 1999 à 2016. Fonte: Gerência de Recursos Humanos da PUC-Rio
Novamente, não obtive acesso às informações relativas ao número de professores negros admitidos na Universidade.
Ao analisar as listas, nota-se que o número de funcionários negros é muito maior que o número de professores. Não há uma ferramenta de registro que faça um cruzamento entre a raça e o gênero dos funcionários, então não há como precisar dentro do número total de professores negros, quantas são mulheres, e dentro do número de mulheres, quantas delas são negras. Vale ressaltar que, através da autodeterminação, os funcionários e professores podem informar ou não sua etnia no processo de admissão, o que também dificulta a obtenção de um número acurado de funcionários e professores negros. É difícil determinar com precisão a etnia dos funcionários e professores, pois eles podem não se reconhecer enquanto negros, e podem não ser lidos socialmente enquanto negros.
É importante questionar o significado das ausências de informações. A falta de registros – e de interesse em criar esses registros – que interseccionem raça e gênero, pode ser um dos indicativos de que a sociedade brasileira ainda repousa sobre o mito da democracia racial. Um registro interseccional poderia ser um forte elemento a impulsionar iniciativas que considerassem a perspectiva racial de gênero como elemento indispensável para aplacar a subrepresentação das mulheres negras nos espaços públicos, além de fornecer uma forma mais efetiva de saber aonde se encontram as mulheres negras da PUC-Rio, quais cargos elas

Departamento de História
ocupam, e indagar porque elas ocupam esses cargos e o que as impede de acessar posições de maior visibilidade.
Conclusão Embora a PUC-Rio tente se tornar cada vez mais inclusiva e diversa, a presença de
mulheres negras no corpo docente da PUC-Rio, ainda é muito pequena. As informações disponibilizadas pela Gerência de Recursos Humanos da Universidade necessitam ser problematizadas, uma vez que o registro depende da autodeterminação dos professores e funcionários quanto a sua etnia, e muitos deles optaram por não fornecer essa informação. No caso da definição de gênero, a informação não é opcional, e essa discrepância também merece ser considerada. Por ser opcional, não há um número acurado de professoras negras lecionando na PUC-Rio, o que reforça a premissa de uma ausência de abordagem interseccional que fundamente as informações dentro da Academia. Talvez essas informações, possam fornecer possibilidades para uma ação afirmativa no sentido da necessidade de entrecruzar dados de raça e gênero na universidade e dentro de outros espaços profissionais.
Discutir a inclusão da mulher negra na academia por um viés interseccional é compreender que diferentes mulheres, de diferentes etnias e status socioeconômicos possuem diferentes necessidades, e que a descriminação não atinge todas as mulheres da mesma forma, e que isso tem um efeito direto em como essas mulheres negras são capazes ou não de acessar os espaços públicos e quais as posições desses cargos dentro de uma estrutura institucional. É importante indagar o significado das ausências de informações precisas sobre as mulheres negras lecionando na PUC-Rio, e o que a baixa representação de mulheres negras enquanto docentes representa dado contexto brasileiro, e gostaria de me aprofundar mais nesse e em outros questionamentos numa pesquisa futura.
Referências bibliográficas 1 - CRENSHAW, Kimberlé. Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory, and Antiracist Politics. University of Chicago Legal Forum, 14, 1989, p. 538–54.
2 - CRENSHAW, Kimberle. A Intersecionalidade na Discriminação de Raça e Gênero. (Xerox, s/d) Disponível em http://www.acaoeducativa.org.br/fdh/wp-content/uploads/2012/09/KimberleCrenshaw.pdf Acesso em junho de 2016.
3 – Ibidem, p. 10.
4 – Ibidem, p.11.
5 - BLACKPAST. Cooper, Anna Julia Haywood (1858-1964) Disponível em:<http://www.blackpast.org/aah/cooper-anna-julia-haywood-1858-1964>. Acesso em: maio de 2016.
6 - LEWIS, Jone Johnson. Maria Stewart Facts. 2016 Disponível em:<http://womenshistory.about.com/od/slaveryto1863/a/Maria-WStewart.htm>. Acesso em maio de 2016.
7 - TRUTH, Sojourner. Ain't I A Woman?, 1851. Disponível em: <http://legacy.fordham.edu/halsall/mod/sojtruth-woman.asp>. Acesso em: maio de 2016.
8 - CARASTATHIS, Anna. The Concept of Intersectionality in Feminist Theory. Philosophy Compass, Los Angeles, v. 9, n. 5, p. 306

Departamento de História
9 - CRENSHAW, Kimberlé, op. cit.
10 – Ibidem, p.9.
11 – Idem.
12 – Idem.
13 – Ibidem, p.11.
14 – Ibidem, p.12.
15 – Ibidem, p.13
16 - Ibidem, p.16.
17 - RODRIGUES, Cristiano. Atualidade Do Conceito De Interseccionalidade Para A Pesquisa E Prática Feminista No Brasil. Seminário Internacional Fazendo Gênero 10, Florianópolis, 2013. Disponível em <www.fazendogenero.ufsc.br/10/resources/anais/20/1384446117_ARQUIVO_CristianoRodrigues.pdf> Acesso em Junho de 2016.
18 - Idem.
19 - BAIRROS apud BRITTO, Anhamona Silva. Incluindo a Perspectiva Racial de Gênero no Debate Sobre a Reforma Política. Autonomia Econômica e Empoderamento da Mulher. Brasília: FUNAG, 2011
20 - CARNEIRO, Sueli. Mulheres em Movimento. Estud. av. , São Paulo, v. 17, n. 49, dezembro 2003. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103->. Acesso em abril de 2016
21 - CARNEIRO apud BRITTO, Anhamona Silva, op.cit.
22 - CARNEIRO, Sueli, op. cit.
23 - MELO, Hildete Pererira de; MORANDI, Lucilene; DWECK, Ruth Helena. Mulheres na política: Tecendo redes, escrevendo histórias, transformando a realidade. Rio De Janeiro: Editora alternativa, 2016, p. 17.
24 – Ibidem, p.28.
25 - CARASTATHIS, Anna, op. cit., loc. cit.
26 - MIGUEL, Luis Felipe. Mulheres nos espaços de poder e decisão. Revista do Observatório Brasil da Igualdade de Gênero. Brasília: Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, 2009.
27 - SANTOS apud BRITTO, Anhamona Silva, op. cit.
28 - DAUNE-RICHARD, A.M. Qualificações e representações sociais. IN:Maruani, M. e Hirata,H. (org) As Novas fronteiras da desigualdade: homens e mulheres no mercado de trabalho: São Paulo: SENAC Editora, 2003
29 - NEVES, Magda de Almeida. Desigualdades de gênero e raça no mercado de trabalho: precarização e discriminação salarial. Autonomia Econômica e Empoderamento da Mulher. Brasília: FUNAG, 2011, p. 160.
30 – Ibidem, p.158 .

Departamento de História
31 – Idem.
32 – Ibidem, p. 160.
33 – Ibidem, p. 161.
34 - Idem.
35 – Ibidem, p. 163.
36 - MIGUEL, Luis Felipe, op. cit., p. 142
37 – Ibidem, p.147
38 - Idem.