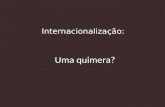A INTERNACIONALIZAÇÃO DO ESTADO NA HISTÓRIA … · Resumo: O debate acerca da...
Transcript of A INTERNACIONALIZAÇÃO DO ESTADO NA HISTÓRIA … · Resumo: O debate acerca da...
Revista Crítica Histórica Ano V, nº 9, julho/2014 ISSN 2177 - 9961
A INTERNACIONALIZAÇÃO DO ESTADO NA HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA: POSIÇÕES DE UM DEBATE CRÍTICO INTERDISCIPLINAR
THE INTERNATIONALIZATION OF THE STATE IN CONTEMPORARY HISTORY: QUESTIONS OF THE CRITICAL INTERDISCIPLINARY DEBATE
Rejane Carolina Hoeveler1
Resumo: O debate acerca da internacionalização do Estado na história contemporânea é interdisciplinar e já se desenvolve desde os anos 1980, renovando-se até hoje, porém, com novas contribuições provenientes de distintas correntes teóricas. As transformações vividas pelo Estado contemporâneo se relacionam tanto com as metamorfoses do capitalismo contemporâneo quanto com as diversas crises que se entrecruzaram ao longo dos anos 1970, a partir das quais se nota um avanço na relevância das organizações internacionais de diversos tipos. No artigo procura-se identificar e debater as proposições das principais correntes críticas que abordaram o problema da internacionalização do Estado, entre elas as dos chamados “neogramscianos” (como Robert Cox e Stephen Gill) e dos “neopoulantzianos” (como Bob Jessop, C. Gorg e U. Brand). Pretende-se problematizar estas classificações, mas ao mesmo tempo identificar as matrizes teóricas comuns a estas correntes, comparando suas hipóteses acerca do problema e também relacionando estudos de caso internacionais de relevância acerca do tema.
Palavras-chave: Internacionalização do Estado; neogramscianos; neopoulantzianos
Abstract: The debate about the internationalization of the state in contemporary history is interdisciplinary and has been developed since the 1980s, renewing itself until today, however, with new contributions from different theoretical perspectives. The transformations experienced by contemporary state relate both to the metamorphosis of contemporary capitalism as with the various crises that crisscrossed over the 1970s, from which we note an improvement in the relevance of international organizations of various kinds. The article seeks to identify and discuss the main propositions of critical currents that have addressed the issue of internationalization of the state, including the so-called "neogramscian" (as Robert Cox and Stephen Gill ) and " neopoulantzians " (as Bob Jessop , C . Gorg and U. Brand). In this article we intend to discuss these classifications, but at the same time identify the common features of these current theoretical frameworks, comparing their hypotheses about the problem and also linking relevant international case studies on the theme.
Key-words: Internationalization of the State; neogramscian; neopoulantzian
1 Mestranda em História contemporânea do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Fluminense (PPGH/UFF) e bolsista da CAPES.
102
Revista Crítica Histórica Ano V, nº 9, julho/2014 ISSN 2177 - 9961
Introdução
É sabido que na disciplina das Relações Internacionais (R.I.) a distinção mais
destacada pela literatura é aquela entre “liberais” e “realistas”, mas reduzir o rico e
heterogêneo debate teórico nas R.I. apenas nestas duas matrizes nos parece um
tanto reducionista. O diálogo entre os historiadores e teóricos de R.I. é por vezes
muito forte, como podemos notar na influência que teve a obra do historiador
Edward H. Carr, Vinte anos de crise.2 Em geral, no entanto, o diálogo tem sido
menos intenso do que poderia.
Um dos debates mais importantes travados entre autores das Relações
Internacionais, cientistas políticos e historiadores nos últimos anos tem a ver com
aquilo que se convencionou chamar de “internacionalização do Estado”. Seria
basicamente o processo através do qual as principais decisões político-econômicas
das nações (o chamado policy-making) são cada vez mais influenciadas pelas
determinações internacionais. É consenso entre os estudiosos que dos anos 1970
aos dias atuais cresceu exponencialmente a importância de organizações
internacionais, públicas e privadas. Mas o seu entrelaçamento entre si e com os
Estados Nacionais é motivo de grande controvérsia teórica interdisciplinar. Teriam
estas organizações sobrepujado o poder do Estado Nacional? Quais são as
transformações pelas quais este Estado passou, e como isto afetou toda a história
do último quartel do século XX, e deste início de século XXI? Estas tendências
vieram pra ficar? Estas são algumas das questões colocadas, que como veremos
são respondidas de diferentes maneiras.
O historiador inglês Eric Hobsbawm não deixara escapar o tamanho do
problema, destacando em sua Era dos Extremos a multiplicação de organizações
internacionais de variados tipos nas décadas de 1970 e 1980. Em suas palavras,
“Quando a economia transnacional estabeleceu seu domínio sobre o mundo, solapou uma grande instituição, até 1945 praticamente universal: o Estado-nação territorial, pois um Estado assim já não poderia controlar mais que uma parte cada vez menor de seus assuntos. Organizações cujo campo
2 CARR, E.H. Vinte anos de crise (1919-1939). Uma Introdução ao Estudo das Relações Internacionais. 2ª Edição. Brasília: Ed. UNB (Instituto de Pesquisas de Relações Internacionais); São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2001.
103
Revista Crítica Histórica Ano V, nº 9, julho/2014 ISSN 2177 - 9961
de ação era efetivamente limitado pelas fronteiras de seu território, como sindicatos, parlamentos e sistemas públicos de rádio e televisão nacionais, saíram portanto perdendo, enquanto organizações não limitadas desse jeito, como empresas transnacionais, o mercado de moeda internacional e os meios de comunicação da era do satélite, saíram ganhando. O desaparecimento das superpotências, que podiam de qualquer modo controlar os Estados-satélites, iria reforçar essa tendência.”3
Na verdade, tornou-se quase um lugar comum a noção de que teria havido
um processo de solapamento das bases dos Estados Nacionais, algo em grande
parte difundido pela chamada “ideologia da globalização” – nesta, algo visto como
intrinsecamente positivo, já que o Estado, nessa visão, é encarado como algo
anacrônico, ultrapassado, e que precisa ser constantemente liberado das correntes
que regulam os mercados globais, especialmente o de investimentos. Por outro lado,
alguns estudiosos que se contrapõem frontalmente a esta ideologia têm procurado
demonstrar o quanto os Estados Nacionais ainda cumprem papéis absolutamente
fundamentais, e que não pode existir sistema capitalista sem Estado. Veremos como
as posições que vão nesse sentido procuram compreender as inegáveis
transformações nos Estados neste período.
É difícil enquadrar o debate acerca da internacionalização dos Estados em
escolas muito coesas e identificadas. O termo foi cunhado pelo conhecido teórico
canadense Robert Cox, mas como veremos adiante, nem mesmo em sua obra fica
muito claro o que se quer dizer com o conceito, embora seus insights tenham
contribuído significativamente para a renovação das abordagens críticas dentro das
Relações Internacionais. Por outro lado, é comum que autores de matrizes teórico-
interpretativas completamente diferentes se utilizem dele, também para falar de
coisas completamente diferentes.
Susan Strange, por exemplo, importante teórica da chamada Economia
Política Internacional (E.P.I), e autora de importantes trabalhos acerca do que ela
chama de “capitalismo de cassino” dos anos 1980 para cá, também versou sobre o
3 HOBSBAWN, Eric. Era dos Extremos. O breve século XX (1914-1991). São Paulo, Companhia das Letras, 1995. p. 413. “A simples necessidade de coordenação global multiplicou as organizações internacionais mais rápido do que nunca nas Décadas de Crise [1970 e 1980]. Em meados da década de 1980, havia 365 organizações intergovernamentais e nada menos que 4615 não-governamentais, ou seja, acima de duas vezes mais que no início da década de 1970.” Idem, p. 419.
104
Revista Crítica Histórica Ano V, nº 9, julho/2014 ISSN 2177 - 9961
tema, mas chegou a conclusões distintas. Em um pequeno artigo intitulado “As
supranacionais e o Estado”,4 Strange afirma existir um paradoxo no fato de que
enquanto a economia se tornou mais entrelaçada e os meios de transporte e
comunicação mais baratos e eficientes, dando início a uma “sociedade mundial”, o
sistema político internacional (no sentido de interestatal) teria se mantido
basicamente inalterado. Segundo Strange, “enquanto a autoridade do Estado tem-se
encontrado sob ataque proveniente de dois campos diferentes, decorrente de dois
tipos distintos de entidades supranacionais ou transnacionais, ao mesmo tempo
ambas as entidades têm, também, contribuído ativamente em prol do poder e
autoridade do Estado.”5 Para a autora, no entanto, a questão giraria apenas em
torno do “aumento” ou “diminuição” do Estado, o que nos parece deixar lacunas
importantes em sua problematização.
Segundo Fred Halliday, o debate nas R.I. desde os anos 1970 sobre Estado
se dividiria basicamente entre aqueles que defendem a primazia do Estado como
ator central das R.I. e aqueles que defendem a emergência de novos atores, não-
estatais. Do primeiro grupo, seriam representantes os “realistas”, e do segundo, os
“transnacionalistas”, mas em ambos predomina a abordagem do Estado “caixa-
preta”, isto é, de uma entidade quase que indecifrável. As R.I., segundo o autor,
passariam assim ao largo de todo o debate sociológico acerca dos determinantes
sociais do Estado, ignorando quase que absolutamente as diversas proposições
marxistas a este respeito.6
De toda forma, na contracorrente das posições hegemônicas nas R.I.,
Strange e Halliday apontam para algo que nos parece incontornável: a centralidade
das transformações capitalistas no período em tela. Sem uma teoria do capitalismo
capaz de abranger suas metamorfoses mais recentes, como a crescente importância
das corporações multinacionais a partir do segundo pós-guerra, tende-se a cair em
visões pouco críticas ou com fraca teorização.
4 Publicado edição brasileira do livro organizado por HALL, John. Os Estados na História. Rio de Janeiro: Imago, 1992.
5 STRANGE, S. “As supranacionais e o Estado”, In. HALL, J. (org.), Op. Cit., p. 423.6 HALLIDAY, Fred. Repensando as relações internacionais. Porto Alegre: EdUFRGS, 1999.
Conferir também como o tema foi discutido pelo próprio Cox, em: BORBA DE SÁ, Miguel; GARCIA, Ana S. ; COX, Robert W. “Overcoming the Blockage: an interview with Robert W. Cox”. Estudos Internacionais: revista de relações internacionais, v. 1, p. 119-336, 2013.
105
Revista Crítica Histórica Ano V, nº 9, julho/2014 ISSN 2177 - 9961
Por esse motivo nosso intuito aqui é focalizar justamente como estas
posições mais críticas, dentro ou fora do marxismo, têm tratado do assunto.
Chamamos a atenção para a diversidade de interpretações possíveis acerca do
assunto, lembrando que aqui estamos levantando aquelas que consideramos mais
relevantes para o entendimento do problema.
Este trabalho está assim dividido em três partes, ambas centradas na
apresentação dos contornos de cada uma das três correntes relativamente
consolidadas com relação ao debate da internacionalização do Estado.
Começaremos por aqueles autores que, já desde os anos 1980, forneceram
contribuição inestimável à renovação crítica nas R.I., a partir do pensamento que
ficou conhecido como “neogramsciano”. Ao abordar essa corrente, procuraremos
retomar a teoria política do filósofo sardo Antônio Gramsci a partir da qual tais
autores constituíram suas hipóteses, além das diferenças parte discorreremos
brevemente acerca da corrente um pouco mais recente que vem a ser conhecida
como “neopoulantziana”, por conta de sua referência central na obra do politólogo
greco-francês Nicos Poulantzas. Aqui caberá mencionar dois importantes estudos de
caso realizados acerca da internacionalização do Estado em dois importantes
episódios: a tentativa fracassada do Multilateral Agreement of Investment (MAI), e a
Convenção sobre a Diversidade Biológica, realizada no contexto da “Rio 92”.
Consideramos que tais estudos fornecem valioso “chão empírico” a partir do qual
refletir acerca da internacionalização do Estado nas proposições desta corrente
teórica. Na terceira parte, discutiremos a contribuição de outra matriz, proveniente
do rico debate alemão acerca do Estado nos anos 1970, e que construiu sua teoria a
partir de um debate com o chamado pensamento regulacionista francês –
abordaremos especificamente o pensamento de Joaquim Hirsch acerca da
internacionalização do Estado. Por fim, teceremos algumas considerações finais
acerca das perspectivas colocadas em relação ao tema hoje.
Gramsci e os “neogramscianos”
Comecemos, pois, pelos principais introdutores do conceito de
“internacionalização do Estado”. É hoje muito difundida a idéia de que as pesquisas
106
Revista Crítica Histórica Ano V, nº 9, julho/2014 ISSN 2177 - 9961
relacionadas ao trabalho de Antonio Gramsci tornaram possíveis inegáveis insights
conceitual-teóricos e empíricos, porém com uma fragilidade teórica geral em relação
ao tema do Estado. Muito embora as reflexões da chamada escola “neogramsciana”
estejam voltadas para debates internos às disciplinas de Relações Internacionais
(R.I.) e de Economia Política Internacional (E.P.I.) – principalmente porque seu
impulso inicial foi o de promover uma crítica ao paradigma neo-realista então
predominante nas R.I. – as análises empenhadas por ela podem ser incorporadas
pelos estudiosos do capitalismo contemporâneo e da História Contemporânea em
geral.
Em primeiro lugar é necessário definir o que está sendo denominado de
“escola neogramsciana”, definição que por si só já carrega controvérsias, já que
alguns dos autores que são assim chamados negam tal classificação. Ficaremos,
para sintetizar, com a definição apresentada por Julian Saurin,7 que delimita a escola
neogramsciana como composta por acadêmicos basicamente de R.I. e de E.P.I., que
fazem sistematicamente o uso de Gramsci em suas análises, de 1981 para cá – a
data se refere à publicação do artigo seminal de Robert Cox (considerado o
fundador da escola) na Revista Millenium, “Social Forces, States and World Orders”.8
Estamos falando de nomes como Kees van der Pijl, Stephen Gill, Mark Rupert, Craig
Murphy, David Law, Barry Gills, Otto Holman e Enrico Augelli, entre outros (Giovanni
Arrighi é considerado como um colaborador, embora apresente, em nossa opinião,
problemática muito distinta; Adam Norton também é um caso excepcional em sua
relação com a “escola”). 9 Todos esses nomes mereceriam análises à parte; porém,
para atender os objetivos aqui almejados, nos restringiremos a dois grandes
representantes de peso: o próprio Robert Cox e Stephen Gill, que é considerado,
7 SAURIN, Julian. “The formation of Neo-Gramscians in International Relations and International Political Economy: neither Gramsci nor Marx”. In. AYERS, Alison J. (ed.) Gramsci, Political Economy, and International Relations. Modern Princes and Naked Emperors. New York: Palgrave-Macmillan, 2008. p. 23-44.
8 COX, Robert. “Social Forces, States and World Orders: Beyond International Relations Theory.” Millennium: Journal of International Studies, v. 10, n.2, 126—155, 1981.
9 Preferiremos não adotar a denominação “nova escola italiana”, por sua total imprecisão, já que apenas um italiano, Enrico Augelli, pode efetivamente ser considerado parte desta perspectiva. A Universidade de York, em Toronto, no Canadá, é mais significativa em termos de membros (Cox e Gill), mas a “corrente” também tem presença na Escola de Relações Internacionais de Amsterdã e em diversas outras universidades britânicas e norte-americanas, como Newcastle, Sussex, Siracusa, entre outras.
107
Revista Crítica Histórica Ano V, nº 9, julho/2014 ISSN 2177 - 9961
depois de Cox, uma das maiores referências da “escola”.10
A partir da matriz gramsciana, “intelectual orgânico” é entendido como aquele
vinculado a um projeto político de classe ou fração de classe; “hegemonia” trata da
forma de dominação social baseada numa relação equilibrada entre coerção e
consenso; e “bloco histórico” é a ligação orgânica entre a estrutura e superestrutura,
ou seja, uma relação dialeticamente determinada entre o Estado (entendido num
sentido amplo, e não apenas de aparelho estatal) e as formas da produção social
(que inclui formas ideológicas e culturais).
Hoje são conhecidas as passagens nas quais Gramsci se colocava questões
da relação de forças a nível internacional (Caderno 13, § 2); ou nas quais aplicava
ao nível internacional sua famosa distinção entre “grande política” (“questões
relacionadas com a estrutura relativa de cada Estado nos confrontos recíprocos”) e
“pequena política” (por exemplo “questões diplomáticas que surgem no interior de
um equilíbrio já constituído e que não tentam superar aquele equilíbrio para criar
novas relações”).11
Alguns autores, como Julian Saurin, defendem a impossibilidade de aplicar o
conceito de hegemonia à esfera internacional, com o argumento de que o conceito
de hegemonia em Gramsci é intimamente ligado ao de Estado, que é, por sua vez,
Estado Nacional.12 Porém, se considerarmos a definição de hegemonia
prioritariamente como a relação (não dicotômica e nem binária) entre coerção e
consenso, torna-se, em nossa opinião, perfeitamente possível, com as devidas
precauções teóricas, utilizar este conceito para analisar a situação internacional.
Criticando fortemente tanto o paradigma do neorealismo, predominante nos
estudos sobre as relações internacionais, quanto o que chamaram de um marxismo
“economicista” e “determinista”, os neogramscianos chamaram a atenção para o
papel de instituições, aparelhos privados de hegemonia e de intelectuais orgânicos
10 Para uma discussão crítica no Brasil, ver os trabalhos do cientista político Rodrigo Passos, por exemplo: PASSOS, Rodrigo D. F. “Gramsci e a teoria crítica das relações internacionais”. In Revista Novos Rumos, Vol. 50, No 2, 2013. Disponível em: http://www2.marilia.unesp.br/revistas/index.php/novosrumos/article/viewFile/3462/2681. (acessado em 20 de novembro de 2013).
11 GRAMSCI, Antonio. Cadernos do Cárcere. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007. Vol. 3, p.22.
12 SAURIN, J, Op. Cit.
108
Revista Crítica Histórica Ano V, nº 9, julho/2014 ISSN 2177 - 9961
na (re)construção da hegemonia americana e na constituição do cenário para a
aplicação das políticas neoliberais, em meio à crise do keynesianismo, nos anos
1970.
Como já nos referimos, foi Cox13 quem primeiro introduziu o conceito de
internacionalização do Estado: por um lado, sob a liderança de um Estado
hegemônico globalmente ou de uma aliança de forças políticas e econômicas, certas
responsabilidades atribuídas ao Estado seriam externalizadas e redefinidas dentro
da estrutura de regimes internacionais. Por outro, essas mudanças envolvem uma
reorganização da regulação nacional-estatal, desde que, em vista das mudanças
das relações de poder, as relações de peso mútuas entre Estados particulares
teriam se modificado.
Cox identifica basicamente três componentes da internacionalização do
Estado. Primeiro, existiria um processo de formação de consenso interestatal com
relação às necessidades ou condições da economia mundial que toma lugar dentro
de uma estrutura ideológica comum. Segundo, a participação nesse consenso seria
hierarquicamente estruturada. Terceiro, as estruturas internas de Estados seriam
ajustadas de forma que cada uma possa transformar melhor o consenso global em
política e prática nacional. Para Cox a internacionalização do Estado é definida
então pela conversão do Estado em uma agência para ajustar as práticas e políticas
econômicas nacionais às exigências percebidas da economia global. Esta noção
joga luz sobre a profunda articulação contemporânea entre as instituições e
determinações do capital transnacional, em especial a forma como é elaborada e
posta em prática a policy-making dos Estados Nacionais, ressaltando os
mecanismos pelos quais as tomadas de decisão macroeconômicas dos Estados são
construídas internacionalmente, pelas elites dominantes.14
13 COX, Robert. Production, Power and World Order: Social Forces in the Making of History. New York: Columbia University Press, 1987.
14 Segundo o cientista político Alvaro Bianchi, “sua aproximação [de Cox] de Gramsci destaca-se na medida em que sua apropriação do conceito de hegemonia lhe permite compreender não apenas a hegemonia de uma nação sobre outras, como também a de uma classe ou fração sobre outras. Para tanto evita a redução do conceito à esfera da ideologia, articulando as dimensões sociais, econômicas e político-ideológicas da vida social”. BIANCHI, A. “Estratégia do contratempo: notas para uma pesquisa sobre o conceito gramsciano de hegemonia”. In. Cadernos Cemarx, Campinas, v. 4, p. 9-39, 2007. (disponível em: http://www.ifch.unicamp.br/ojs/index.php/cemarx/article/viewFile/1278/856). (acessado em 13 de agosto de 2012).
109
Revista Crítica Histórica Ano V, nº 9, julho/2014 ISSN 2177 - 9961
Uma ideia central presente em Cox, e que foi seguida por autores como o
teórico Stephen Gill, é que, a partir de meados dos anos 1960, teria se constituído
uma fração de classe capitalista transnacional, composta pelos setores mais
internacionalizados do capital, especialmente aqueles ligados às finanças. Esta
fração teria dado suporte (com o trabalho de suas organizações, aparelhos e
intelectuais) a um bloco histórico transnacional. Este bloco histórico transnacional
teria sido construído ao longo dos anos 1970, concomitantemente à crise do “bloco
histórico internacional” que teria caracterizado o segundo pós-guerra (para Cox, um
mix de socialdemocracia, compromisso de classe em uma “economia mista”
baseada na acumulação fordista, e comércio internacional crescente, sob a
liderança dos EUA, entre os anos 1940 e 1950, e que teria durado até pelo menos o
fim dos anos 1960).15
O sociólogo norte-americano William I. Robinson, também tributário da noção
de uma “classe capitalista transnacional”, afirma claramente que a
internacionalização do Estado converte Estados-Nação em “correias de
transmissão” e “dispositivos de filtragem” (filtering devices) para a imposição da
“agenda transnacional”; e que a função do Estado estaria mudando da formulação
de políticas nacionais para a administração de políticas formuladas por essa elite
transnacional atuante através de instituições supranacionais. Neste papel, o Estado-
Nação contribuiria para a acumulação global de capital de várias formas: adotando a
política fiscal e monetária necessária para manter estabilidade econômica, criando
infraestrutura básica para a atividade econômica global, e provendo controle e
estabilidade social.16
Em contraste com o período do capitalismo fordista, a hegemonia não seria
mais exercida por um único Estado-Nação, os EUA. Na era “pós-fordista”, a
15 De acordo com Gill, o conceito gramsciano de bloco histórico refere-se àquelas situações em que existe um alto grau de congruência política entre as relações de força, dentro das quais existem três níveis de consciência, o econômico-corporativo, o da solidariedade de interesses e o político-militar. Encontramos em Gill a definição mais precisa de que o bloco histórico é, para Gramsci, o link orgânico entre a estrutura e a superestrutura (ao contrário, por exemplo, da interpretação de Portelli, que define o bloco histórico como um “bloco de alianças”). GILL, American Hegemony and the Trilateral Commission. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. p. 45. Bianchi identifica a origem desse último equívoco em: BIANCHI, A. O laboratório de Gramsci. Filosofia, História e Política. São Paulo: Alameda, 2008. p.137-138.
16 ROBINSON, W. “Gramsci and globalization”: from nation-state to transnational hegemony. In. BIELER & MORTON (eds.). Images of Gramsci. London/New York: Routledge, 2006.
110
Revista Crítica Histórica Ano V, nº 9, julho/2014 ISSN 2177 - 9961
transformação neoliberal das sociedades nacionais e do sistema internacional teria
se tornado a estrutura ideológica dominante para as regulações políticas –
culminando no famoso “consenso de Washington” de 1989 – através de uma rede
internacional, a “classe gerencial transnacional”.
Em geral, no entanto, o conceito de internacionalização do Estado permanece
um tanto vago. O próprio Cox define o processo como “nebuloso”, como uma
constelação que emergiu de dentro de uma nebulosidade ideológica, na qual as
elites estão crescentemente orientando seus pensamentos e comportamento para o
mercado mundial. Então, de acordo com esta tendência, o Estado é basicamente
interpretado no sentido de um sistema político-institucional que opera como uma
correia de transmissão das constelações de poder internacional dentro das
sociedades nacionais.
A partir daí, teria se constituído algo como uma “sociedade civil internacional”,
uma rede ligada por instituições orgânicas e que atua politicamente dentro (mas
para além) dos âmbitos nacionais. Para Cox, seria possível localizar também
indícios da constituição de uma sociedade política internacional. A crise da
hegemonia americana nos anos 1960 e 1970, segundo o autor, teria provocado a
necessidade de uma nova e modificada estrutura institucional, que se refletiu no
esforço de organização de fóruns como a Trilateral Commission ou os Western
Economic Summit Meetings. Essa “crise de hegemonia” (novamente é explícita a
referência a Gramsci) teria gerado a busca pela construção de um novo consenso
hegemônico, que teria que refletir necessariamente não apenas o peso da Alemanha
e do Japão, mas também o crescimento do capital transnacional, assim como levar
em conta a ascensão de certas nações recentemente industrializadas.17
O seminal trabalho de Stephen Gill sobre a Trilateral Commission trouxe uma
série de questões para a elucidação da atuação política internacional desse
denominado “capital transnacional”. Gill dedica grande parte de seu estudo a refutar
17 Na análise de Gill, a profunda recessão do fim dos anos 1970 e início dos anos 1980 paradoxalmente facilitou a retomada da hegemonia americana, pois embora ela tenha sido mais forte nos próprios EUA, sua capacidade de recuperação era maior. A metáfora gramsciana de “aliança orgânica” (estrutural) – entre EUA, Europa Ocidental e Japão – ajudaria a explicar a firmeza do Império americano dos anos 1970 para cá. GILL, Stephen. Op. Cit. Sobre o trilateralismo, ver também a contribuição pioneira da cientista política norte-americana Holly Sklar: SKLAR, Holly (org.) Trilateralism: managing dependence and democracy. Boston: South and Press, 1980.
111
Revista Crítica Histórica Ano V, nº 9, julho/2014 ISSN 2177 - 9961
o mito do fim da hegemonia americana, ideia que contaminou boa parte das visões
marxistas durante os anos 1970, e que foi predominante entre os neo-realistas.
Nesta argumentação, ele critica, com base em Robert Brenner, a perspectiva dos
adeptos do “sistema-mundo” (principalmente em Immanuel Wallerstein e Giovanni
Arrighi), por entenderem a hegemonia como algo cíclico e que já estaria numa fase
de inevitável decomposição. De acordo com Gill, nos anos 1970 houve uma crise de
hegemonia internacional, a qual teria envolvido uma transformação estrutural na
natureza da ordem político-econômica do pós-guerra, e que não foi apenas
decorrente da crise econômica. Aplicando as categorias gramscianas às relações
internacionais, o autor concluiu que a Trilateral Commission representava, do ponto
de vista da burguesia internacional, o estágio mais avançado de sua “consciência de
classe”, já em seu momento propriamente político (e não apenas econômico-
corporativo ou de solidariedade de interesses, na diferenciação de Gramsci)18. Por
este motivo, esta entidade privada teria cumprido o papel de liderança na formação
de um novo bloco histórico mundial, atuando como verdadeiro “partido” desta fração
de classe, não apenas produzindo ideologias, mas organizando a hegemonia desta
fração.19
Como vimos até agora, ainda que nos restringindo a apenas alguns autores, a
chamada escola neogramsciana trouxe aportes teóricos consideráveis para a
análise das relações interestatais na história contemporânea, e contribuiu também
com estudos empíricos de relevância para embasar suas hipóteses. Vejamos agora
como argumentam os críticos dessa escola.
De acordo com o cientista político “neopoulantziano” C. Gorg, as
insuficiências da abordagem neogramsciana estariam pelo menos em três noções:
primeiro, na definição de “forças sociais”; segundo, na definição de Estado; e
terceiro, em relação às relações recíprocas entre os espaços nacionais. Para Gorg,
18 GRAMSCI, Op. Cit., §17, Caderno 13. 19 GILL, Stephen. Op. Cit.. A Trilateral Commission começou a ser formulada já nos extertores
da década de 1960, porém só seria formalmente fundada em 1973, a partir de quando foi se consolidando como uma das iniciativas mais bem sucedidas de organização de interesses do capital transnacional, tendo como primeiro grande balanço político a eleição de “Jimmy” Carter para a presidência dos EUA, em 1976. Reunia mais de 200 consórcios capitalistas de várias partes do mundo e tinha significativa inserção em alguns importantes meios acadêmicos nos EUA, Inglaterra, Alemanha Ocidental e Japão. Ela era a diretamente ligada ao “projeto anos 80” do famoso Council of Foreign Relations (CFR).
112
Revista Crítica Histórica Ano V, nº 9, julho/2014 ISSN 2177 - 9961
um importante insight de Gramsci é que, primeiramente, a dominação não pode ser
entendida somente como uma estratégia de sucesso e a produção do consenso de
cima, mas também como uma relação social abrangente e, também, como relação
de forças.20
Segundo, para Gorg, a fixação das abordagens neogramscianas com os
processos na sociedade civil efetivamente significa que as classes são
analiticamente privilegiadas em relação aos Estados. Consequentemente, os
trabalhos neogramscianos seriam caracterizados por um “duplo funcionalismo” com
relação ao Estado. Por um lado, a internacionalização do Estado seria interpretada
como um complemento à internacionalização da produção, a qual, como Cox
argumenta, representa acima de tudo um consenso ideológico assim como uma
forma institucional coerente. Por outro lado, as instituições políticas internacionais e
organizações são vistas mais ou menos como “instrumentos” das classes
dominantes e suas estratégias.
Argumenta-se também que a introdução da política neoliberal no nível nacional
não foi sempre conseqüência da formulação de um consenso internacional mas em
si um pré-requisito e um importante fundamento deste consenso. Quando Cox
mesmo chamou este consenso de algo “nebuloso”, a razão para este problema
empírico seria que a transformação do Estado-Nação era na verdade uma pré-
condição necessária ao consenso internacional. Esta transformação teria incluído
pelo menos dois pontos: novos compromissos sociais e de classe no nível nacional,
moldando política nacional em direção ao livre mercado, e modificações nas
relações de poder entre diferentes elementos do aparelho de Estado, especialmente
pelo poder crescente dos bancos centrais e dos ministérios de finanças dos países.
Nesta interpretação crítica, Cox e cia. teriam assim caído num dos “mitos da
globalização” – em especial, a noção de que ela é algo de fora das economias
20 GORG, C. “The internationalization of the State and the example of biological diversity”. In. GORG, C & BRAND, U. Global environmental politics and competition between nation-states. On the regulation of biological diversity. In: Review of International Political Economy v.7, n.3, p.371-398, 2000. Segundo Ana Garcia, haveria uma coisa em comum a Cox a Poulantzas, que seria “uma distinção subjacente entre natureza do Estado, formas de Estado e função do Estado”. GARCIA, Ana Saggioro. A internacionalização de empresas brasileiras durante o governo Lula: uma análise crítica da relação entre capital e Estado no Brasil contemporâneo. Tese de doutorado em Relações Internacionais – IBRI. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 2012.p.183.
113
Revista Crítica Histórica Ano V, nº 9, julho/2014 ISSN 2177 - 9961
nacionais trabalhando apenas como uma coerção externa. Na verdade, a
globalização não seria algo de fora das fronteiras nacionais – como aparentaria
apenas da perspectiva de cada Estado-Nação – mas algo que é produzido por uma
transformação societal dentro das sociedades nacionais, uma transformação societal
que em sua visão é interpretada como a transição do fordismo ao pós-fordismo.
Para Gorg, seguindo aqui Gramsci, a hegemonia não pode ser reduzida ao
exercício do poder ou dominação. Como hegemonia tem a ver com a habilidade de
orientação política ela inclui também a habilidade de compromisso e de levar
diferentes interesses em consideração; dentro de cada país e a nível internacional,
não apenas ideologicamente, mas também materialmente.21 (Esta habilidade para o
compromisso estaria cada vez mais fora da perspectiva do governo dos EUA,
especialmente depois de 2001, e por isso estaríamos presenciando, hoje, uma nova
crise de hegemonia internacional).
Segundo Pinar Bedirhanoglu22, a proposta de Cox acerca da
“internacionalização do Estado” foi criticada tanto por representantes da corrente
conhecida como Open Marxism23, quanto por marxistas influenciados por outras
tradições (como a de Polantzas e Miliband), especialmente pelo também canadense
Leo Panitch.
Panitch também critica a subestimação do Estado e a forma “de fora pra
dentro” de pensar este fenômeno, na qual processos internacionais têm efeitos nos
processos nacionais, tornando o Estado uma correia de transmissão passiva ou
numa espécie de “vítima” de processos internacionais. Desta forma, o autor procura
21 Na visão de Gorg, a teoria de Poulantzas não poderia ser diretamente conectada com a de Gramsci, já que o primeiro subestima a importância da sociedade civil, no sentido de auto-organização social, concentrando-se mais no aparelho do Estado. Mesmo com todas as críticas, no entanto, Gorg não nega a existência de uma sociedade civil internacional, mas alega que uma transposição produtiva da noção gramsciana de sociedade civil pressuporia o entendimento de uma sociedade (global), e de fato, a sociedade civil internacional não seria um setor intermediário, mas uma relação internacional de forças societais. Como o terreno onde a hegemonia é disputada, a sociedade civil internacional seria ao mesmo tempo o objeto e o meio da luta. GORG, Op. Cit.
22 BEDIRHANOGLOU, P. “The State in neoliberal globalization: the merits and limits of Coxian conceptions”. In. AYERS, Alison J. (ed.), Op. Cit.
23 Grupo que se reuniu em torno das revistas Arguments (1958–62); Common Sense (1987–99), e The Commoner (criada em 2001). O grupo tinha influências diversas como Isaac Rubin até autores do chamado “marxismo autonomista”; nos anos 1970 e 1980 os open marxists debateram as teses “derivacionistas” no grupo Kapitalistate, baseado em São Francisco, EUA. Alguns nomes associados ao Open Marxism são John Holloway, Simon Clarke e Peter Brunham.
114
Revista Crítica Histórica Ano V, nº 9, julho/2014 ISSN 2177 - 9961
reiterar o papel central e constitutivo dos Estados no capitalismo com base em sua
função, atribuída por Poulantzas, de mediação entre os interesses conflitantes das
distintas frações do capital. A intervenção metodológica de Panitch redefiniu o
Estado como uma fonte da mudança em si, isto é, um sujeito da mudança (a serviço
dos interesses e diretamente, pelas próprias classes dominantes), e não apenas,
como aparece em Cox, um objeto desta.
Nas palavras de Panitch,
a realização – ou frustração – das tendências globalizantes do capitalismo não pode ser compreendida independentemente do papel exercido pelos Estados que historicamente constituíram o mundo capitalista.24
De acordo com Panitch, o que teria acontecido nos anos 1970 seria que os
Estados da Europa, dos EUA e do Japão teriam aceitado a responsabilidade de criar
as condições internas necessárias para sustentar a acumulação mundial; não
estavam portanto desaparecendo, mas “somando responsabilidades”.25 Desde
então, o papel dos Estados em relação às crises não é mais preveni-las e sim contê-
las dentro de certos limites. Neste ponto o papel do Estado norte-americano teria
demonstrado enorme capacidade em limitar a duração, a profundidade e o contágio
das crises.
Panitch incorpora a expressão internacionalização do Estado, mas com
algumas ressalvas.
Como parte da diferenciação entre as esferas econômica e política, capitalistas particulares estenderam seu alcance de atividades para além das fronteiras territoriais de seus respectivos Estados. Enquanto os Estados freqüentemente encorajaram e deram suporte aos capitalistas para fazer isso, existiu sempre uma dimensão especificamente nacional no processo de internacionalização capitalista. E conforme a interação com o capital externo afetava as forças sociais domésticas, isso em troca contribuiu para gerar a combinação de pressões internas e externas através das quais os Estados passaram a aceitar uma certa responsabilidade pela reprodução do
24 PANITCH, L. “Capitalismo global e Império norte-americano”. In Socialist Register em espanhol. Clacso, 2004. p. 24. (disponível em: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/social/2004pt/03_panich.pdf) (acessado em 09 de dezembro de 2013).
25 PANITCH, Op. Cit., p. 43.
115
Revista Crítica Histórica Ano V, nº 9, julho/2014 ISSN 2177 - 9961
capitalismo internacionalmente. (…) é basicamente neste sentido que podemos propriamente falar da ‘internacionalização do Estado’.26
Como se vê, Panitch e Gorg desenvolvem uma abordagem bastante crítica às
proposições dos chamados “neogramscianos”, e o fazem a partir de uma
perspectiva poulantziana, a qual discutiremos a partir de agora.27
Poulantzas e os “neopoulantzianos”
É num pequeno artigo denominado “The internalization of capitalist relations
and the Nation-State” que Poulantzas desenvolvera alguns pontos que nos
interessam diretamente no debate da “internacionalização” do Estado.28
Cabe notar antes de tudo que, para o autor, o que caracteriza a produção na
atual fase do imperialismo (estamos falando de início dos anos 1970) seria a
constituição, sob uma mesma propriedade econômica, “real” (a qual ele distingue da
“propriedade legal formal”), de um complexo de unidades de produção com
processos de trabalho integrados através de vários estabelecimentos espalhados
por vários países.29 Muito embora a interpenetração de capitais fosse desde o início
uma tendência do estágio imperialista, somente agora ela teria dado um salto
qualitativo, configurando uma verdadeira internacionalização do capital. Essa
internacionalização do capital seria marcada: 1. Pelo desenvolvimento de bases de
exploração de um capital particular (ou de vários capitais em combinação) em
diversas nações; e 2. Pela tendência à combinação, sob uma única propriedade
econômica, de capitais provenientes de diferentes países; e 3. Pela dominância
decisiva do capital norte-americano.30
Segundo Poulantzas,
26 PANITCH &GINDIN. The making of global capitalism. The Political Economy of American Empire. London/New York: Verso, 2012. p. 4. Tradução livre.
27 Para outras interpretações críticas, ver AYERS, Alison J. (ed.) Op. Cit. 28 POULANTZAS, Nicos. “The internationalization of capitalist relations and the Nation-State”.
In. Economy and Society. vol. 3 (1974), pp. 145-79. (Disponível em The Poulantzas Reader: http://ouleft.org/wp-content/uploads/Poulantzas_Reader_Marxism,.pdf) (acessado em 27 de outubro de 2013) Por limitações de espaço, não discutiremos como Poulantzas teorizou sobre o Estado ao longo de sua obra. Cabe, no entanto, marcar que sua concepção do Estado sempre se pautou por uma idéia de “autonomia relativa” do Estado perante as classes dominantes. Ver POULANTZAS, Nicos. O Estado, o poder, o socialismo. Rio de Janeiro: Graal, 2000.
29 Idem, p.233.30 Idem, p. 234.
116
Revista Crítica Histórica Ano V, nº 9, julho/2014 ISSN 2177 - 9961
“A corrente internacionalização do capital nem suprime nem curto-circuita os Estados nacionais, nem no sentido de uma integração pacífica de capitais ‘sobre’ os Estados, com cada processo de internacionalização trabalhando sob a dominância de determinado país (...). Mas, de outro ângulo, essa internacionalização tem um profundo efeito nas formas políticas e institucionais destes Estados por sua inclusão num sistema de interconexões as quais não estão de forma alguma limitadas à interação de pressões ‘exteriores’ e ‘recíprocas’ entre Estados e capitais justapostos. Os Estados mesmos assumem responsabilidade pelos interesses do capital imperialista dominante em seu desenvolvimento estendido verdadeiramente dentro da formação ‘nacional’ (...). Este sistema de interconexões não tende à constituição de formas ou instâncias ‘supra-nacionais’ ou ‘super-estatais’. Isto pode ser o caso se isto fosse uma questão de uma internacionalização num contexto de Estados justapostos com relações externas que teriam que ser suplantadas. Ao contrário, o sistema é fundado em uma reprodução induzida da forma do poder imperialista dominante em cada formação nacional e seu próprio Estado.”31
Para Poulantzas, os Estados engajar-se-iam em assumir a responsabilidade
pelos interesses do capital dominante de forma direta, através de subsídios públicos
diretos e indiretos. A forma correntemente dominante de contradições
interimperialistas não seria aquela entre “capital internacional” e “capital nacional”,
nem entre burguesias imperialistas entendidas como entidades justapostas.
Ora, argumenta Poulantzas, se o Estado existente das metrópoles
imperialistas é modificado na medida em que retrai sua natureza enquanto um
Estado nacional, isso seria, do mesmo modo, devido ao fato de que o Estado não é
uma mera ferramenta ou instrumento das classes dominantes, a ser “manipulado” à
vontade, com todo o estágio da internacionalização do Estado automaticamente
provocando uma “supranacionalização” de Estados. O Estado, enquanto aparato de
unidade de uma formação e de reprodução de suas relações sociais, concentra e
compendia as contradições de classe da formação social como um todo, ao
sancionar e legitimar os interesses das classes e frações dominantes em face de
outras classes da formação, ao mesmo tempo em que assume as contradições de
classe mundiais.
Para Poulantzas, a relação Estado-Nação é mantida porque a nação
conservaria sua própria existência com respeito às formas nacionais da luta de
classes em toda a complexidade de sua determinação – uma unidade econômica,
31 Idem, p.244. Tradução livre.
117
Revista Crítica Histórica Ano V, nº 9, julho/2014 ISSN 2177 - 9961
territorial, lingüística, simbólico-ideológica ligada a uma “tradição”. Dito isto,
entretanto, o autor nota algumas distensões manifestadas entre Estado e Nação,
mas não no sentido geralmente dito pela tese da “supranacionalização” do Estado.
Em suas palavras,
“Não é a emergência de um novo Estado sobre as nações que estamos testemunhando mas sim rupturas na unidade nacional subjacente aos Estados nacionais existentes. Fenômeno do regionalismo e ressurgimento de nacionalidades mostram que a internacionalização do capital traz à tona cisões na nação tal como historicamente constituída, mais do que a supranacionalização do Estado”.32
Determinar uma “fragilidade” dos Estados perante as “gigantes
multinacionais” seria, portanto, falhar em reconhecer não apenas que o Estado não
possui poder próprio mas também que ele intervém nessa concentração de maneira
decisiva. A dominância do Estado corresponderia ao crescimento considerável das
funções econômicas do Estado que são absolutamente indispensáveis à reprodução
ampliada do grande capital.
Vejamos agora como os estudiosos hoje conhecidos como “neopoulantzianos”
se utilizam desse arcabouço conceitual, em distintas interpretações.
Professor da Universidade de Viena, Ulrich Brand é autor de tese segundo a
qual a internacionalização do Estado é uma forma de reconstituição da hegemonia. 33
Segundo ele, na crise do modelo fordista de desenvolvimento durante os anos 1970,
esta internacionalização, com diversas facetas, se tornou a estratégia hegemônica e
o projeto hegemônico da burguesia nos centros capitalistas. A globalização do
capitalismo é, então, não somente um processo econômico, mas está intimamente
ligado aos desenvolvimentos político-institucionais.
Isso significaria primeiramente o crescimento, a nível internacional, da
importância de um “aparato de Estado” internacional; e isto se refere àqueles já
existiam previamente (Banco Mundial, FMI, OTAN, e União Européia), a outros que
foram remodelados (do Gatt ao WTO), e também aqueles que apenas foram criados
recentemente (por exemplo, acordos ambientais). Isso não quer dizer, entretanto, a
32 Idem, p. 250-251. Tradução livre.33 BRAND, U. “The internationalization of the state as the reconstitution of hegemony”. IPW
Working Paper No. 1/2007. Institut für Politikwissenschaft Universität Wien. Disponível em http://politikwissenschaft.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/inst_politikwiss/IPW_Working_Papers/IPW-Working-Papers-01-2007-Brand.pdf. (acessado em 20 de janeiro de 2014)
118
Revista Crítica Histórica Ano V, nº 9, julho/2014 ISSN 2177 - 9961
suposta emergência de um “Estado global”, que estaria gradualmente alcançando
mais e mais autonomia em relação aos Estados nacionais (como seria o caso de
Hardt e Negri)34. Ao contrário, o autor sustenta que esse aparato mantém fortes
laços com os Estados nacionais, “especialmente com aqueles que são potências,
como os EUA”.
A partir do conceito poulantziano de “condensação de segunda ordem”, Brand
vai defender a tese do “Estado internacionalizado” como uma “condensação de
relações societais de forças de segunda ordem”. Os aparatos de Estado
internacional (international state apparatuses, ou INSTA, na sigla em inglês), como
“dispositivos de poder numa rede transnacional”, seriam partes de uma complexa
rede, instável e assimetricamente estruturada, a qual é materializada em formas
específicas. A fixação de diferentes conflitos sociais, assim como
intergovernamentais, seria a principal forma de movimento das políticas
internacionais.
A metáfora para a condensação de relações societais de forças de segunda
ordem não se referiria a uma hierarquia do internacional sobre as políticas nacionais
ou vice-versa. Ao contrário, o ponto é que interesses particulares nos Estados
nacionais se condensam, dentro de relações específicas de forças, em políticas
estatais, as quais seriam sempre integradas dentro de constelações de poder
internacionais (“condensações de primeira ordem”).
Os INSTA não seriam centralizados, embora organizados e institucionalizados
em certas maneiras; eles seriam especializados e especificamente políticos, porque
suas funções seriam tornadas permanentes através de leis e regras, assim como
distribuídas através de diferentes áreas e formalmente separadas do poder
econômico. Ao mesmo tempo, os INSTA possuiriam “sua própria densidade e poder
de resistência” vis-à-vis os poderes societais globais.
A densidade seria também produzida pelo fato de que as formas e conteúdos
das controvérsias políticas inseridas nos INSTA, de um lado, corresponderiam
essencialmente às constelações de poder existentes a dado momento entre os
países, classes, gêneros e grupos étnicos e, por outro lado, tornariam essas
34 HARDT, M. & NEGRI, A. Império. Rio de Janeiro: Record, 2001.
119
Revista Crítica Histórica Ano V, nº 9, julho/2014 ISSN 2177 - 9961
constelações perduráveis no tempo. As condições dos processos de negociação
tensa, e a composição de regras e implementação de políticas seriam estabelecidos
dentro dos INSTA. Desta maneira, formas de política são moldadas, assim como
seletividades estruturais e estratégicas, e existiria uma determinação de prioridades
e uma filtragem de medidas. Sob condições que estão dinamicamente mudando,
seria possível, assim, determinar o caráter da transformação, de executar mudanças
em canais regulares e então, promover hegemonia.
Os INSTA individuais, tanto organizações como acordos ou regimes,
manteriam uma relação de mútuo suporte e complementação, mas às vezes até
uma relação de competição, e, no total, elas permaneceriam em uma relação
mutuamente assimétrica na forma de uma rede. As políticas internacionais, neste
sentido, seriam elas mesmas um resultado das relações inerentes de forças e
contradições nos aparatos internacionais. Os últimos constituiriam a estrutura
material do Estado e seriam reproduzidas – também num nível internacional –
dentro do Estado. Ou seja: as tensões e contradições das diferentes forças seriam
expressas por tensões e contradições dentro dos diferentes aparatos.
A coexistência de diferentes instituições, as quais seriam por vezes
competentes ou feitas responsáveis para a mesma área, seria uma estratégia de
poder adotada por atores políticos em atendimento a seus interesses. Atores
estatais nacionais influentes poderiam mudar o terreno, por exemplo, no caso de
que um problema seja inconvenientemente “politizado”, por exemplo – esse
processo é chamado de “mudança de fórum” (forum-shifting). Para Brand, na
verdade, não existiria uma hegemonia internacional no sentido (neo)gramsciano, daí
falar de uma “hegemonia fragmentada”.
Não podemos, entretanto, terminar este ponto sem nos referirmos a um
conhecido nome hoje desta matriz “neopoulantziana”, o politólogo inglês Bob
Jessop, autor de extensa obra acerca da teoria do Estado. Muito embora Jessop se
posicione ao lado da teoria poulantziana, ele afirma também que Poulanztas teria
caído numa espécie de “reducionismo de classe”, vacilando na tentativa de antecipar
120
Revista Crítica Histórica Ano V, nº 9, julho/2014 ISSN 2177 - 9961
mudanças decorrentes da internacionalização do capital.35
Em relação à análise da internacionalização do Estado, brevemente discutida
por nós anteriormente, Jessop retoma os argumentos de Poulantzas contrários à
idéia de que, decorrente desta internacionalização viria um superestado ou uma
“supranacionalização” dos Estados. Não vamos repeti-los aqui.36 O fato é que, diante
daquelas análises, Jessop tece três comentários críticos. O primeiro seria que
Poulantzas teria dedicado pouca atenção aos processos de trabalho, focalizando
exclusivamente a relação entre propriedade econômica e posse, caindo assim num
reducionismo de classe. Em segundo lugar, Poulantzas, ao discutir a autonomia
relativa do Estado, teria caído num enfoque excessivamente funcionalista, limitando-
a às tarefas de organizar as classes dominantes e desorganizando as dominadas,
“derivando o poder efetivo do Estado da correlação mutável das forças políticas de
classe”.37
Em relação à análise empírica do imperialismo, Jessop argumenta que
embora haja uma dominação do capital e do Estado norte-americanos, os capitais
europeus e leste-asiáticos continuariam a competir com o norte-americano e agora
os conflitos internos aos blocos de poder nacionais da Europa refletiriam “laços
estruturais e conjunturais com o Leste asitático bem como com os capitais norte-
americanos e com os demais capitais europeus.”38
As demais transformações do Estado apontadas por Jessop estão mais ou
menos apontadas em Gorg e como veremos também em Hirsch, não sendo
necessário retomá-las aqui, sendo mais importante agora passar a exemplos mais
concretos do que seriam estes processos.
35 JESSOP, Bob. “A globalização e o Estado Nacional”. In. Crítica Marxista, São Paulo, Xamã, v. 1, tomo 7, p. 9-45, 1998. Nas palavras de Jessop, apesar de grandes avanços, “Poulantzas continuou preso à economia política marxista clássica. E isto porque as suas análises tinham como premissas o papel em última instância determinante do modo de produção no que concerne a todos os aspectos da organização societal, a primazia da contradição fundamental entre capital e trabalho e o poder diretor da luta de classe proletária na transição para o socialismo.” Idem, p. 12.
36 Idem, p. 16-21.37 Idem, p. 26.38 Idem, p. 26. “As formas através das quais a relativa superação da defasagem entre poder
econômico e posse está sendo realizada são mais complexas, mais flexíveis, mais assemelhadas a uma rede e mais internacionais que aquelas antecipadas por Poulantzas durante a crise emergente do fordismo atlântico.” Idem, p. 27.
121
Revista Crítica Histórica Ano V, nº 9, julho/2014 ISSN 2177 - 9961
Estudos de caso acerca da internacionalização do Estado: o MAI (Multilateral Agreement of Investment) e a Convenção sobre a Diversidade Biológica
Localizamos dois interessantes estudos de caso que demonstram como se
dá, na prática, o tão debatido processo de “internacionalização do Estado”, o que
talvez sirva para entender melhor de que tipo de fatos se está tratando. O primeiro é
o estudo realizado pelo sociólogo americano Daniel Egan sobre o caso o Multilateral
Agreement of Investment (MAI), tentativa fracassada de desenvolver no âmbito da
OCDE um amplo acordo internacional que visava uma liberalização sem
precedentes de investimentos.39 O segundo, do já citado C. Gorg,40 é a Convention
on Biological Diversity (CBD), (ou, Convenção sobre a Diversidade Biológica) que
derivou diretamente da Rio 92 e existe até hoje. Comecemos pelo MAI.
Desde 1976 a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico, OCDE, tinha estabelecido um set de padrões voluntários para o
comportamento de multinacionais em países hospedeiros. Em 1995, ela chamou por
um forte e amplo acordo de investimento que removeria restrições na movimentação
global de capital. As negociações começaram em setembro de 1995 e seriam
completadas em maio de 1997, mas este deadline foi adiado para maio de 1998 e
depois para outubro do mesmo ano, quando os encontros de negociação de
ministros da OCDE foram suspensas indefinidamente. O rascunho do MAI proibia
discriminações contra investidores estrangeiros através do uso de tratamento
nacional. Os Estados membros estariam, por exemplo, proibidos de expropriar ou
nacionalizar investimentos estrangeiros, “ao menos não em bases discriminatórias”.
Segundo Egan, o rascunho do MAI refletia uma estratégia legal e política dos
maiores Estados capitalistas para separar o capital dos constrangimentos de
accountability política disponíveis a forças populares ao nível do Estado-Nação, por
mais limitados que pudessem ser. Ao invés de um processo determinado pela
ascensão de uma classe capitalista transnacional, a internacionalização do Estado é
39 EGAN, Daniel. Global capitalism and the internationalization of the State: some lessons from the defeat of the Multilateral Agreement on Investment (MAI). Paper apresentado na International Conference on The Work of Karl Marx and Challenges for the XXI Century, Havana, Maio de 2003. Disponível na Biblioteca Virtual da Clacso, em: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/cuba/if/marx/documentos/22/Global%20capitalism%20and%20the%20internationalization.pdf. (acessado em 17de novembro de 2014).
40 GORG, C. Op. Cit.
122
Revista Crítica Histórica Ano V, nº 9, julho/2014 ISSN 2177 - 9961
vista por Egan como produto da agência de administradores estatais e seus aliados
corporativos e profissionais.
Até aí, o MAI poderia parecer refletir o modelo do conceito de
internacionalização do Estado dos neogramscianos, no sentido de expressar um
consenso entre Estados capitalistas avançados para crescente liberalização de
movimentação de capital, e isso preconizava certamente uma dramática mudança
nas funções do Estado-Nação em direção à proteção e expansão do capital global.
No entanto, o fracasso em criar um novo regime de investimento supranacional
sugeriria que a internacionalização não é um processo inevitável. O
descarrilhamento do MAI teria sido, para Egan, resultado de conflitos hegemônicos
dentro do bloco histórico e entre o bloco histórico e as forças sociais subordinadas.
Vejamos como.
A própria definição do fórum apropriado ao acordo gerou problemas desde o
início. Como os países europeus tinham fortes bancadas parlamantares que se
oporiam, cogitou-se inicialmente que as negociações fossem realizadas no âmbito
da World Trade Organization (WTO), que tinha maior representação em número de
países; mas este também poderia sofrer de países pobres que refutariam ou ao
menos denunciariam a liberalização. Os EUA, que não tinham o mesmo problema
de oposição política à liberalização institucionalizada, teriam então forçado a
utilização da OCDE como o fórum adequado para o MAI.
Alguns países como Austrália e Canadá discordavam de cláusulas do acordo
para proteger negócios nacionais de serem tomados em massa por compradores
estrangeiros. A França finalmente se retira das negociações em outubro de 1998.
Embora o fato de que as negociações fossem secretas impedisse maiores
demonstrações de oposição, em fevereiro de 1997 o rascunho foi vazado e postado
na internet, o que fez com que a OCDE tivesse que considerar as posições de
algumas ONGs internacionais como a Friends of the Earth, a Third World Network e
a Public Citizen, ao menos informalmente, e fez com que se acrescentasse no
rascunho do tratado expressões como “responsabilidade social corporativa” e
“consistente com o desenvolvimento sustentável” – o que acabou se tornando
motivo de deboche generalizado.
123
Revista Crítica Histórica Ano V, nº 9, julho/2014 ISSN 2177 - 9961
Além disso, entre os maiores entusiastas do acordo (por exemplo a US
Council for International Nusiness, a Union of Industrial and Empluyers
Confederation of Europe, a International Chamber of Commerce e a japonesa
Keidanren) começou a haver dúvidas se o acordo atingiria seus objetivos. Portanto,
esses três tipos de conflitos – entre Estados membros da OCDE, entre OCDE e
forças sociais subordinadas, e por fim entre a OCDE e importantes elementos do
capital multinacional – revelaram a natureza contraditória do bloco hegemônico
transnacional, demonstrando assim que a internacionalização do Estado, tal como
compreendida pelo “materialismo histórico transnacional” não seria algo irresistível e
sim um processo de embates contínuos.
O segundo estudo de caso, de autoria de C. Gorg, analisa as principais
determinações do CDB, a Convenção sobre a Diversidade Biológica, fruto da Rio 92.
Segundo Gorg, as transformações societais como as que ocorrem no que é
chamado de transição ao “pós-fordismo” estão sempre conectadas com
transformações de suas relações com o meio ambiente. No atual contexto, mais do
que nunca, a procura pelo “ouro verde dos genes”, direcionada ao controle e
aplicação dos recursos genéticos, continuaria a ser uma das mais dinâmicas e
importantes áreas de conflito na relação pós-fordista com a natureza. Para Gorg, o
problema ambiental global e a chamada “perda de diversidade biológica”, estariam
fortemente conectados com este conflito sobre a apropriação dos recursos
genéticos, principalmente porque a “diversidade da vida” representa aqui o input
essencial, a matéria-prima das novas biotecnologias. Em contraste com esses elos
entre “economia” e “ecologia”, a perda de diversidade biológica estaria ainda
largamente entendida somente como um problema ambiental global. Seguindo este
entendimento, a CDB é vista como um exemplo claro de arquitetura de “governança
global”, principalmente por ter levado à formação de um regime ambiental
internacional. Gorg demonstra o desenvolvimento de todos os processos
característicos da “internacionalização do Estado” nas negociações da CDB. Senão,
vejamos.
Primeiro, o enquadramento das negociações em compromissos sociais. A
“modernização ecológica” ou “desenvolvimentismo verde” teria sua própria elite
124
Revista Crítica Histórica Ano V, nº 9, julho/2014 ISSN 2177 - 9961
global, calcada na figura do “gerente de recursos global”. Esta classe de gerentes de
recursos globais consistiria em membros de governos, organizações internacionais
como Banco Mundial e ONGs, bem representados também em esforços como a
“Iniciativa de biocomércio” da UNCTAD, de 1997. Aqui, também, a chamada
“privatização da política” tem lugar, pois através dessa iniciativa, estabeleceu-se que
ONGs e outras companhias, trabalhando como intermediários, estão habilitadas a
“ajudar” os países a estabelecer regras e material legal para criar mercados globais
para os recursos genéticos – evidentemente, nada disso é feito de forma
“desinteressada” ou neutra.
Paradoxalmente, segundo Gorg, junto com o fato de que não haveria “real”
soberania, a validação legal da soberania nacional seria ao mesmo tempo
importante para estabelecer mercados globais para recursos genéticos. Neste nível,
não haveria contradição entre soberania nacional e internacionalização de regimes
políticos. Mais do que isto: ambos aspectos da internacionalização do Estado – a
crescente coordenação internacional e a transformação do Estados nacionais –
passam a ser compreendidas como pré-condição para a valorização dos recursos
genéticos. Ambos seriam partes importantes da constituição da diversidade biológica
como recurso para exploração capitalista, principalmente pelo interesse existente na
busca por regras e procedimentos legais constituintes de mercados. Devido aos
altos custos da pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, a “indústria da Vida”
estaria ela mesma interessada em segurança legal e de planejamento; o
estabelecimento de leis, neste sentido, não seria necessariamente contrário ao
interesse do capital. E, por outro lado, também existe a necessidade de proteção às
relações capitalistas de propriedade numa área em que até então não existiam
relações de propriedade. E para isto é imprescindível a força do Estado nacional.
A CBD, como todos os INSTA (ver item anterior) estaria permeada de conflitos
e contradições; seria, portanto, um campo permanente de conflitos. Entre estes
sistemas de regulação existe uma porção de tensões; duas delas são destacadas
pelo autor: a questão da patenteabilidade dos recursos genéticos, e os direitos das
populações tradicionais. Gorg analisa brevemente como estas duas tensões se
deram na CDB, demonstrando assim que os aparelhos do “Estado internacional” não
125
Revista Crítica Histórica Ano V, nº 9, julho/2014 ISSN 2177 - 9961
estão imunes a conflitos, muito embora, ao contrário do MAI, esse regime tenha se
consolidado.
As perspectivas “neogramsciana” e “neopoulantziana” não são, no entanto, as
únicas a pensarem o problema da internacionalização do Estado. Também uma
vertente alemã, a partir de uma espécie de síntese de elementos teóricos de
Gramsci, de Poulantzas e também da bastante heterogênea vertente “regulacionista”
francesa, procurou dar uma interpretação original a este fenômeno.
Joaquim Hirsch e os regulacionistas
Para discutir a questão da internacionalização do Estado, Hirsch situa que a
constituição histórica do moderno sistema de Estados – que como se sabe, se
estabelece na chamada Paz de Westfalia – não se deu de forma isolada. No debate
recente acerca da “globalização” e daquilo que alguns autores denominaram “Estado
global”, o autor afirma que uma pergunta central passou a ser: a existente
multiplicidade de Estados é estrutural ao capitalismo, ou se constitui acontecimento
histórico “casual”? 41 Para responder a esta questão, formulou-se, por exemplo, a
tese de que a ordem estatal seria crescentemente suplantada por complexas redes
estatal-privadas, e, ao invés da direção hierárquica-burocrática, haveria “sistemas de
negociação” com cada vez maior participação de atores estatais e não-estatais
(naquilo que ficou conhecido como “governance” substituindo o “government”).42
De acordo com o balanço de Hirsch, de um lado estaria a idéia de que aquela
“ordem de Westfália” estaria em dissolução, e consequentemente não restaria muito
do Estado Nacional tal como o conhecemos. De outro lado, estaria a posição que
reafirma o sistema nacional estatal, apenas com algumas modificações decorrentes
da mera adaptação da estrutura estatal tradicional às novas condições técnico-
econômicas. Para Hirsch, ambas as respostas a este problema têm sido
insuficientes, e muitas das análises apresentadas padecem por “generalizar
tendências isoladas e omitir contradições”, em sua maior parte, equívocos
41 HIRSCH, Joaquim. Teoria materialista do Estado. Rio de Janeiro: Revan, 2010. p.69.42 Idem, p. 172.
126
Revista Crítica Histórica Ano V, nº 9, julho/2014 ISSN 2177 - 9961
decorrentes de uma fraca teorização sobre o Estado.
Em suma, o autor tende a concordar com a idéia de que a multiplicidade de
Estados “não caracteriza apenas uma fase histórica determinada, mas representa
um traço básico da forma política capitalista e uma das condições essenciais de sua
preservação e de seu desenvolvimento”43. Ressalva, porém, que é necessário
distinguir entre Estado Nacional e Estado territorial isolado – distinção que no idioma
inglês se faz entre “nation state” e “national state”.
Cabe aqui uma citação mais completa acerca da argumentação de Hirsch.
“O motivo para a multiplicidade de Estados representar um traço constitutivo do capitalismo, e não uma manifestação histórica casual, consiste em que as contradições e as oposições sociais presentes no modo de socialização capitalista, isto é, os antagonismos de classe e a concorrência, não apenas manifestam-se na ‘separação’ do Estado frente à sociedade, como também são simultaneamente produzidos pela concorrência entre os Estados. O sistema de Estados é uma expressão estrutural das relações capitalistas de classe e de concorrência. Elas reproduzem nele e determinam seus conflitos e dinâmicas de desenvolvimento. Recordemos mais uma vez: a determinação formal do político expressa na ‘autonomia relativa’ do Estado permite que a sociedade capitalista, caracterizada por contradições e conflitos básicos, possa manter-se. Considerando o reverso, a ‘separação’ do Estado é a base decisiva do ‘fetiche estatal’, ou seja, da representação de que no Estado se corporifica uma ‘vontade geral’ colocada acima de relações sociais de desigualdade, de exploração e de domínio. O decisivo então é que a implantação e a preservação dessa forma pressupõem a delimitação de cada Estado, com suas relações de classe e seus compromissos institucionalizados, frente aos demais. Em um Estado global, isso não seria possível e o fetiche do Estado não poderia ser eficaz, fazendo com que faltasse uma base decisiva de legitimação das relações existentes. O argumento poderia indicar que um Estado capitalista mundial é abstratamente pensável, mas, por princípio, ele deveria colocar em questão a permanência do modo de produção e de socialização capitalista. Na realidade, existem condições estruturais e relações de força – concorrência e antagonismos de classe que tornam tal desenvolvimento altamente improvável.”44
Outro efeito importante do sistema de Estados seria que, pelo sistema
interestatal, os membros das classes em concorrência recíproca podem estabelecer
oposições com as respectivas classes localizadas nos outros Estados. Disso decorre
a possibilidade, muito concreta, da formação de coalizões que transcendam as
classes.45 O cerne da resposta de Hirsch à questão se relaciona com a distinção
43 Idem, p. 175.44 Idem, p. 70-71.45 Idem, p. 72. Grifo do autor.
127
Revista Crítica Histórica Ano V, nº 9, julho/2014 ISSN 2177 - 9961
entre a forma política burguesa e a forma institucional que esta assume: os
processos de transformação não implicariam no fim do Estado e do sistema
interestatal, mas em uma nova configuração, a qual, embora preserve o traço
fundamental da ordem capitalista, ganha contornos qualitativamente diferentes.
Toda a teoria de Hirsch está baseada nas teses regulacionistas de “regime de
acumulação” e “modo de regulação” – o primeiro, entendido como o conjunto de
técnicas de produção, organização do trabalho, formas de extração do mais-valor e
relações entre os setores de produção; e o segundo, como a rede de instituições e
normas políticas que regulam e permitem a reprodução do regime de acumulação.
Nesse sentido, o Estado regula, mas ao mesmo tempo é objeto da regulação.
Acumulação e regulação, na visão de Hirsch, formariam uma unidade contraditória,
possuindo dinâmicas próprias. Dessa forma explica-se, por exemplo, a possibilidade
de que o desenvolvimento de um novo regime de acumulação não mais corresponda
a determinado modo de regulação levado pelo passado, como seria aliás o caso do
fordismo e do pós-fordismo.
As “crises seculares” do capitalismo constituiriam os momentos nos quais se
ativam mais fortemente as lutas ideológicas e nas quais se criam as condições para
a ascensão de um ou outro projeto hegemônico. A crise dos anos 1970 teria
constituído justamente um desses momentos. A relação entre essas duas
dimensões, em esfera internacional, constituiria o que os regulacionistas chamam de
“regulação internacional”. O modo de regulação internacional do fordismo, por
exemplo, estaria calcada nas instituições de Bretton Woods.46
Nesse sentido, a internacionalização dos Estados, entendida enquanto
internacionalização do próprio aparelho de Estado, mas também como
“diversificação dos níveis e das funções estatais de natureza sócio-espacial”,47 seria
conceito adequado para sintetizar esses processos de transformação, desde que
entendido nesses marcos.
46 Em relação ao imperialismo, Hirsch pontua que “diferentemente da teoria clássica do imperialismo, da teoria do sistema-mundo, ou da teoria da dependência, o enfoque da regulação não conceitua o sistema global capitalista como uma relação espacial e temporal fixa de dominação e subordinação manejada desde um centro (...), mas o concebe como uma rede variável de contextos de acumulação e regulação nacional-regionais que se encontram e oposição entre si, mas estando ao mesmo tempo vinculados.” Idem, p.124.
47 Idem, p. 175.
128
Revista Crítica Histórica Ano V, nº 9, julho/2014 ISSN 2177 - 9961
As características básicas deste processo seriam, em primeiro lugar, a
dependência ainda mais forte de cada aparelho estatal frente aos mercados
internacionais de capital e de dinheiro, o que submete os Estados a uma rígida
disciplina monetária. Em segundo lugar, a flexibilização do fluxo internacional de
capital conduziria ao incremento da pressão sobre o Estado para condições cada
vez mais otimizadas para a valorização. Em terceiro, a redução da capacidade de
intervenção estatal, marcada tanto pela fragmentação sócio-espacial, com o
aumento das disparidades regionais intra-estados, quanto pelo significado crescente
dos entrelaçamentos econômicos que atravessam as fronteiras estatais. Quarto,
uma tendência à “privatização da política”, com a importância crescente dos atores
privados tanto no plano da formulação da política quanto no plano de sua
implementação. E quinto, a internacionalização de regulamentações políticas que
superariam a capacidade dos Estados singulares, nas quais a perda do espaço de
ação do Estado é compensada pela formação de blocos.
Por fim, estaria havendo o surgimento de uma “classe capitalista empresarial
internacional”, “composta pelos funcionários das empresas, pelo pessoal dos
aparelhos estatais e organizações transnacionais, mas também por cientistas e
representantes das organizações não-governamentais existentes”48. No entanto,
para Hirsch, isso não significaria o surgimento de uma “classe capitalista
transnacional”, independente dos Estados, tal como aparece em parte da literatura
aqui mencionada, pois “a relação concorrencial capitalista se reproduz no plano do
sistema de Estados e das organizações internacionais sob novas formas, gerando
conflitos permanentes”.49
Desse modo, o capital continuaria dependendo essencialmente da atuação do
Estado, mas agora se apoiaria de forma diferente nas estruturas dos Estados
internacionalizados, que teriam, aliás, sua importância acentuada para proporcionar
infra-estrutura social, técnica e econômica, para regular as relações de classe, para
a legitimação das relações dominantes, para garantir certa coesão social e para
limitar a circulação da força de trabalho.
48 Idem, p.178.49 Idem, p. 179.
129
Revista Crítica Histórica Ano V, nº 9, julho/2014 ISSN 2177 - 9961
Considerações finais
Vimos como algumas correntes críticas no campo das R.I., e das ciências
sociais em geral, têm tratado do importante tema da internacionalização
contemporânea do Estado Nacional. Procuramos localizar esse conjunto bastante
heterogêneo de autores dentro de algumas correntes de pensamento que, de um
ponto de vista crítico, têm se preocupado em teorizar e realizar estudos empíricos
acerca desse complexo processo. Pudemos observar que todas essas correntes têm
valiosas contribuições para pensar sobre o tema, mas também carregam lacunas ou
inconsistências teóricas.
Os neogramscianos enfatizam a utilização de conceitos como hegemonia e
bloco histórico para caracterizar a ascensão de uma fração de classe transnacional,
que para eles estaria no centro do processo de internacionalização do Estado; já os
neopoulantizanos reafirmam a importância dos Estados Nacionais, que teria na
verdade aumentado, com esse processo. Ambos concordam, no entanto, não só
com o uso do termo “internacionalização do Estado”, mas que existe um processo
complexo com relação às funções e ao papel dos Estados no sistema internacional
que vem se desenvolvendo dos anos 1970 até o presente. Estaria esse problema já
bem respondido pela literatura especializada? Até certo ponto muito já se avançou,
mas ainda existem lacunas importantes neste debate, por exemplo com relação ao
papel crescente de potências regionais. Isso de deve ao fato de que a maioria das
teorias que tomaram o assunto por objeto tinha por foco os EUA e a Europa, sendo
pouco trabalhadas as questões relativas ao chamado “Terceiro Mundo”. Delinear
como esse fenômeno é tratado teoricamente na literatura internacional é, no entanto,
passo imprescindível para compreender qualquer caso específico, e esse foi nosso
propósito nesse artigo.
Referências bibliografias
AYERS, Alison J. (ed.) Gramsci, Political Economy, and International Relations. Modern Princes and Naked Emperors. New York: Palgrave-Macmillan, 2008.BIANCHI, A. “Estratégia do contratempo: notas para uma pesquisa sobre o conceito
130
Revista Crítica Histórica Ano V, nº 9, julho/2014 ISSN 2177 - 9961
gramsciano de hegemonia”. In. Cadernos Cemarx, Campinas, v. 4, p. 9-39, 2007.______________. O laboratório de Gramsci. Filosofia, História e Política. São Paulo: Alameda, 2008. p.137-138.BIELER & MORTON (eds.). Images of Gramsci. London/New York: Routledge, 2006.BORBA DE SÁ, M.; GARCIA, A. S.; COX, R. W. “Overcoming the Blockage: an
interview with Robert W. Cox”. In. Estudos Internacionais: revista de relações internacionais, v. 1, p. 119-336, 2013.
COX, Robert. Production, Power and World Order: Social Forces in the Making of History. New York: Columbia University Press, 1987._____________. “Gramsci, hegemony and International Relations: an essay on method”. Millenium, v. 12, n. 2, p. 162-175, 1983.EGAN, Daniel. Global capitalism and the internationalization of the State: some lessons from the defeat of the Multilateral Agreement on Investment (MAI). Paper apresentado na International Conference on The Work of Karl Marx and Challenges for the XXI Century, Havana, Maio de 2003.GARCIA, Ana Saggioro. A internacionalização de empresas brasileiras durante o governo Lula: uma análise crítica da relação entre capital e Estado no Brasil contemporâneo. Tese de doutorado em Relações Internacionais - IBRI. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 2012.GILL, Stephen (org.) Gramsci, Materialismo Histórico e Relações Internacionais. Rio de Janeiro: Edufrj, 2007.GORG, C & BRAND, U. “Global environmental politics and competition between nation-states. On the regulation of biological diversity”. In: Review of International Political Economy, v. 7, n. 3, 2000.GRAMSCI, Antonio. Cadernos do Cárcere. Volume 3. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007.HALL, John. Os Estados na História. Rio de Janeiro: Imago, 1992.HALLIDAY, Fred. Repensando as relações internacionais. Porto Alegre: EdUFRGS, 1999.HIRSCH, Joaquim. Teoria materialista do Estado. Rio de Janeiro: Revan, 2010.HOBSBAWN, Eric. Era dos Extremos. O breve século XX (1914-1991). São Paulo, Companhia das Letras, 1995.JESSOP, Bob. “A globalização e o Estado Nacional”. In. Crítica Marxista, São Paulo, Xamã, v. 1, tomo 7, p. 9-45, 1998.PANITCH &GINDIN. The making of global capitalism. The Political Economy of American Empire. London/New York: Verso, 2012.PASSOS, Rodrigo D. F. “Gramsci e a teoria crítica das relações internacionais”. In Revista Novos Rumos, Vol. 50, nº 2, 2013.POULANTZAS, Nicos. “The internationalization of capitalist relations and the Nation-State”. In. Economy and Society. vol. 3, p. 145-79,1974.__________________. O Estado, o poder, o socialismo. Rio de Janeiro: Graal, 2000.SKLAR, Holly (org.) Trilateralism: managing dependence and democracy. Boston: South and Press, 1980.SOUZA, H. O capital transnacional e o Estado. Petrópolis: Vozes, 1985.
131